entrevista
João Ferreira
No Queer Lisboa "há um pensamento mais profundo e um engajamento diferente" sobre a temática

O Queer Lisboa está de regresso, entre 20 e 28 de setembro, ao Cinema S. Jorge e à Cinemateca Portuguesa. O programa deste ano tem como foco a Resistência Queer em zonas de conflito ou em Estados governados pela extrema-direita. São ainda apresentadas várias estreias nacionais, debates, conversas e uma retrospetiva dedicada ao artista e realizador americano William E. Jones. O diretor do festival, João Ferreira, conversou connosco sobre o que mudou ao longo destes anos e revelou-nos também alguns dos principais destaques desta 28.ª edição.
O Queer celebra 28 anos e muito mudou desde então, nomeadamente as questões queer estarem presentes em quase todos os festivais de cinema. Qual o impacto desta nova realidade na produção e programação do festival?
Acima de tudo, limita as opções. Há muitos distribuidores que não querem que um filme, mesmo sendo queer, seja exibido num festival queer. Acham que isso marca o filme e acreditam que de alguma forma pode prejudicar o seu percurso. A importância de haver um festival queer prende-se com a forma como nós olhamos para este cinema, o único a que estamos totalmente dedicados. Há por isso, obviamente, uma componente política e social, um olhar que é completamente diferente. É verdade que a questão queer e os objetos culturais que a ela estão ligados e que são disseminados, não só noutros festivais mas também na televisão, têm uma qualidade e um cuidado cada vez maior, mas isso, para mim, reforça ainda mais a nossa importância enquanto festival. Porque, muitas vezes, o que acontece nos outros festivais e nas plataformas que programam também estes objetos culturais é que o fazem mais por uma questão de moda, para não ficarem de fora das questões de que se fala atualmente. No festival Queer há um pensamento mais profundo e um engajamento diferente.
Considera que faz sentido dizer-se que existe cinema/género queer?
O que o cinema queer tem de particular é o facto de se cruzar com todos os géneros cinematográficos, e isso é uma enorme riqueza. Quando olhamos para a história do cinema, desde a sua origem, conseguimos apontar estas questões. Nessa altura, não podemos falar num cinema queer em termos políticos, porque a motivação e também a liberdade que existiam eram muito diferentes. Mas faz sentido perceber a intenção com que se parte para fazer um filme e essa intenção, quando lá está, faz desse filme, um filme queer. Aí podemos falar do cinema queer enquanto género. Depois há também, obviamente, todo um trabalho de leitura, principalmente quando olhamos para a história do cinema e para os grandes clássicos, que é um trabalho que também temos vindo a fazer ao longo destes quase 30 anos: olhar e ver como é que estas questões estavam ali representadas. Questões que, muitas vezes, para o público da altura não eram óbvias, ou só o eram para um público queer que compreendia aqueles sinais. Esse cinema acabou por ser uma forma de resistência.
A temática deste ano é, precisamente, a Resistência Queer, com a apresentação de filmes e produções de partes do globo em conflito ou onde os direitos LGBTQI+ são ameaçados. Podemos afirmar que o Festival de Cinema Queer tem sido, ao longo de todos estes anos, uma forma de resistência?
Arrisco dizer que qualquer evento cultural deste país é sempre um ato de resistência. E, quando ligado às questões queer ainda mais. Há uma coisa muito curiosa no nosso festival, é que somos o primeiro festival de cinema em Lisboa. E isto é muito raro acontecer, uma capital ter como primeiro festival de cinema, um de cinema Gay e Lésbico. No início houve um acolhimento grande das instituições porque havia uma enorme curiosidade. Que festival é este? Que cinema é este? Quem são estas pessoas? Havia essa curiosidade, até mediática, de descobrir quem é vai ao festival. Depois obviamente atravessámos também uma série de questões políticas, de cortes de subsídios, quer da parte de governos ou da Câmara de Lisboa, e nesse aspeto há sempre um trabalho de resistência. Atravessámos também uma série de lutas políticas da comunidade LGBTQI+, vivemos isso tudo e foram sempre momentos de luta que tentámos incorporar no festival. Quisemos que o festival fosse uma voz para essas lutas, refletindo isso no próprio cinema que escolhíamos exibir.

Dentro deste eixo temático é exibido o programa Foggy: Palestine Solidarity, Cinema & The Archive, uma iniciativa das plataformas Cinema Política e Queer Cinema for Palestine. De que forma a solidariedade para com a situação dramática na Palestina se relaciona com a temática queer?
Há pouco falava da questão do olhar queer. O olhar queer tem uma componente comunitária e uma componente, muito forte, ligada aos direitos humanos. Nesse aspeto, o programa Resistência Queer que apresentamos é muito importante porque oferece uma visão não só sobre a questão da Palestina, mas também sobre outros países e zonas de conflito. Procuramos perceber como é que é possível viver e criar neste ambiente. Vamos falar, obviamente, sobre a Ucrânia e sobre a extrema-direita, mais precisamente no caso da Hungria. Também sobre outros casos de países divididos, como o Kosovo e a questão com a Sérvia. O objetivo é tentar compreender, em primeiro lugar, como é que os artistas, preferencialmente destes países, olham para os conflitos e como é que isso se reflete na sua vivência pessoal e também na criação artística.
Há ainda um programa de curtas dedicadas à realidade queer na Ucrânia e a exibição de longas-metragens de Chipre e Hungria. Quais os desafios de trazer ao festival obras que têm origem em países onde há conflito e discriminação de pessoas LGBTQI+?
Na Ucrânia, é relativamente fácil chegar aos filmes, a comunicação é fácil, são realizadores e realizadoras que circulam e que vão aos festivais, que apesar de tudo, conseguem ter essa visibilidade. Os filmes que vamos apresentar são, na maioria, feitos debaixo do conflito, focam o que se está a passar lá neste momento. Se falarmos de países como a Hungria, também se fazem filmes queer, o problema muitas vezes é a visibilidade. São filmes que precisam dos outros países, que precisam de circular para terem visibilidade. Porque, obviamente, há uma enorme censura no país e há um problema de financiamento que impede a produção. Este programa que o festival apresenta é muito engraçado, porque é um programa de um cinema que podemos definir como “faça você mesmo”, ou seja, de filmes que se conseguem fazer com meios muito escassos.
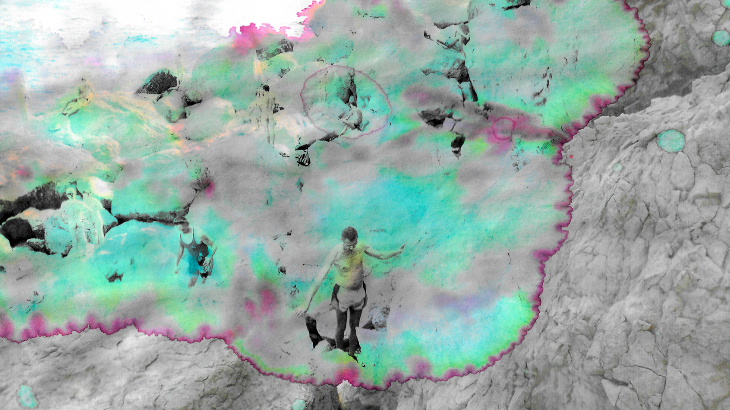
Para além deste lado político, que novidades ou momentos destaca da programação?
Esta vai ser uma das maiores edições destes últimos anos. Vamos ter, para além deste programa da Resistência Queer, uma retrospetiva muito extensa do William E. Jones, que é um realizador e artista plástico norte-americano, de Los Angeles. É um realizador muito interessante que vai buscar uma série de estéticas, que nos são até bastante familiares, do leste europeu. Trabalha essencialmente com arquivo e utiliza arquivos de vigilância policial dos anos 1950, de propaganda norte-americana, mas também de propaganda do bloco soviético europeu. Outros dos seus focos é a pornografia, a pornografia pré-SIDA nos Estados Unidos e a pornografia depois da queda do muro de Berlim. Mistura todos estes elementos e dá-lhes uma leitura queer. É um cineasta absolutamente fascinante.
Vamos ter uma programação paralela que vai dar também lugar a alguns debates sobre as questões de género, que estiveram tão em voga ultimamente por causa da publicação de um livro, de pessoas ligadas à direita e à extrema-direita. Vamos falar sobre questões muito específicas ligadas à gentrificação, problema que neste momento se vive em Lisboa e nas nossas cidades, e perceber como isso afeta e como está a destruir as próprias comunidades. Vamos ter, na abertura, um filme de Cannes [Baby, do cineasta brasileiro Marcelo Caetano]… Aliás, temos vários títulos que conseguimos do último festival de Cannes, e vamos ter um filme que vai ser uma surpresa para muita gente, um filme incrível, chamado Call Me Agnes, uma produção holandesa, cuja protagonista é uma mulher trans de origem timorense e que será um excelente fecho de programação.

O público do festival é um público heterogéneo? Tem mudado ao longo dos anos?
Desde o início que o festival sempre teve um lado muito heterogéneo. Quando nasceu estava integrado na associação ILGA e, obviamente, havia uma componente comunitária grande e uma participação da comunidade, mas estamos a falar de 1997, uma realidade completamente diferente da que vivemos hoje, mesmo em termos associativos. Agora há dezenas de associações ligadas a diferentes expressões e que lutam pelos seus direitos, pelas suas expressões individuais e do grupo. Claro que o público foi mudando ao longo dos anos, porque o cinema também foi mudando. Neste momento temos acesso e temos um tipo de programação completamente diferente da que tínhamos há três anos. Temos muito pouca programação comercial, porque o que se faz em termos de cinema queer mais comercial são filmes que vão sobretudo para as plataformas, ou seja, que não chegam sequer ou fazem muito pouco circuito de festival. Mas temos um leque de escolha enorme e o festival, progressivamente, foi-se voltando muito mais para o cinema independente, para um cinema mais marginal, embora também trabalhemos esse outro cinema, porque há coisas de muita qualidade e pertinência. Tentamos que o festival abarque tudo isso. Mas sim, diria que o público sempre foi um público muito heterogéneo. A certa altura, talvez há uns 10 anos, começa a haver um público muito jovem. Isto tem a ver um bocadinho com a sociedade e com o público universitário, um público que começa a formar as tais associações e que começa a ter outro tipo de vida política e de ação cívica.