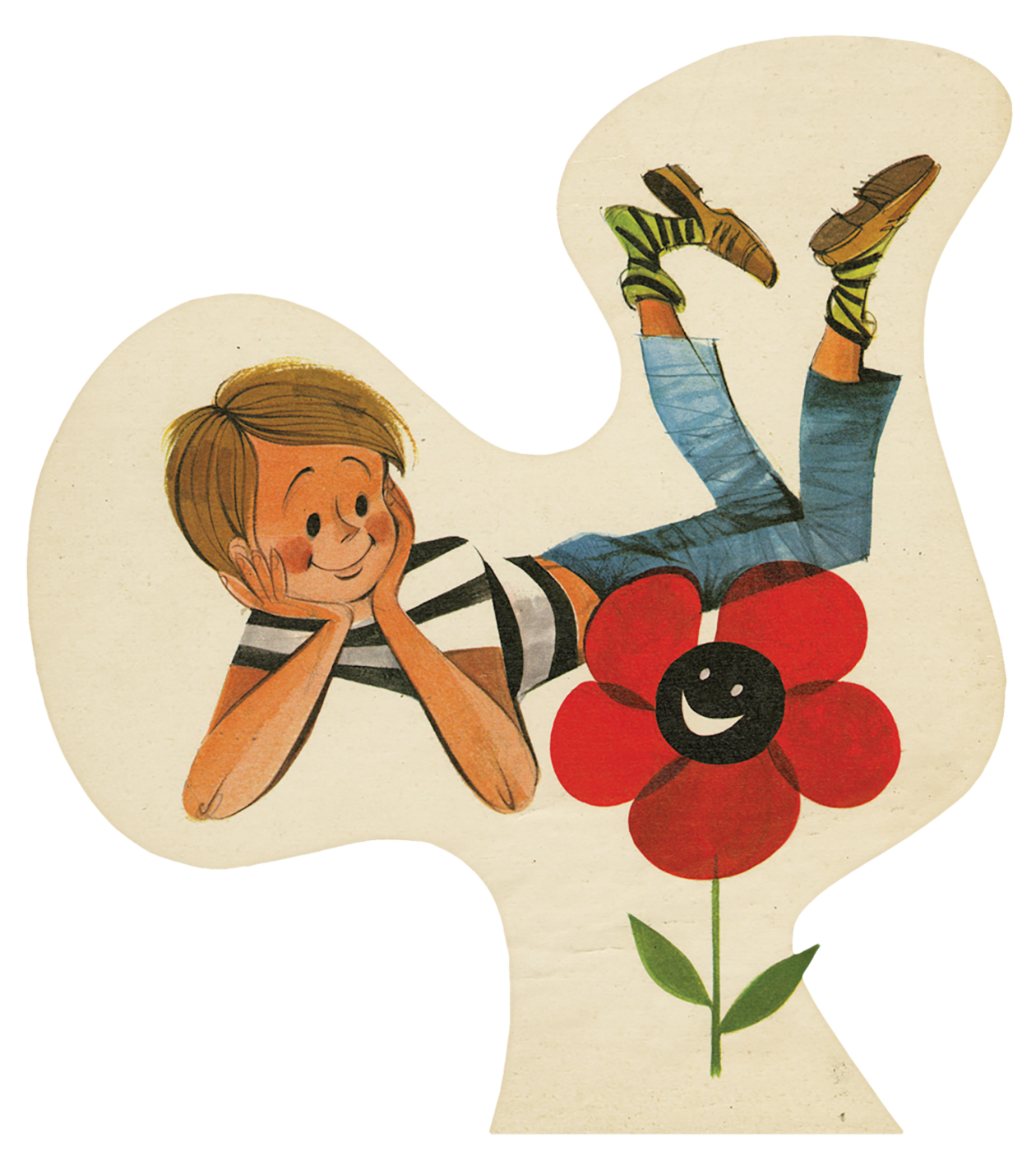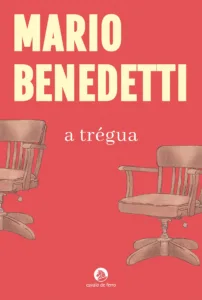Depois de já ter sido dirigido por Sérgio Graciano em O Protagonista (2019), O Som que desce da Terra (2021) e Homens de Honra (2023), Romeu Vala volta a trabalhar com o realizador em Camarada Cunhal. No ano em que se assinalam duas décadas sobre a morte de Álvaro Cunhal (1913-2005), o político e escritor que dedicou a vida ao ideal comunista e ao Partido Comunista Português, o filme retrata a espetacular fuga de presos políticos do Forte de Peniche em 1960, durante a ditadura do Estado Novo. “Camarada Cunhal oferece uma perspetiva na primeira pessoa da repressão e do condicionamento a que estavam sujeitos os prisioneiros políticos. Mostra-nos, também, a camaradagem existente entre todos, o que ajudou na elaboração de um plano de fuga coletiva”, sublinha o ator. O filme estreia nos cinemas a 24 de abril.
Descer a Avenida…
Marquês de Pombal e Avenida da Liberdade
25 de abril, a partir das 15h
Descer a Avenida da Liberdade no dia 25 de abril é já uma tradição. Nesta data, milhares de pessoas desfilam pela nobre artéria da cidade para celebrar o Dia da Liberdade, envergando cravos vermelhos e cartazes com mensagens de luta e resistência. Romeu não vai faltar: “Neste dia tão simbólico para a história da nossa democracia, não se pode perder a marcha na Avenida da Liberdade. É um momento de partilha, onde milhares de pessoas caminham lado a lado, a cantar e a gritar palavras de ordem, para celebrar a conquista da democracia, em 1974.”
Forró Jam Session
Bar Palheta
25 de abril
Quinta-feira é dia de Jam Session no Bar Palheta. A partir das 19h30, o bar situado no Cais do Sodré, que “funde diferentes culturas”, recebe a Forró Jam Session, “com Francisco Martins ao comando de uma noite cheia de música e boa disposição”. Romeu sugere esta sessão de música brasileira e este bar, “onde se podem beber cocktails de autor únicos, ouvir variados géneros musicais e dançar muito.”

Fado na Casa de Linhares
Beco dos Armazéns do Linho, 2
A Casa de Linhares é hoje o que resta de um edifício renascentista que ruiu no terramoto de 1755. Erguida junto às margens do Tejo, no século XVI, a casa mantém ainda o charme oitocentista, apresentando de pé o torreão e um cunhal com brasão. Romeu sugere este restaurante em Alfama porque “mistura o melhor da comida portuguesa com algumas das vozes mais vibrantes do nosso Fado, como Jorge Fernando, Fábia Rebordão ou Vânia Duarte. Um ambiente intimista ideal para um jantar a dois.”

Ren
Disponível nas plataformas de streaming
Ren Erin Gill, mais conhecido por Ren, é um compositor, músico e rapper galês que ganhou fama como membro do grupo de hip-hop indie Trick the Fox e do grupo de busking The Big Push, no final da década de 2000. Romeu ‘cruzou-se’ com o músico há cerca de um ano e ficou “fascinado com a intensidade das suas letras, a beleza das suas melodias e as performances fortes e por vezes violentas nos seus videoclipes. Um projeto musical que tem como base a saúde mental. Uma mistura de hip-hop, spoken word e folk. Intenso, cru e belo.”
Embora pertençam a continentes e gerações diferentes, e as suas obras sejam radicalmente distintas na forma, parecem existir, entre a portuguesa Paula Rego (1935-2022) e a brasileira Adriana Varejão (n.1964), um conjunto de afinidades temáticas que justificam uma exposição como Entre os vossos dentes, patente desde 11 de abril no CAM da Fundação Calouste Gulbenkian.
O primeiro diálogo expositivo entre as artistas aconteceu ainda durante a vida de Paula Rego, em 2017, na Carpintaria, espaço dedicado ao experimentalismo e às vanguardas artísticas no Rio de Janeiro, naquela que foi (surpreendentemente) a única mostra da artista portuguesa naquela cidade. Como reconhece a própria Adriana Varejão, durante a visita para a imprensa à atual exposição, “o meu trabalho tem uma relação muito próxima com o da Paula”. Acrescenta a artista que, “com frequência, vamos aos temas da História ou ao universo ficcional para revolver as camadas mais aparentes e desenterrar aquilo que há de mais oculto nas narrativas usadas pela sociedade patriarcal.”

Com subtileza, o título da exposição pode ser entendido como uma súmula do discurso artístico de ambas. Para sublinhar o feminismo que as une e a exploração das temáticas sociais, nomeadamente a violência de género ou “a subjugação das terras e dos corpos que está na base da colonização” (atente-se, na obra de Paula Rego, para o quadro raramente exposto A primeira missa no Brasil, onde a artista evoca a pintura oitocentista de Victor Meirelles “que retrata o povo Tupi a assistir a uma missa católica”), recorreu-se a um verso de Poemas aos homens do nosso tempo, escrito nos anos 70 do século passado pela poeta e romancista brasileira Hilda Hilst. Nele, pressente-se “a natureza crua deste encontro entre duas artistas proeminentes do nosso tempo”, conforme sublinha a curadora Helena de Freitas, que acrescenta ainda um ponto de afinidade bastante forte e artisticamente relevante: “as duas cresceram em ditaduras alicerçadas em sociedades marcadas pela rigidez patriarcal e pelo catolicismo.”
Entre os vossos dentes remete, assim, para o modo como a arte de Rego e Varejão abordam a representação dos corpos “literais e metafóricos”, refletindo “como o patriarcado, o colonialismo e todas as formas de opressão se alimentam mutuamente, mastigando as pessoas e as suas histórias.”
O espaço doméstico no museu
Reunidas cerca de 80 obras, incluindo uma inédita de Adriana Varejão, os curadores Helena de Freitas, Victor Gorgulho e a própria artista brasileira, propõem em Entre os vossos dentes aquilo que definem como “uma dramaturgia imersiva”. As obras estão dispostas em 13 salas temáticas, cenografadas por Daniela Thomas, “em que cada espaço, imbuído de uma atmosfera doméstica, revela novas dimensões da profundidade psicológica e do poder imaginativo das artistas.”

A relação entre as obras neste dispositivo “dramatúrgico” permite sublinhar o poderoso diálogo entre o privado (o mundo doméstico) e o público em que as obras de Rego e Varejão se situam. Atente-se, por exemplo, à sala intitulada “Rituais de limpeza”, onde um conjunto de gravuras e litografias a preto e branco sobre o tema do aborto, criadas pela artista portuguesa na ressaca do referendo de 1998 que travou a legalização da interrupção voluntária da gravidez em Portugal, coabitam com as gravuras e pinturas da série “Sauna” de Varejão. Nelas, a artista brasileira confronta-nos com espaços aparentemente desabitados e assépticos, mas “impregnados de impurezas”, como fluídos corporais e detritos humanos, nomeadamente sangue e pelos. O diálogo entre as obras das duas artistas neste espaço é bem demonstrativo do sucesso da opção curatorial que rege a exposição.

Se Paula Rego dispensa apresentações, para os menos familiarizados, Adriana Varejão é uma das mais importantes artistas brasileiras da atualidade, estando a sua obra presente em acervos das maiores instituições do mundo, como a Tate Modern, em Londres, ou o Metropolitan Museum of Art, de Nova Iorque. Em Lisboa, a artista carioca realizou duas grandes exposições individuais: a primeira, em 1998, no Pavilhão Branco do então denominado Museu da Cidade; a segunda, no Centro Cultural de Belém, em 2005. Em Portugal, obras suas fazem parte dos acervos da Coleção Berardo – MAC/CCB e da Fundação Serralves, no Porto.
Entre os vossos dentes está patente na Nave do CAM até final do verão, visitável diariamente, exceto às terças-feiras.
Colunista regular do jornal Expresso, cresceu no Porto e agora divide o seu tempo entre a Invicta e a capital. Fazendo uso da ironia, da irreverência e do humor, reivindica a igualdade e desmonta preconceitos, tabus, discriminações e os mais variados ismos, como racismos ou machismos. Sem pedir licença é a exposição individual que, até 3 de maio, leva à Apaixonarte, uma galeria que promove o trabalho de artistas emergentes. “Como mulheres, passamos a vida a pedir licença para viver (…) Esta mostra é muito mais do que meras ilustrações e pensamentos sobre o tema: é uma instalação imersiva que reflete sobre ela própria e faz pensar o modo como vivemos em sociedade.”
 Da Boca ao Universo, de Lui L’Abbate
Da Boca ao Universo, de Lui L’Abbate
15 de abril, 18h30
Teatro do Bairro Alto
Lui L’Abbate, “artista cuir prete e trans-disciplinar”, parte da análise crítica que o livro Quando o sol aqui não mais brilhar: a falência da negritude, de Castiel Vitorino Brasileiro, propõe sobre a continuidade colonial na modernidade e também da sua própria investigação íntima sobre luz, para conceber um jogo poético e imersivo entre brilho e escuridão, luz e sombra. Fã assumida da programação do Teatro do Bairro Alto, por ser “sempre muito inclusiva”, Clara escolhe esta conversa performativa porque é “urgente descolonizar a cultura”. “Esta pessoa artista é não-binária, e eu acho que é importante abraçar este tipo de programação que desmancha as caixas todas de género e de regras sociais formativas.”
Entre os vossos dentes, obras de Paula Rego e Adriana Varejão
Até 22 de setembro
CAM – Centro de Arte Moderna da Gulbenkian
Clara sugere a exposição que junta duas artistas de diferentes gerações, Paula Rego (Lisboa, 1935 – Londres, 2022) e Adriana Varejão (Rio de Janeiro, 1964), mas com três décadas de trabalho simultâneo. Separadas pelo Atlântico, as artistas seguem caminhos autónomos que, por variadas vezes e de diversos modos, convergiram. Entre os vossos dentes revisita trabalho de ambas, cruza os seus temas e revitaliza as leituras. “Acho sempre muito interessante quando há um diálogo intergeracional. A Paula Rego é uma figura muito relevante pela sua arte e pela maneira como se expressava, mas não só: era também uma feminista. Era muito vocal em relação ao aborto, por exemplo. E é mesmo muito relevante falarmos desses temas, ainda mais quando se o faz através destes diálogos interessantes e até inesperados.”
Eu, Tu e Todos os Que Conhecemos
Filme de Miranda July
em blu-ray
A comédia transgressiva Me and you and everyone we know com uma visão original e poética sobre a sexualidade, a intimidade, a infância e a solidão num mundo, ao mesmo tempo, familiar e estranho, é a sugestão de cinema de Clara. “É um diálogo sem tabus, que nos faz sorrir e nos mostra uma visão de realidade muito díspar daquela rotineira a que estamos habituados. O filme também põe em causa muitas questões sobre arte contemporânea, sobre não olharmos para o nosso quotidiano com magia quando há tanta coisa horrível a acontecer à nossa volta.”
 Quem Tem Medo do Género?, de Judith Butler
Quem Tem Medo do Género?, de Judith Butler
edição Orfeu Negro
Neste livro, Judith Butler, uma das principais figuras teóricas contemporâneas do feminismo e da teoria queer, examina a forma como o género se tornou um “fantasma” para regimes autoritários, grupos fascistas, feministas transexcludentes ou o Vaticano, que o declarou “ameaça à civilização e ao próprio homem”. Em Quem Tem Medo do Género?, a autora procura produzir uma visão contrária convincente, que afirme os direitos e as liberdades da vida corporal que urge proteger e defender. Clara sugere esta obra porque mostra como “a questão do género está a ser uma espécie de arma da extrema-direita para conseguir ganhar votos e mudar a retórica das coisas, usando ‘a ideologia de género’ para tapar muitas falhas dos seus próprios programas”.
The Feminist Killjoy Handbook, de Sara Ahmed
Sem edição portuguesa
Numa altura em que a mudança social é urgentemente necessária, este “manual feminista” oferece ferramentas úteis para as leitoras a quem já fizeram sentir isoladas, insignificantes ou difíceis. “Este livro conotou mesmo a expressão feminists killjoy, que se refere a feministas zangadas”, avança Clara. “É, no fundo, um manual nada extremista sobre como as feminists killjoy podem vir a transformar este mundo.”
Porquê o nome Memória de Peixe?
O nome remete para quando o projeto foi criado, em 2011. A ideia começou com a premissa de criar canções com loops de guitarra de oito segundos. Portanto, daí a memória de peixe, loops de curta duração, para fazer canções acompanhadas à bateria.
Desde o início do projeto, em 2011, já houve várias alterações na formação da banda. Isso alterou a sonoridade do projeto?
Sim, altera sempre. São as pessoas que fazem a música, por isso há um lado muito humano nesse processo. As pessoas trazem as suas influências e as suas referências. A sua forma de pensar altera sempre o produto final e, ainda bem que é assim, porque ganha-se sempre em ter essa visão. No entanto, a alteração de membros não é algo premeditado, mas sim algo que faz parte da vida. Se há coisa que caracteriza esta nova formação é o facto de termos encontrado uma nova vida. Isso só foi possível com o Pedro Melo Alves e o Filipe Louro, que trouxeram a sua identidade e que deram tudo para que Memória de Peixe pudesse ser a banda que é atualmente.
Isso explica o hiato de nove anos entre o disco anterior e este?
Não é o tempo ideal, é certo, mas às vezes os hiatos são importantes para percebermos o que queremos dizer. A vida aconteceu: estive envolvido em muitos outros projetos enquanto produtor musical, houve uma pandemia… Nessa altura, já existiam alguns dos temas que depois vieram a fazer parte deste disco, porque era suposto continuarmos com a formação que tínhamos. Mas, muitas vezes as pessoas que estão a trabalhar connosco – como o Marco Franco e o Nuno Oliveira na altura – acabam por seguir o seu rumo. E quando vemos que a vida começa a seguir outros rumos, apesar de sermos amigos como dantes, às vezes questionamo-nos se vale a pena continuar. Nesse sentido, diria que este disco reflete também essa resiliência, dessa vontade de encontrarmos novos objetivos. Acabou por trazer não só a vontade de fazer o projeto voltar à vida, como também de passar por um processo de consciencialização interna que conduzirá idealmente para uma maior ação coletiva. É um disco que aborda, de uma forma esperançosa, estes temas de superação e de reconciliação com os nossos fantasmas do passado. Há aqui todo um leque de coisas que só é possível porque a vida também acontece e pensamos nela.
Achas que Portugal acolhe bem o jazz?
Penso que há um crescendo cada vez maior e uma vontade cada vez maior em ter música de todos os géneros e estilos, mais particularmente nos últimos tempos. Há cada vez mais festivais diferentes, com cada vez mais bandas portuguesas que têm estas junções, estas fusões de género. E acho que as pessoas estão com muita vontade de ouvir este tipo de música.
Quando crias um álbum há a preocupação de respitar todo um conceito ou vais compondo temas de forma aleatória?
É muito uma mistura dos dois. O processo é às vezes consciente e inconsciente, ou seja, há uma premissa neste disco que foi claramente encontrar essa paz, essa esperança, essa vontade de encontrar um novo sentido para as coisas, e isso também tem a ver com quem nós somos enquanto pessoas e a fase por que estamos a passar. Sem querer, isso transborda para todos os temas: uns mais eufóricos, outros mais contemplativos. Mas, acho que, de uma forma geral, este período e esta formação – que espero que seja definitiva desta vez – partilha desta visão e quis também ser parte ativa no processo de criação. Portanto, tem de haver uma premissa que una as pessoas numa variedade estilística muito grande de referências, vindas do jazz, do pop, da canção, e que confluem todas na mesma forma de pensar.
Norberto Lobo faz uma participação na canção Under the Sea. Como foi esta colaboração?
Foi muito giro. O Norberto Lobo é nosso colaborador pontual e fez parte do início da terceira vida deste projeto. Foi um momento belíssimo de improvisação em que o Norberto, ao primeiro take, criou um convite mágico às pessoas: o de mergulharem no mundo encantado e aquático do que é estar apaixonado, do que é o amor, e era exatamente esse o espírito que estávamos à procura e isso aconteceu em estúdio. Este disco tem estes momentos muito felizes de cristalização de coisas que só acontecem uma vez. A música do Norberto nasce desta vontade, desta boa onda que nós temos todos em conjunto. Deu-se o acaso feliz de a música ser uma jam, enquanto instrumental, que depois foi trabalhada, mas o take que está no álbum foi o primeiro. Estávamos todos no estúdio, parvos com o que estava a acontecer. O disco tem muito esta magia. E há também outras músicas onde isto aconteceu. Tudo isso será muito explorado no concerto da Culturgest. Vai ser um espetáculo especial que aborda a questão das transmissões do passado e do futuro, como se estivéssemos a captar memórias.

Estão a preparar um espetáculo com recurso a vídeo, uma espécie de cine-concerto…
Sim, o projeto tem esse lado multidisciplinar. Talvez por sermos uma banda mais instrumental, temos essa vontade de explorar o lado multidisciplinar das canções, de apresentar vídeos, apresentar imagens às pessoas. Enquanto compositores e criadores, também estávamos a pensar nessas imagens. Este concerto vai ser um concerto único e especial, que vai usar a imagem, a cenografia, e ter som espacializado, que só a Culturgest oferece. Vamos criar uma experiência imersiva a partir das canções do álbum, mas com um tema central: mensagens e fragmentos de memórias que são transmitidas e que não se sabe de onde vêm, podem ser do passado, podem ser do futuro. Portanto, há um lado vintage sci-fi.
A identidade visual é muito importante no vosso projeto. Dirias que é um prolongamento do universo musical?
É uma coisa que nos caracteriza, não só enquanto projeto, mas também individualmente. Gostamos muito do lado do cinema, do lado visual, de espetáculos que cruzam várias disciplinas. Acho que este projeto tem essa gênese, portanto temos vontade, sempre que possível, de tornar as coisas ainda mais sugestivas.
Estão nomeados para os PLAY – Prémios da Música Portuguesa na categoria de Melhor Videoclipe, com o vídeo de Good Morning… ficaram surpreendidos?
Somos uma banda que muitas vezes não consegue ter os meios que ambiciona. Em relação aos Prémios Play, acho que a nossa grande vitória não é a nomeação em si. Não vemos a música assim, mas claro que é um privilégio podermos mostrar a nossa música e o nosso trabalho, muitas vezes num contexto onde só está quem tem grandes meios. Isso prova que, enquanto projeto independente, temos muita vontade de fazer as coisas com muitos amigos, mas pouco dinheiro. No entanto, tenho de fazer um parêntesis porque, apesar de haver pouco dinheiro, fomos apoiados pelo GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) e pela SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) que são pilares e instituições importantíssimas para a proliferação da criatividade e da arte em Portugal. Quem nos dera que houvesse mais instituições assim e acho que o caminho só pode ser esse, o de investir mais na Cultura.
Este ano atuam no Festival Paredes de Coura. Qual é a diferença entre atuar num festival ou numa sala como a Culturgest?
O objetivo da banda é fazer música sem precisar de muitos adereços. A música tem de funcionar por si e o festival tem esse lado de mostrar às pessoas que somos esta banda que tem esta música para tocar. Antes deste disco sair, fizemos uma pré-tour, uma pré-apresentação do álbum e tocámos em clubes mais pequenos. Quisemos sentir a energia das pessoas. Foi muito bom porque as salas esgotaram quase todas e o nosso projeto estava inativo há muito tempo. Ou seja, foi uma experiência totalmente diferente do que será atuar em Paredes de Coura num festival onde sempre sonhei estar.
Há algum concerto que estejas com muita vontade de assistir?
King Krule! Já o sigo há muito tempo e adoro as composições dele, tem discos fantásticos. Curiosamente, quando compusemos a Not Tonight estávamos a ouvi-lo. Acabou por ser uma referência não propositada [risos]. Claro que o festival tem bandas incríveis, desde portuguesas, como os Unsafe Space Garden, a nomes como a Capicua… Há um equilíbrio muito bom no cartaz, e prevejo que vai ser incrível.
As Rainhas do AutoEngano são um trio constituído pela portuguesa Madalena Palmeirim e pelas brasileiras Kali Peres e Natalia Green. Cantam repertório original em diferentes idiomas, compondo em português e francês. O cavaquinho, as guitarras acústicas e o baixo acompanham as vozes do trio numa dança entre a pop, a bossa nova, a MPB ou o folk. O primeiro single, Eu Jurei, foi lançado em 2021, e desde aí que as Rainhas não param de levar a sua música pelo país fora. O primeiro disco está para breve e os preparativos já começaram: “neste momento é um work in progress”, adianta Natalia. A ideia é lançar o álbum ainda em 2025: “espero que até ao fim do ano esteja pronto”, confessa. Para que isso possa acontecer, em julho, o trio irá fazer uma residência artística em Idanha-a-Nova, para ganhar inspiração. A 13 de abril, apresentam-se no Bota Anjos, num concerto que se espera aconchegante e emotivo.

We Call It Flamenco
11 de abril, às 19h30 e 21h30
Cineteatro Capitólio
Um espetáculo de dança é a primeira sugestão de Natalia. Caso de sucesso que já passou por mais de 20 cidades, We Call It Flamenco é dividido em quatro atos e combina cante (canto), baile (dança) e toque (música). No Capitólio, diversos bailarinos, vestidos com os tradicionais mantones (xailes de manila) e trajes de flamenca (vestidos de flamenco), vão subir ao palco com as suas coreografias de flamenco hipnotizantes ao som de uma guitarra e da voz de um cantor de flamenco profissional.
O Poder está dentro de si
Livro de Louise L. Hay
Editora: 11 X 17
“Gosto muito deste tipo de livros porque nos fazem refletir e perceber que a nossa força está dentro de nós e não fora. Basta isso para podermos mudar a nossa vida”, diz Natalia. A guitarrista sugere este livro da autora americana Louise Hay, que escreveu mais de uma centena de livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares por todo o mundo. O segredo está na filosofia positiva que procura ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas usando técnicas de desenvolvimento pessoal.

Lion – A Longa Estrada para Casa
Filme de Garth Davis
Disponível em streaming na Prime Video
Lion – A Longa Estrada para Casa é um dos filmes favoritos de Natalia. O filme baseia-se na história verídica de uma criança de cinco anos que se perde do irmão perto de uma estação de comboios. Depois de entrar numa das carruagens, acaba por ser levado acidentalmente para Calcutá, a 1500 quilómetros de casa. O rapaz sobrevive sozinho durante várias semanas até ser adotado por uma família australiana. 25 anos depois, parte em busca da família biológica. “É lindo, e vale muito a pena ver”, diz.
A Baleia
Filme de Darren Aronofsky
Disponível em streaming na Prime Video
A Baleia, filme que valeu a Brendan Fraser o Óscar de melhor ator em 2023, centra-se na vida de um homem de meia-idade obeso, professor de inglês, que tenta reconciliar-se com a filha adolescente depois de ter abandonado a família anos antes. O guião foi escrito por Samuel D. Hunter, tendo por base a sua peça de teatro com o mesmo nome. “É dos filmes mais bonitos que já vi. É de uma enorme doçura, mas também me deu um tapa na cara. Revi-o há pouco tempo e faz-me sempre soluçar. É muito bonito, mas ao mesmo tempo de uma enorme tristeza”, considera Natalia.
Mynolia
All things heavy
“All things heavy é uma descoberta recente; sou apaixonada por essa música”. A instrumentista gosta do lado indie e melancólico da canção de Mynolia, nome artístico da cantora Maja Presnell, que nasceu no Canadá, foi criada na Nova Zelândia e vive atualmente em Berlim. O seu primeiro disco (com o mesmo nome da canção sugerida por Natalia) saiu em 2022.
A música surgiu por acaso na sua vida. Se não tivesse seguido esse caminho, o que acha que estaria a fazer profissionalmente?
Esse caminho surgiu há muitos anos, quando abriram as inscrições para a escola do Hot Clube [de Portugal]. Na altura, fui desafiada por um amigo músico, o Carlos Rouco, a inscrever-me. Depois de assistir a alguns festivais do Cascais Jazz (que se chamava assim) fiquei completamente apaixonada por aquela música da qual não percebia nada. Quando o Carlos Rouco me disse que havia uma escola que ensinava aquelas coisas, fui. Isso coincidiu com uma fase em que o meu pai – que era piloto da TAP – estava a tentar arranjar maneira de eu ser hospedeira, portanto, se a música não tivesse aparecido no meu caminho, provavelmente seria hospedeira de bordo.
Quando é que se apercebeu que tinha talento para cantar?
Quando tirei o curso de nadadora-salvadora. Eu e duas amigas fomos as primeiras mulheres a tirar o curso, mas ninguém nos deu emprego, exatamente por sermos mulheres, mas foi aí que tive a primeira consciência de ter voz física. Durante esse curso, quando estávamos nos balneários da piscina do Inatel, onde fizemos os exames, a minha amiga Cândida cantava e eu cantarolava também e reparei que berrava mais alto do que ela [risos]. Já antes disso, na escola, se houvesse uma peça de teatro, dizia que queria participar. Uma das frases que tem persistido ao longo da minha vida é esta: “eu também quero!”. Queria fazer tudo e mais alguma coisa que estivesse ligado à arte, à música, à representação.
O jazz foi paixão imediata?
Logo. Se calhar até poderia ter abraçado outro género de música, mas não me representaria. O jazz e a música improvisada têm tudo a ver comigo. Tem a ver com improvisação, com invenção, com imaginação, com a aventura, que são as coisas mais importantes para mim e que reconheço na música que faço.
Não se imagina a abraçar outro género de música?
Tenho cantado outras coisas também. Gravei dois discos com os Budda Power Blues em que cantávamos rock and roll e blues, e também cantei num disco com música do Nuno Corte Real, que é a minha música mais contemporânea e que me exigia outro tipo de postura na música, outra forma de gerir a voz. E canto outras coisas também.
Mas o jazz é a sua casa…
É a minha casa, a minha praia, a minha alma, o meu coração.
40 anos de carreira é um número impressionante. Que emoções é que isso lhe desperta?
Estou a meio caminho, ainda me falta fazer muita coisa. Durante este tempo todo, apesar de me considerar muito desorganizada e frenética, tenho noção de que para ser cantora foi preciso uma disciplina férrea: cuidar da voz, do meu instrumento, do meu corpo. É por isso que continuo a ter uma voz muito saudável e versátil. Se tivesse andado aí a fazer asneiras não seria assim. Lembro-me de uma das vezes que mais me custou foi no festival de jazz do Funchal [Funchal Jazz]. Depois do concerto os músicos foram sair, e eu, como no dia a seguir ia para Itália cantar com o Egberto Gismonti, fui obedientemente para o quarto. Nem era para ir dormir cedo, mas sim para estar calada, porque eu falo pelos cotovelos e estar em silêncio é a melhor forma de descansar a voz.
Ao longo da sua carreira, tem procurado sair da zona de conforto, arriscando e experimentando novos caminhos. De onde vem essa energia?
Adoro praticar desporto, faço-o desde miúda. A minha mãe foi nadadora do Algés e Dafundo. Quando era pequena fazia ginástica e natação no Sporting. Hoje continuo a fazer exercício físico diariamente e isso ajuda muito. Não fumo, não bebo, sou vegetariana e tento focar a minha energia na música. Mas é verdade que sou muito curiosa e que mantenho aquela hiperatividade que tinha quando era miúda.

Abundância é o nome do seu 31.º álbum. É uma referência a 40 anos de uma carreira abundante?
Olhando para o que tem sido a minha vida, acho que ela está repleta de muita coisa. É uma abundância tão grande… A minha mãe é moçambicana, o meu pai é português, portanto há aqui uma mistura gloriosa. E também as coisas que me foram acontecendo, a abundância de música que fui cantando e que foi uma felicidade total, um privilégio. Tudo isto é muito abundante, por isso achei que era o nome perfeito para o disco.
O disco celebra a fusão da música eletrónica com a tradição moçambicana. Como foi fazer esse casamento?
Os meus parceiros, com quem faço música há 14 anos, João Farinha – meu parceiro principal – e André Nascimento fazem verdadeira magia com a música eletrónica (que amo apaixonadamente, mas não percebo nada). Atualmente a minha curiosidade está virada para esta forma de fazer música. As músicas são quase todas minhas e do João, mas também há algumas de autores moçambicanos. Fomos juntando estas duas facetas: a música eletrónica com a world music que fazem os moçambicanos, e soa tão bem, porque verdadeiramente a música é só uma e engloba e abraça vários estilos, as pessoas é que gostam de colocar tudo em categorias. Acho que a música é uma divindade. Ela exige tudo de nós: tempo, lealdade, amor e dedicação, mas de volta dá-nos o mundo inteiro. Acho que temos de respeitar isso, temos de amar isso verdadeiramente. A música é só uma que abraça todos os géneros.
A Maria João escreveu alguns temas do disco. O que a inspira quando escreve?
Tudo, mas sobretudo o som. Antes do significado da palavra, gosto do som das palavras. É a primeira coisa que me chega. Inspiro-me em tudo: alguém que diz uma coisa, alguém que se ri, uma coisa que ouço aqui e outra acolá, o ritmo dos passos no chão, a melodia e o ritmo da voz das pessoas… Sou muito curiosa e fico muito atenta aos sons que me aparecem.
O disco conta com colaboração de diversos músicos e cantores moçambicanos. Sabia com quem queria trabalhar?
São todos meus amigos e fazem parte do grupo incrível do António Prista, que se chama TP50. O grupo tem uma atividade brutal, faz muitos espetáculos e convida-me várias vezes para participar. Passámos uma semana metidos num estúdio, foi trabalho duro. As pessoas conferem um romantismo aos músicos. Acham que andamos sempre cheios de glamour, mas não é assim. O único glamour que existe é naquela pirâmide lá no topo que brilha resplandecente ao sol, que é quando vamos para o palco. O resto é tudo trabalho duro. Todos a dormir uns por cima dos outros nos aviões e nos comboios. A luta para que possamos ter concertos, para que possamos gravar música e continuar a fazer aquilo que amamos e ganhar algum dinheiro com isso.
O concerto de dia 22, no Trindade, vai ser uma celebração dos 40 anos de carreira?
Vai ser um concerto onde vamos pôr ao vivo, finalmente, aquilo que gravámos, que é sempre uma aventura. Os concertos são uma coisa muito diferente das gravações. Quando vamos para o palco abrem-se outras possibilidades de fazer música, outros espaços em que podemos improvisar, em que podemos inventar; então vai ser uma curiosidade. Os primeiros concertos são sempre incríveis, estou sempre com uma adrenalina total.
Que feedback tem tido das pessoas?
As pessoas têm amado este disco, o que me deixa muito feliz, porque mistura world music com eletrónica e é um disco de canções. É um disco simples de certa maneira, tem canções que saíram de improviso e tem poetas e músicos moçambicanos.
Depois deste concerto, vai apresentar o disco pelo país e pelo mundo?
Faço sempre várias coisas. Depois do espetáculo em Lisboa tenho um concerto com uma orquestra em Águeda, e depois vou para o Brasil dar concertos. Depois vou a Moçambique lançar o disco, e também tenho concertos na Noruega e na Macedónia. É muito bom levar esta mistura de uma pessoa portuguesa com toda esta abundância de influências. É um privilégio inacreditável que me aconteceu e que poderia não ter acontecido. Isto caiu no meu colo, foi por acaso.
História da Papoila foi o seu primeiro conto infantil, em 1973. O que a levou a escrever para crianças?
Comecei, por volta dos 13 anos, por contar histórias oralmente ao meu irmão mais novo, miúdo endiabrado e imaginativo. Como ele não apreciava os livros tradicionais que havia lá por casa, resolvi inventar algo que tivesse a ver com os seus gostos, a sua irreverência, e apelasse ao sentido de humor. Para minha surpresa, gostou tanto das minhas incipientes narrativas que passou a exigir uma dessas histórias todos os dias. E fui contando, como uma “pseudo Sherazade”, episódios que se encaixavam uns nos outros, com as personagens preferidas dele. Uma dessas histórias-novelas chegou a prolongar-se por três anos. Esse meu irmão foi, não só minha primeira inspiração, mas o melhor crítico que tive até hoje. Não se inibia de alinhar ou refutar, de se manifestar com a total sinceridade que os adultos frequentemente mascaram. “Se eu me portar bem, contas-me outra amanhã, outra como esta?”. Alinhei logo porque assim escapava às maroteiras que ele engendrava e me divertia a inventar. Mas não passei a escrito os contarelos. Só rabiscava poemas…
O que há de diferente na forma de escrever para crianças?
Há quem se baseie em teorias ou as teça sobre a forma específica de escrever para os mais novos: temas inócuos, passagem de mensagens educativas, uso de linguagem específica, repetições, etc. Não tem sido o meu caso. Muito do que tenho escrito e veio a ser publicado para crianças não foi pensado para uma idade específica. Nem o fiz com intenção de publicar. Rabisquei o que na altura pensava, sentia, usando as palavras que saltavam para a minha lapiseira, para o meu computador. Se achasse que era adequado a crianças, procurava publicá-lo para elas. Claro que também tenho escrito especificamente para os mais novos, até acedendo a convites de editoras. Nesse caso ou quando dediquei textos a meus filhos, netos, a miúdos que me cativaram, procurei meter-me na pele deles, no seu pensamento, na sua sensibilidade, utilizando um vocabulário acessível. Embora, como Aquilino, eu ache que algumas palavras desconhecidas podem ter um encanto especial e funcionar como monumentos que se visitam com curiosidade na viagem que é a leitura. Quanto a temas… acho que, na realidade, todos os temas podem ser abordados com crianças, com ponderação e sensibilidade, mas eu não tenho interesse em falar de alguns, polémicos ou não. Hoje há uma crítica feroz e muitas vezes tacanha, a meu ver, em relação a alguns. Em nome de ideologias “politicamente corretas”, estão a ser mutiladas obras de notáveis escritores de literatura infantil como Roald Dahl. Há tabus a que certas editoras obrigam os autores a fugir. Mas por vezes são os livros aparentemente mais inócuos que ferem mais profundamente as crianças. Indesejável me parece infantilizar um texto como se as crianças fossem retardadas. Elas devem crescer com os livros. Também nunca gostei de escrever livros para adormecer, pois prefiro aqueles que são para acordar. Mas acredito que seja útil contar com a presença de uma figura tutelar a ler textos relaxantes que incitem a bons sonhos.
Concorda que um livro infantil não é apenas para ser lido por crianças?
Realmente concordo. Se for um livro interessante, bem escrito, fala ao adulto também e à infância que cada adulto guarda dentro de si e nunca se apaga, faz parte das suas raízes mais profundas. Muito tempo se menosprezou a literatura infantil, considerando-a uma parente pobre da literatura para adultos, menosprezando as crianças e achando que “para quem é, bacalhau basta”.

Camilo José Cela
A Família de Pascual Duarte
A publicação de A Família de Pascual Duarte, em 1942, deu origem ao termo “tremendismo”, tal o choque que causou. A denominação passou a definir um estilo de obras sangrentas, marcada pelo horror e crueldade, e protagonizadas por figuras animalizadas cuja personalidade se reduz ao patológico e anormal. Pascual é um homem assaltado por um sentimento de culpa edipiana e terror existencial, conflitos que resolve recorrendo à violência e matricídio. Esta criatura, “abandonada por Deus”, destinada a seguir “o caminho dos cardos e das urtigas”, para quem “o sangue é o adubo da vida”, narra a sua existência e o seu rol de crimes, numa longa e pormenorizada missiva, declarando: “A consciência só pesa quando se pratica uma injustiça: bater numa criança, matar uma pomba”. Quem é, afinal, Pascual Duarte? Um bárbaro sem remissão ou, como lhe chama o padre confessor, “um cordeiro manso encurralado e assustado com a vida”? Na sua violência e trágica fatalidade, a inesquecível personagem surge como uma impressionante premonição do destino da Espanha sob a Guerra Civil, com o seu meio milhão de mortos, e como espelho negro da subsequente repressão franquista. LAE Quetzal
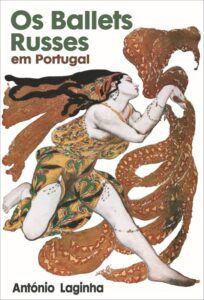
António Laginha
Os Ballets Russes em Portugal
Serge Diaguilev referia-se à “aventura portuguesa” dos Ballets Russes como “o pior momento da sua vida de Empresário”. De facto, a passagem da companhia que revolucionou a dança no século XX por Lisboa, em dezembro de 1917, saldou-se pelo “fracasso, pela inquietação e pelo desânimo”. O tempo não era para grandes divertimentos num país politicamente fragilizado e com um povo economicamente depauperado. A companhia e o seu diretor, foram surpreendidos pelo “golpe sidonista” que reduziu drasticamente o impacto das suas apresentações. Ainda assim, efetuaram onze representações na capital, nove no Coliseu dos Recreios, “sombrio e impessoal como um barracão de treino militar” segundo Léonide Massine, principal bailarino e coreografo da companhia; e duas no Teatro Nacional São Carlos, apressadamente reaberto ao público num precário estado de conservação. Acresce a esta desafortunada experiência o facto de, num país com uma mentalidade artística que não acompanhava a Europa civilizada, as arrojadas propostas estéticas dos Ballets Russes terem recebido críticas de “teor manifestamente desagradável”. Entre as exceções, encontrava-se o jovem Almada Negreiros que, nos meses seguintes, cria uma serie de propostas “baléticas” inspiradas no estilo da célebre companhia. A presente obra amplamente ilustrada, produto de uma profunda investigação, resgata uma história fascinante, até agora ausente de todos os livros dedicados à história dos Ballets Russes de Diaguilev, e analisa a repercussão na dança portuguesa da sua atribulada visita a Lisboa. LAE Centro de Dança de Oeiras c/ apoio da SPA
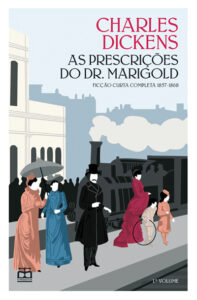
Charles Dickens
As Prescrições do Dr. Marigold
Raros foram os autores que condensaram toda uma época na sua obra. Charles Dickens (1812-1870) foi um deles: os seus livros oferecem o melhor retrato ficcionado da era da Revolução Industrial. Aos 12 anos viu o pai preso por dívidas e teve que abandonar a escola e trabalhar numa fábrica de graxa para sapatos como forma de sustentar a família. Este episódio foi determinante para lhe conferir a consciência social de que se revestem os seus escritos com os temas recorrentes do abuso infantil, pobreza, prostituição, desemprego e falta de condições laborais. Dickens escreveu aproximadamente 100 contos e novelas. O presente livro dá início a uma recolha em 6 volumes, a primeira edição a nível mundial a compilar de forma lógica a ficção curta de Dickens, incluindo as obras em colaboração editadas pelo autor. Este volume reúne as duas últimas novelas escritas por Dickens e duas sequências de contos redigidos em colaboração com Charles Allston Collins, Hesba Stretton, George Walter Thornbury, Caroline Leigh Gascoigne, Andrew Halliday, Hesba Stretton, ou a maior autora de literatura de viagens vitoriana, Amelia Edwards. LAE E-Primatur
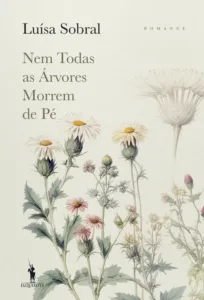
Luísa Sobral
Nem Todas as Árvores Morrem de Pé
Depois da música e dos livros infantis Quando a Porta Fica Aberta e O Peso das Palavras, Luísa Sobral estreia-se na ficção. No prefácio, a cantautora revela “… ouço por amizade, mas guardo por profissão. (…) nada consegue ser mais inspirador do que a vida real.” E foi assim que nasceu este romance. Em maio de 2021, uma amiga partilhou com ela a notícia duma “história incrível”, em que só se sabia o fim. Luísa imaginou, e escreveu, o início dessa história. Nascida em 1964, após a construção do Muro de Berlim, M. tem uma mãe ausente e vê o pai como exemplo, até ao dia em que descobre que “por vezes o meu pai não era o meu pai.” “Cresci a confundir grandiosidade com grandeza. Afinal, eras só um homem alto.” Uma geração antes, Emmi tinha o sonho de ser bailarina, mas perde o pai na guerra e começa a trabalhar ainda jovem para ajudar a mãe. Em 1958, acaba a universidade e conhece Mischa, um homem de Berlim Leste, que trabalha para o governo, por quem se apaixona e que a leva e mudar-se para a Alemanha Oriental. Mas rapidamente percebe que o amor é cego. Ao longo de mais de 50 anos de história, acompanhamos a vida destas duas mulheres, mãe e filha, separadas por muito mais que um muro. SS Dom Quixote

Bohumil Hrabal
Todos os meus gatos
A primeira grande diferença entre este título de Hrabal e os muitos livros com gatos, que contribuem para o filão editorial, é que se trata de obra produzida por um grande escritor: literatura sem concessões a nada que não seja a verdade crua do relato e a exatidão do testemunho fortemente pessoal, obsessivo e até cruel. Outra grande diferença é que os gatos são aqui elemento quase acessório, cuja função é reforçar um traço da personalidade do autor em crise existencial, só interrompida por um acidente de automóvel que terá permitido a recuperação da estabilidade interior de que o livro resulta. Bohumil Hrabal partilhava com a natureza o cuidado com os gatos que lhe apareciam e se reproduziam na sua casa de campo em Kersko, para maior aflição da mulher que insistentemente perguntava o que iriam eles fazer com tantos felinos. Todos as semanas uma lotaria de sentimentos lhe assaltava o espírito, pois o casal Hrabal residia em Brno durante a semana, largando os gatos de Kersko à sua sorte, esperando o escritor o melhor e temendo o pior. Livro recomendado a apreciadores da grande literatura que consigam criar uma couraça que permita atravessar as páginas mais pungentes, difíceis de suportar. RG Zigurate
Mario Benedetti
A Trégua
Martim Santomé, “pessoa triste com vocação de alegre”, “rotineiro e indeciso”, tem 49 anos de idade, é viúvo, pai de três filhos adultos e trabalha “numa velha casa importadora de sobressalentes de automóveis”. A um ano da reforma, regista em diário, com sentido crítico e fina ironia, a sua existência resignada, dividida entre o trabalho (“no escritório não há amigos: há tipos que se vêem todos os dias, que embirram juntos ou separados”), a vida familiar com os filhos (marcada pela “barreira” do fosso de gerações), e a memória esvaída do seu casamento (“uma coisa boa, uma temporada alegre”). Resignação que espelha o cinzentismo e conservadorismo da Montevideu dos anos de 1950. Manifesta a sua apreensão com o “vazio” que se aproxima, embora por vezes exprima a “luxuosa esperança de que o ócio seja algo pleno, rico, a última oportunidade de me encontrar a mim próprio”. A chegada ao escritório de Laura Avellaneda, uma nova assistente, jovem e reservada, vai alterar as regras da sua vida, confrontando-o com sentimentos inesperados. Com ela vai viver uma paixão transgressora que lhe abre um horizonte “de plena liberdade”. LAE Cavalo de Ferro
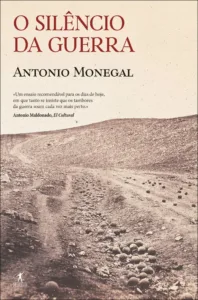
Antonio Monegal
O Silêncio da Guerra
As guerras são universalmente percecionadas como ambientes ruidosos: explosões, disparos, rugido de motores, gritos…Porém, num aparente paradoxo, Antonio Monegal elege como preocupação central do seu mais recente ensaio a questão do silêncio: o silencio dos mortos, o silêncio daquilo que os meios de comunicação e os relatos oficiais omitem, escondem e censuram, e o silencio do “indizível, daquela parte da experiência da guerra que desafia a representação”. É, justamente, sobre a questão da guerra representada que este livro versa. A reflexão nele produzida gira em torno da forma como falamos da guerra, escrevemos sobre ela ou a vemos, ou seja, “como podemos adequar a linguagem a uma experiência que lhe escapa”. Antonio Monegal, professor catedrático de Literatura e Literatura Comparada na Universidade Pompeu Fabra (Barcelona), distinguido, em Espanha, com o Prémio Nacional de Ensaio 2023, pela obra Com o Ar que Respiramos, analisa neste novo trabalho exemplos de várias artes – literatura, artes plásticas ou cinema – procurando “definir uma ética de representação da guerra capaz de fazer justiça ao indizível”. LAE Objectiva
Michela Marzano
Continuo à espera de que me peçam desculpa
“É inútil mudar-se de país quando tentamos fugir de nós próprios.” A história de Anna começa quando ela tem 11 anos e, durante uma aula, o professor de matemática lhe mete a mão no bolso das calças. Estamos em 1985. 32 anos mais tarde, em outubro de 2017, o movimento #MeToo começa a ganhar força e é nessa altura, enquanto dá aulas de mestrado em jornalismo, que os pensamentos de Anna se voltam a focar na questão do “consentimento”. A primeira vez que o marido lhe bateu não reagiu. Não se achava uma vítima e pensava que tudo o que lhe acontecia era por sua culpa. “Mas como é que as outras conseguem ser sempre respeitadas?” era uma das suas constantes inquietações. Nas aulas, recorria a casos reais – o de Harvey Weinstein, ex-produtor de filmes norte-americano condenado por crimes sexuais; o de Virginie Despendes, autora e realizadora francesa que, em Teoria King Kong, conta a história de quando foi violada por três rapazes; ou o do magnata Jeffrey Epstein, acusado de traficar e explorar raparigas – para levar os seus alunos a debater questões como abuso de poder, confiança, vulnerabilidade, igualdade de género e consentimento. Mas, Anna continuava a culpabilizar-se e à espera que lhe pedissem desculpa. SS ASA
Entre 10 e 12 de abril, o palco principal da Culturgest dá a ver o modo como Gaya de Medeiros e colaboradores olham para o tempo presente, marcado por ansiedades geradas por conflitos que nos ultrapassam, por cenários de guerra tão distantes mas tão próximos, pela possibilidade de reconstruir lugares coletivos e íntimos ameaçados de extinção. A ideia de Cafezinho é refletir sobre o tempo e a finitude, e fazê-lo de olhos nos olhos – com os nossos e com os do mundo.
Dentro da cabeça
de 5 a 13 de abril
em cena no LU.CA – Teatro Luís de Camões
A primeira escolha da nossa convidada vai para o novo espetáculo de alguém que conhece bem: Márcia Lança. “Achei muito curioso, porque a Márcia mistura vários tipos de linguagem, e também é mãe. Traz sempre um pouco da realidade de ser mãe quando trabalhamos juntas. Imagino que tenha feito um estudo muito próximo das suas crianças para entender como alcançar, com a dança e com a performance, outras crianças e outras famílias.” Ainda sobre Márcia Lança, Gaya acrescenta que se trata de uma pessoa “muito inteligente e perspicaz na forma como coloca o discurso dela, por se tratar de uma artista mais híbrida.”

Auto das Anfitriãs
Até 13 de abril
em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros (Jardins do Bombarda)
A segunda sugestão de Gaya recai na “adaptação de uma adaptação de uma adaptação, um mito, sobre o qual Camões também escreveu”. Do elenco desta peça fazem parte duas artistas com quem Gaya já colaborou: Cire Ndiaye, “uma artista muito disruptiva”, e Tita Maravilha, “outra artista trans que admiro imenso, com uma trajetória muito peculiar”. Espetáculo produzido pelo Teatro Nacional D. Maria II, Auto das Anfitriãs tem texto e encenação de Inês Vaz e Pedro Baptista, e insere-se nas comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões.

Úlulu
de 3 a 5 de abril
Teatro do Bairro Alto
Raquel Lima, poeta, artista transdisciplinar e investigadora de estudos pós-coloniais, cujas pesquisas têm por foco “memória intergeracional, movimentos afro diaspóricos e práticas contemporâneas de escape, abstração e cura”, responde pela direção artística e criação da terceira proposta de Gaya. Úlulu, o nome para placenta em forro, a língua são-tomense, perspetiva, segundo a coreógrafa e bailarina, “uma abordagem pouco convencional, que gera um olhar e uma possibilidade de resignificar essas temáticas, que aponta para algum tipo de solução ou esperança”.
O realizador e argumentista Edgar Ferreira começou por trabalhar para o departamento de marketing da Fundação Calouste Gulbenkian. Inicialmente foi-lhe proposto fazer um filme que desse a conhecer o propósito da Fundação. Foi este o ponto de partida para uma colaboração que dura há alguns anos e que, em 2023, deu origem ao documentário A Soma das Partes. O filme, estreado no aniversário dos 60 anos da Orquestra Gulbenkian, contava a história do agrupamento que tem um enorme relevo no panorama musical português.
Coro, o novo trabalho do realizador, chega aos cinemas dois anos depois dessa primeira longa-metragem, também com o intuito de celebrar as seis décadas do Coro Gulbenkian, dois anos mais novo que a orquestra. Para Ferreira “é um privilégio poder trabalhar com música. Há muitos mecanismos que consigo ver nos músicos ou nos coralistas, naquilo que é o trabalho artístico deles, que identifico com o meu. Temos as mesmas preocupações, procuramos alcançar um resultado artístico e isso implica todo um esforço.”

Em Coro conhecemos os rostos e as vidas, daqueles que formam o Coro Gulbenkian, daqueles que dão voz a um dos mais conceituados grupos do género, que conta com inúmeros concertos, discos e distinções. Surpreendentemente, muitas das pessoas que o integram têm outras profissões como principal ocupação, são professores, médicos, advogados, engenheiros, mas reúnem-se várias noites por semana para ensaiar e cantar a uma só voz.
Segundo o realizador, essa particularidade era essencial explorar, “perceber como é que um coro com esta reputação e com este reconhecimento internacional é formado por pessoas que têm outras ocupações e não estão a tempo inteiro dedicadas a isto. É algo extraordinário e incomum. Há muitos coros cujos coralistas têm outras ocupações, mas há poucos com reputação internacional em que os membros no final de um dia de trabalho se dedicam a um ensaio de mais de duas horas, em prol desta obsessão artística que é a produção de música em conjunto.”

As histórias pessoais de todos os que participam no documentário são fascinantes e a dedicação e a sensibilidade que transmitem são inspiradoras. A soprano Verónica Milagres é diretora da Rádio Miúdos e membro do Grupo Musical PortuGoesas, de origem indiana, encontra uma grande riqueza na diversidade do coro. O mesmo pensa o tenor e enfermeiro, Rui Miranda. A contralto Carmo Pereira Coutinho, é advogada e desde que integrou o coro a gestão do tempo é um desafio diário. Um desafio também sentido pela soprano Filipa Passos, ginecologista e obstetra. No fim, ambas concordam que o esforço compensa. Para José Bruto da Costa, baixo e musicólogo, e para Marisa Figueira, soprano e professora de música, há uma magia e um amor à música que são quase inexplicáveis.

Outras histórias, outras pessoas ficaram de fora, era impossível incluir o testemunho de todos os elementos do coro. Edgar Ferreira confessa-nos que “se começasse a fazer o filme agora, porventura poderiam ser outras pessoas a figurar no documentário. Há muitas histórias que ficaram por contar. Poderia ser outro filme, mas o que acaba por acontecer é que estas pessoas que participam são representativas das outras. O seu perfil surge em representação de um grupo mais vasto, e isso também é bonito. Tivemos a oportunidade de mostrar o filme ao coro e muitos deles afirmaram que os colegas tinham dito exatamente aquilo que também sentiam, ou pensavam. No fim, perceber que os que ficaram de fora, se reviam no testemunho daqueles que dão a cara fez todo sentido.”
O Coro Gulbenkian teve a sua primeira apresentação pública a 27 de maio de 1964. Entre 1969 e 2020, o maestro suíço Michel Corboz, figura marcante para o grupo, foi o Maestro Titular. Com ele interpretam, muitas vezes em estreia absoluta, obras contemporâneas de compositores portugueses e estrangeiros, nomeadamente as sinfonias corais de Gustav Mahler, que exigem uma grande capacidade instrumental e coral. Compositores como Fernando Lopes Graça, Croner de Vasconcelos ou Joly Braga Santos, entre outros, integram também o repertório vocal. A partir de 2024 Martina Batic passa a ser a maestra titular, Inês Tavares Lopes, maestra adjunta, e Jorge Matta, consultor artístico.

O filme não pretende, no entanto, ser um retrato histórico, mas sim um retrato íntimo, de pessoas únicas que formam um todo e onde inevitavelmente também se refere o passado. Para o realizador, “ainda que o documentário não tenha essa retrospetiva cronológica, há momentos históricos e havia necessidade de os abordar. Defini que a visão seria sempre uma visão interior, teria sempre de partir dos coralistas. Tudo o que sabemos sobre música, sobre maestros, sobre o trabalho que fazem, são os coralistas que nos contam em discurso direto, na primeira pessoa”. E, perante o filme, o público perceberá que “a melhor forma de retratar o coro, era precisamente através da diversidade, porque nenhum deles nos diz o que o coro é, mas, todos juntos, dão-nos uma visão daquilo que o coro pode ser.”
paginations here