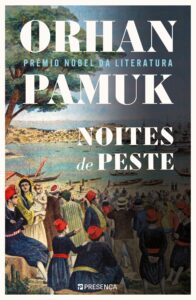
Orhan Pamuk
Noites de Peste
Orhan Pamuk nasceu no seio de uma família rica de Istambul, estudou no estrangeiro engenharia, arquitetura e jornalismo. Todavia, a partir de 1974, preferiu dedicar-se à literatura. Segundo a Academia Sueca, o autor foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2006 porque, “na busca pela alma melancólica da sua cidade, descobriu novos símbolos para o confronto e o cruzamento de culturas”. Pamuk assina uma obra que descreve as tensões da sociedade turca, entre o Oriente e o Ocidente, e tem-se, repetidamente, pronunciado contra os fundamentalismos e pelo entendimento entre as culturas. Uma mensagem cuja importância é mais do que evidente na atual conjuntura e que vale para todos os fundamentalismos: religiosos, políticos ou étnicos. Noites de Peste, o mais recente romance, é ambientado no ano de 1901. A terceira pandemia de peste bubónica, que começou na China e matou milhões de pessoas em toda a Ásia, chega à ilha de Mingheria, “a Esmeralda de pedra rosa”, 29.º estado do Império Otomano onde imperam as tensões entre ortodoxos e muçulmanos. Pamuk indaga as pandemias do passado nesta história de sobrevivência e luta sob as proibições da quarentena, a instabilidade política, a insurreição, o crime e as ânsias de liberdade. Presença

Rahel Sanzara
A Criança que se perdeu
Publicado originalmente em folhetim e posteriormente em livro no ano de 1926, A Criança Que se Perdeu é um dos primeiros romances psicológicos modernos, baseado num caso verídico que ocorreu na Alemanha do século XIX. Um jovem, filho de uma empregada de uma grande propriedade familiar, sente uma atração perturbadora por uma menina de 4 anos, atração que terá o homicídio como terrível consequência. Rahel Sanzara (1894-1936) bailarina, atriz e escritora, popular figura no meio artístico da República de Weimar, influenciada pelos diversos estudos de psicologia infantil, e pelas teorias de Freud, disseca na presente obra as causas e os efeitos do crime, da culpa e do perdão. Este romance perturbador e influente ganhou o Prémio Kleist, que a autora recusou, e foi um dos maiores best-sellers da primeira metade do século XX, traduzido em onze línguas. Sobre ele escreveu Peter Handke, Prémio Nobel de Literatura em 2019: “A capacidade de mergulhar no âmago da psique do criminoso e da vítima faz deste romance um precursor do policial psicológico e uma profunda meditação sobre a faculdade humana de perdoar.” E-Primatur
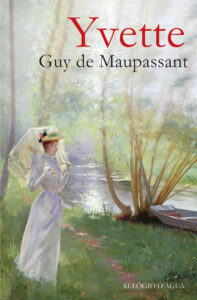
Guy de Maupassant
Yvette
Iniciado por Flaubert, que lhe ensina as exigências da estética realista, Guy de Maupassant (1850-1893) produz dois clássicos no domínio do romance – Uma Vida (1883) e Bel Ami (1885) – mas destaca-se principalmente como um dos melhores contistas de sempre, elevando o género à perfeição. Bola de Sebo, A Casa Tellier ou Mademoiselle Fiffi são obras-primas incontestadas do género. Alcança, através do seu estilo naturalista e da sua visão pessimista da existência, um poder e uma força raramente igualados. Minado pela sífilis, tenta suicidar-se antes de ser internado num manicómio, em 1892, onde acaba os seus dias. Segundo José Saramago, seu tradutor, Maupassant escreve “como se a si próprio se destroçasse, como se de si próprio se apiedasse”. Na notável novela Yvette, publicada em 1884, o elegante Jean de Servigny é um boémio que frequenta a sociedade da “aristocracia do cárcere” e da “prostituição dourada”. Nesse meio infame conhece a bela e misteriosa Yvette. Absolutamente desconcertado com o à-vontade tranquilo e triunfante da jovem, interroga-se: será ela um monstro de astucia e perversidade ou o mais maravilhoso fenómeno de inocência? Relógio D’Água

Paula Tavares
Poesia Reunida
Paula Tavares é uma escritora consagrada não apenas em Angola, Portugal e Brasil, mas em vários outros países onde se encontra representada em diversas antologias. Com 12 obras editadas – um romance, um dicionário em prosa afetiva, três livros de crónicas e sete títulos de poesia – a autora introduziu em Angola, desde Ritos de Passagem (1985), uma nova voz poética que repensa a questão da sexualidade reprimida das mulheres e não se exime de refletir sobre a crise que afeta o corpo social do seu país. A sua obra encontra-se, ainda, ligada aos sentidos profundos das origens e assume um sentido de resistência no que respeita à preservação das tradições. A presente edição reúne a poesia publicada de Paula Tavares e acrescenta ainda um livro de originais, Água Selvagem. Carmen Lucia Tindó Secco escreve no prefácio: “Herdeiro tanto das tradições orais angolanas, como da poesia de David Mestre em sua modernidade literária, o lirismo de Paula Tavares funde provérbios ancestrais do povo de Angola com dissonantes figuras de linguagem que primam por elaborado trabalho estético”. Uma obra poética que tem na figura da tecedeira uma metáfora recursiva: “Estico até à seda / o fio das palavras / as palavras são como os olhos das mulheres / fios de pérolas ligadas pelos nós da vida.” Caminho
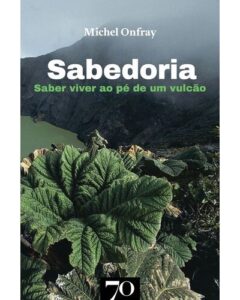
Michael Onfray
Sabedoria: Saber Viver ao Pé do Vulcão
“Vivo na província, na Normandia, longe das distrações mundanas de Paris. (…) Trabalho todo o tempo, sempre sozinho. Não tenho fins-de-semana, nem férias. Praticamente não vou ao cinema, nem ao teatro, nem à ópera, infelizmente. Viajo por todo o Mundo para fazer conferências e trabalho nos aviões e nos hotéis.” (Público, 13.05.2017) Assim se explica, e mesmo assim é merecedora de espanto, a produção literária do filósofo francês Michel Onfray (n. 1959), que já ultrapassou a centena de livros sobre os mais variados assuntos. Sabedoria: Saber viver ao pé de um vulcão tem uma densidade incomum num livro de autoajuda, e um sentido de aplicação prática invulgar para uma obra filosófica. Talvez resida aqui a chave para a popularidade de Onfray, além do conhecimento enciclopédico deste autor que se orgulha de ler exaustivamente a respeito dos indivíduos e dos temas sobre os quais se propõe escrever. Os ilustres romanos deste livro (Múcio Cevola, Plínio: o Velho, Séneca, Cícero, e vários outros) servem a Onfray para dar exemplos de como devemos enfrentar os desafios e as provações da vida, não o fazendo pelos seus escritos mas pelos atos de que foram protagonistas. [Ricardo Gross] Edições 70
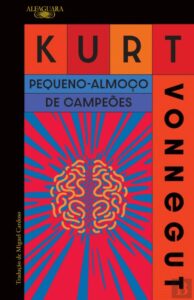
Kurt Vonnegut
Pequeno-Almoço de Campeões
Kurt Vonnegut (1922-2007), herói da contracultura americana, senhor de um estilo muito pessoal e imaginativo, apelidado de “wide screen baroque”, misto de pessimismo, sátira e humor negro, integra frequentemente nos seus livros elementos de ficção científica numa vasta reflexão sobre a guerra, a condição humana e a impossibilidade de falar verdade. Pequeno-Almoço de Campeões é um romance delirante que narra o encontro trágico entre Kilgore Trout, um escritor de ficção científica tão profícuo como anónimo, e Dwayne Hoover, um bem-sucedido vendedor de automóveis. Num dos seus livros, Trout desenvolve o conceito de que todas as pessoas no universo são robôs e que só uma é dotada de livre-arbítrio. O escritor descobre aterrorizado que Hoover, ao interpretar literalmente a sua teoria, está a enlouquecer. Tudo isto se passa, claro está, no planeta Terra onde não há “imunidade a ideias parvas”. Vonnegut cria mais uma sátira original e poderosa, tão seria quanto cómica, à sociedade norte-americana à beira da insanidade, tentando sobreviver, há tanto tempo, “com uma dieta de dinheiro e sexo e inveja e imobiliário e futebol e automóveis e televisão e álcool.” Alfaguara
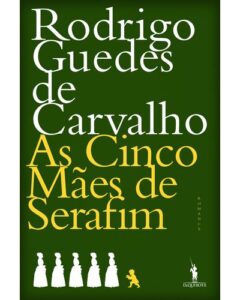
Rodrigo Guedes de Carvalho
As Cinco Mães de Serafim
Rodrigo Guedes de Carvalho regressa ao tema da família e da morte, em As Cinco Mães de Serafim, o seu mais recente romance. Passada entre a Foz do Douro e Gondarém, a história começa em 1923, com o nascimento de Maria Virgínia Landim da Silva, a mãe de Miguel Serafim, um filho tardio que pensava ter cinco mães, resultado da forma como foi cuidado pelas suas quatro irmãs – Benilda, com 20 anos, Bernarda com 17, Berenice, com 18, e Benedita, com 17. Educadas em casa pela mãe, que parecia querer escondê-las do mundo, Serafim foi o único que frequentou a escola, tendo-se tornado num exímio maestro por influência do pai. Entre saltos temporais, chegamos a 2023, ano em que Serafim completa 60 anos e se prepara para organizar, em conjunto com os seus dois melhores amigos, de quem se separou aos 19 anos, a festa do centenário da mãe. De sangue azul a ferver na guelra desde pequena, Maria Virgínia era uma mulher fria que não queria saber da opinião de ninguém, apenas ouvindo o seu primo, o padre Gonçalo Garcia, com quem partilhava segredos inconfessáveis que o filho quer agora deslindar. “Talvez a amizade seja um outro nome para família. Talvez a amizade seja um outro nome do amor.” Afinal, o que é uma família? [Sara Simões] Dom Quixote
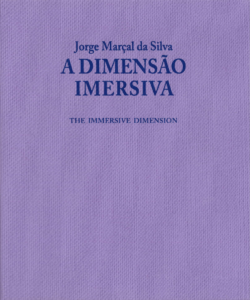
Jorge Marçal da Silva
A Dimensão Imersiva
Homem de grande cultura, Jorge Marçal da Silva nasceu em Lisboa, a 30 de junho de 1878, onde também viria a falecer. A par da profissão de cirurgião, Marçal era um melómano e apreciador de ópera, que desde cedo se dedicou à fotografia, revelando e preparando ele próprio as suas imagens no laboratório de fotografia que tinha em casa. De lugares e temas bastante variados, as suas fotografias constituem-se como “um património histórico, sociológico, etnográfico, cultural, um testemunho de um Portugal de há cem anos, num tempo muito diferente nas suas diversas realidades e contraste.” Entre 1906 e 1927 realizou centenas de fotografias estereoscópicas, que o Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico deu a conhecer na exposição Jorge Marçal da Silva – A dimensão imersiva, patente entre abril e setembro deste ano. Da mostra, resultou o presente catálogo que dá a conhecer a história pessoal deste cirurgião e fotógrafo amador, cujo rigor e gosto pela investigação inerentes à profissão aplicou à fotografia, e permite descobrir uma prática fotográfica pouco divulgada. Profusamente ilustrado, o livro contém uns óculos e um visor para que possa visualizar as imagens em 3D. CML – Divisão de Arquivo Municipal
Ao longo destes 20 anos, o que mudou na tua ficção e o quais são os elementos característicos da tua escrita?
Quando eu era adolescente, quem frequentava as livrarias era tendencialmente a classe média, classe média/alta. O livro democratizou-se, e ainda bem, para que todos os portugueses tenham acesso às livrarias e possam comprar livros. Por outro lado, isso também implicou que a literatura se tenha democratizado e encontrado vertentes que são hoje as coisas mais procuradas e que não é bem aquilo que eu faço. Tenho um público muito fiel e os meus livros vendem bastante bem, mas os autores que mais vendem em Portugal nem sequer são autores literários. A minha geração, que apareceu ali na viragem do século (final dos anos 90 e início de 2000) ajudou, de certa forma, a regenerar a literatura portuguesa, que era uma coisa um bocadinho estanque nesses tempos…
“Estanque”?
Tínhamos nomes que eram constantemente os mesmos ao longo de algumas décadas: Saramago, Lídia Jorge, Agustina, José Cardoso Pires, António Lobo Antunes, Vergílio Ferreira… A minha geração (que inclui também o Valter Hugo Mãe, o José Luis Peixoto, a Dulce Maria Cardoso e o Gonçalo M Tavares) foi quase obrigada a fazer qualquer coisa diferente. Era mesmo um requisito que fizéssemos alguma coisa diferente. Se não fosse assim, não havia espaço para nós. Levei muito tempo até conseguir encontrar aquilo a que chamamos de ‘voz própria’, uma coisa que não se sabe definir exatamente o que é, mas que é mais ou menos como a melodia na música. Podes andar vários anos na escola a aprender ritmo e harmonia se quiseres ser compositor ou músico, mas não aprendes o aspeto melódico da música, que é mais ou menos a mesma coisa do que quando dizemos que um escritor tem uma ‘voz própria’. Se eu for a uma livraria e me derem um livro sem que eu consiga ver a capa e o título, e se for o Saramago, eu sei que é o Saramago ao fim de quatro linhas. Ou o James Joyce ou a Virginia Woolf. Porque são autores que têm essa melodia inexplicável, que é uma espécie de figura mistério nesta tríade: temos o ritmo, a harmonia e o elemento misterioso. Estou a comparar com a música porque acho que a narrativa literária tem coisas muito parecidas com a posição em pauta. Coisas que se conseguem aprender na escola e outras que não se aprendem. Às tantas, são coisas que aparecem conforme vais evoluindo. De repente, aquilo aparece, não se sabe muito bem como.
Quando é que te apercebeste disso?
Apercebi-me disso quando estive a estudar nos Estados Unidos. Tinha um professor de Fiction Writing [escrita de ficção], a quem passei um ano a mostrar as coisas que escrevia. Levava pequenos contos, depois o princípio de uma narrativa, depois uma cena de um romance, etc. Ele dizia sempre que gostava ou que se percebia quais eram as minhas influências. Ao fim de um ano e tal, no segundo ano de aulas, levei-lhe uma coisa que tinha escrito e ele disse-me “isto é o princípio do teu primeiro livro. Tudo o resto que tu me trouxeste eu sei o que é. Isto eu não faço ideia do que seja”. Foi aí que percebi o que ele queria dizer. É nesses momentos que percebes que encontraste qualquer coisa que já estava lá, mas que ainda não tinhas capacidade para perceber. A minha tentativa de encontrar essa ‘voz’ foi sendo construída ao longo dos livros e do tempo, e depois os leitores começaram a identificar-me. Não sou um daqueles escritores que escreve para si próprio. Escrever dá muito trabalho, e eu gosto mesmo desse lado de saber o que os leitores acham. Não escreveria 20 livros para mim próprio. Se não tivesse tido feedback e conquistado um segmento de leitores bastante alargado não teria continuado a escrever com tanta energia.
És, de facto, um escritor muito prolífico. Isso deve-se a sentires uma dívida para com os leitores ou às exigências do mercado editorial?
Tenho um amigo que diz que sou compulsivamente criativo. Quando não estou entretido com uma narrativa começo a prestar atenção a coisas que não têm importância nenhuma. Começo a ficar entediado e a aperceber-me de que o mundo não é exatamente como eu gostava que fosse. Começo a prestar demasiada atenção aos vizinhos, ao ruído ou às finanças. Quando estou entretido com um projeto literário desvio a minha atenção para aí e a minha energia está concentrada, o que me deixa pouco tempo para enlouquecer, que é uma coisa fácil de acontecer [risos]. Não só a minha saúde mental está mais saudável quando estou a escrever, mas tenho várias áreas em que vou escrevendo, não é só o romance literário. É também o policial e os ensaios. Há uma gama variada de possibilidades e não sinto propriamente que estou em falta. Há também a questão da sobrevivência…
Já vives dos livros?
O período dos últimos dez anos foi quando me fixei mais obsessivamente na questão de ganhar a vida com os livros, que é um exercício difícil em Portugal. Tem de se trabalhar muito e fazer muitas coisas que são exteriores ao livro: viagens, encontros, sessões, ir ter com os leitores para que eles possam, de certa maneira, conhecer-me. Isso tem sido toda uma experiência passada entre os livros e o exterior. Tenho a noção de que, se quero viver disto, não posso ficar parado muito tempo. Não me posso dar ao luxo de publicar um livro a cada cinco anos. Para já, nunca seria esse tipo de escritor. Não é minha tendência ficar num livro durante cinco anos, não consigo. Preciso de coisas novas, novas situações, novas personagens, novos desafios e, por isso, não é bom para mim ficar muito tempo preso a um livro.
Como é a tua relação com os prémios?
A minha tendência é preocupar-me mais com a escrita. Quando as redes sociais invadiram a nossa vida, comecei a afastar-me porque percebi que me iam roubar muito do tempo que dedico à escrita. Claro que tenho dias em que estou mais atento às redes sociais e outros que estou menos, mas a minha tendência é ir-me afastando e profissionalizar as redes sociais. Aquilo é uma coisa distrativa, que serve para me manter em contacto com as pessoas e sobretudo com os leitores, mas não uso muito de modo lúdico porque me ia roubar o tal espaço para escrever, o que requer muita da minha energia e do meu tempo. Outra coisa que achei interessante com o surgimento das redes sociais foi a mudança no papel da crítica. A crítica tinha um espaço muito reservado na imprensa e tinha muito poder nos anos 1980 e 90. As pessoas iam muito pelo que os críticos diziam. Acho que a crítica até durou mais tempo do que devia ter durado com este poder e foi, entretanto, substituída pelo comentário. Se pensarmos bem, não há diferença nenhuma entre alguém que sabe muito de livros e que escreve no Expresso ou no Público e um tipo que sabe muito de livros e que escreve no Facebook. A verdade é que, grande parte das pessoas que escreve sobre aquilo que eu faço, não sabe muito bem o que está a dizer porque não é uma prática que grande parte dos críticos conheça ou tenha. A prática da narrativa enquanto ofício demora décadas a aprender. Essa é uma das coisas que acho engraçada e curiosa acerca do mundo de hoje. Devo ser, provavelmente, o autor português que foi mais vezes finalista dos prémios todos. Fui finalista para aí umas 20 e tal vezes, portanto já estou habituado a não ganhar prémios [risos]. Há coisas que não conseguimos combater, como estar agrupado contra bestsellers que, muitas vezes, nem pertencem à mesma categoria do que o que eu faço. Muitos são autores de autoajuda, por exemplo, não tem nada a ver com a minha escrita. Acho que em Portugal faz falta uma divisão das categorias. Claro que estou muito grato pelo Prémio Saramago que, em Portugal, é o único que abre muitas portas e que dá uma grande visibilidade. O facto de o ter recebido quando o Saramago ainda estava vivo foi uma grande recompensa. Era uma pessoa de quem eu gostava muito, adoro os livros dele. E o Prémio Fernando Namora, em 2021, também veio dar uma ajuda, mas já são muitos mais os prémios que não ganhei do que aqueles que ganhei.
Tens uma relação muito próxima com os leitores. O que retiras dessa cumplicidade?
Acho que aprendo muito com eles. Por exemplo, os dois livros de ensaios que publiquei nasceram dos meus diálogos com os leitores. De ir às bibliotecas, às escolas e a sessões pelo país fora. De conversar com as pessoas e perceber quais são as curiosidades delas em relação àquilo que faz um escritor. Essa curiosidade levou-me a fazer uma série de perguntas. ‘Porque é que escreve?’ é das perguntas que mais me fazem e é uma pergunta estranha, mas muito curiosa. Acabei por escrever dois livros de ensaios muito inspirado pelas perguntas e pelas conversas que fui tendo com os leitores ao longo do tempo e as preocupações parecem ser sempre as mesmas. São as pessoas que leem os meus livros, que gastam dinheiro a comprá-los e por isso devo-lhes essa atenção. A minha dívida de gratidão não é com os académicos nem com os críticos, é com os leitores. Claro que cada um faz a sua parte, mas quem sustenta aquilo que faço são os leitores. Sempre que posso vou tentando pagá-la estando próximo. A escrita exige muito de mim e da minha atenção. Uma das coisas mais tranquilizadoras acerca do processo de escrever e de envelhecer com isso, e de já estar nisto há um tempo considerável, é que, nos primeiros anos, estava sempre em constante dúvida sobre o que estava a fazer porque ainda não compreendia. Uma das vantagens de ter escrito estes livros todos e de escrever algumas partes de livros que não foram publicados é que, essa experiência, levou-me a um lugar em que eu compreendo o que estou a fazer. Essa compreensão é uma grande ajuda. Posso sentar-me à secretária e pode correr mal, pode ser algo de que às tantas me desinteresso ou vai por um caminho que não era o que eu queria… isso às vezes acontece, derrapo e escrevo 50 ou 100 páginas e o texto fica guardado no computador e nunca mais pego nele, mas eu compreendo. Esta compreensão demora muito tempo a chegar, mas quando chega é uma grande ajuda. Sento-me ao computador e conheço o ritmo e a harmonia, sei o que estou a fazer. Pode correr mal, mas sei. De tal maneira que já não consigo não fazer aquilo.
O que acontece a esses textos? Ficam esquecidos no computador sem terem uma segunda oportunidade?
Por exemplo, quando me pedem um conto, por vezes vezes descubro que essas experiências fracassadas lhe podem dar resposta. Vou lá, corto e limo. Nunca houve nenhuma ocasião em que eu tivesse começado a escrever um livro, escrevesse 100 páginas, desistisse e depois voltasse lá. Nunca sucedeu.

O teu mais recente livro, O nome que a cidade esqueceu, volta a ser escrito no feminino. Como resumirias este livro?
Inspirei-me num artigo que li no New York Times sobre um homem que foi encontrado morto pelos vizinhos. A história despertou a minha curiosidade. Vou guardando estas notícias pela casa e de vez em quando vou pensando nelas. No final de 2019 comecei a escrever o livro. Normalmente junto duas coisas que não têm união possível. Neste caso também me lembrei de uma história que apareceu já não sei onde, de uma rapariga que queria revisitar Nova Iorque pós-Guerra Fria. Decidi então escrever através dos olhos de uma rapariga que vem de um país que vive mergulhado numa guerra civil e que vai viver para Nova Iorque nos anos 90. É uma cidade que já não existe. Tal como Lisboa de 1990 também já não existe. Há algumas cidades que continuam a manter-se. Estive recentemente em Belgrado e a cidade parece ter parado no tempo: o modo das pessoas se vestirem, parece que estás nos anos 80, é engraçado. Mas há cidades que não param. Queria fazer essa revisitação, mas unir as duas histórias. Este homem morreu sozinho em casa. O que aconteceria se tentássemos descobrir como é a vida de uma pessoa que se fecha dentro de casa durante sete ou oito anos? Foi a partir daí que comecei a imaginar a história. Não quis apenas revisitar a cidade, mas também os temas de que gosto, entrando no livro através de uma voz feminina, que é algo que faço de vez em quando e que me dá alento.
É difícil para ti escrever a história do ponto de vista feminino?
Agora já não tanto porque fui aprendendo essa linguagem e já compreendo. Pode correr mal, mas eu compreendo o que estou a fazer. Quando me coloco na voz da Natasha, sei quais são as fronteiras e sei qual é a harmonia com que estou a jogar, que é completamente diferente da harmonia que agora estou a usar no policial que estou a escrever. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são registos completamente diferentes. Quando começo a compreender os registos torna-se tudo muito mais simples. É tudo uma questão de experiência e de ir estudando. Muito da escrita é estudo. Estudo de outros autores, de como é que eles cosem a narrativa, de como é que abordam aquela voz particular. Eu passo a vida toda a fazer a mesma coisa. Posso continuar a ter um público fiel que gosta do que eu faço, que gosta sempre do mesmo, mas eu não gosto. Preciso de novos desafios, senão sinto que estagnei e não quero estagnar.
Foi por isso que a dada altura tiveste interesse no romance policial?
Sempre tive. Desde miúdo que a minha grande paixão é o romance policial. Depois fui entrando noutro tipo de literatura e de geografias e comecei a gostar do romance mais literário. Quando comecei a publicar, o que me era pedido é que fizesse algo diferente e o policial certamente não era uma dessas coisas, embora em todos os meus livros esteja presente um bocadinho dessa instrução. Na adolescência, o policial era fascinante: o Sherlock Holmes, o Poirot, a Coleção Vampiro. Conforme fui crescendo, fui encontrando outras maneiras de me relacionar com a literatura, comecei a encontrar outros autores igualmente fascinantes, mas noutro sentido. Quando cheguei aos 40 anos, finalmente, aventurei-me. Tendo tido esta educação e tendo lido tantos policiais ao longo da vida, achei que o conseguiria fazer, mas só me atrevi depois de ter um percurso mais ou menos estabelecido como escritor. Se começas pelo policial – infelizmente vivemos numa sociedade e num meio literário pequeno – depois é difícil sair dessa categorização e passas a ser o escritor de romances policiais, e eu acho que sou muito mais do que isso.
Por ter uma estrutura mais ou menos fixa, não te sentes limitado?
Há alturas em que é bom ter essa estrutura porque um livro como este que publiquei agora, ou como O Naufrágio, o Ensina-me a voar sobre os telhados ou O Luto de Elias Gro, são livros densos do ponto de vista psicológico e difíceis do ponto de vista da construção. São romances voltados para o interior. De vez em quando, faz-me bem escrever qualquer coisa que tenha maior segurança estrutural porque torna-me mais leve. Um romance como este último, que é difícil nos temas e na abordagem das personagens, é um romance pesado de escrever e isso tem o seu preço. Num policial, por mais descabidas que sejam as situações, há um lado de divertimento de que também preciso. Nos romances mais literários, às vezes tenho pouco espaço para isso. Nos policiais tenho mais espaço para o divertimento, embora sejam mais difíceis de escrever.
Quem são as tuas maiores referências neste género?
Conan Doyle, Agatha Christie… Em Portugal, o Francisco José Viegas e o José Cardoso Pires. Fui buscando um bocadinho de tudo a todo o lado. Já gostei do Joel Dicker, agora não gosto tanto…
Tens os teus livros editados em países como Espanha, Alemanha, México, Argentina, França… em que outros países gostarias de os ver publicados?
Acho que os meus livros poderiam resultar bem em Inglaterra e nos Estados Unidos, mas são mercados difíceis. Normalmente são mercados de desilusão para os escritores portugueses. Fora o Saramago e o Fernando Pessoa, não são mercados onde os escritores portugueses tenham muito sucesso, passam um bocadinho despercebidos. O José Saramago ajudou a abrir essas portas com o Prémio Nobel, mas com o passar do tempo foram-se fechando. Podes até pôr no teu CV que tens livros publicados em 20 países, mas quando analisamos qual foi a repercussão, normalmente é muito pequena, o que acaba por ser um bocadinho frustrante. Nisso sou bastante realista: 85% a 90% dos meus livros vendem-se em Portugal. Em França e Itália os meus livros até venderam bem, mas a maioria do meu público está aqui. Não vou iludir-me e pensar que não é assim, por isso é em Portugal que aposto mais.
Que balanço fazes destes 20 anos?
O João de há 20 anos ficaria surpreendido com a quantidade de coisas que conseguiu fazer, com a quantidade de livros que conseguiu escrever e com os prémios que recebeu e para os quais foi nomeado. Isto de ser eterno finalista dos prémios também é bom sinal, é sinal que estou sempre a escrever e que estou sempre nas listas [risos]. Às vezes tenho dificuldade em olhar para o lado positivo das coisas, o que me leva a pensar “já devia estar muito mais à frente, já devia ter recebido o Prémio Nobel” [risos]. Isto é a minha cabeça doente que às vezes me diz estas coisas disparatadas. O João de antigamente veria o João de hoje com espanto e admiração, e o João de hoje às vezes olha para si próprio e acha que devia ter feito mais.
Quem conhece bem os teus livros fica com a sensação de que há muito de ti nas personagens. Isso não te deixa demasiado exposto?
É inevitável. Acho que não há outra maneira de se ser um escritor que tem o mínimo de empatia (não no sentido que é usado agora tão comummente, mas da possibilidade de estar perante coisas que causam repulsa ou aversão). Essas coisas que me causam aversão são coisas que também tenho em mim e que passam para as minhas personagens. Essa exposição dos lados mais sombrios e difíceis do ser humano é de onde parte a literatura. O Crime e Castigo [Fiódor Dostoiévski] parte daí. Parte daí o Moby Dick [Herman Melville] ou As Ondas da Virginia Woolf. Partem daí todos os clássicos da literatura. É daí que parte o Saramago, mesmo que os livros dele sejam escritos na terceira pessoa, o que provoca, naturalmente, algum distanciamento…
Tu escreves na primeira pessoa…
Sim, e isso provoca uma proximidade. Às vezes, as pessoas acham que eu passei pelas situações dos livros, mas essas coisas não me aconteceram, senão não estaria vivo. Mas há muitas das minhas características mais complexas que estão lá. Acho que isso é absolutamente essencial para um escritor. De certa forma, como dizia há dias o Primeiro-Ministro, um escritor também não tem amigos, no sentido em que os meus leitores não são meus amigos, mas eu posso privar com eles de uma outra maneira. Essa entrega é absolutamente necessária porque o contrário disto é ser um moralista, que é aquilo que hoje está um bocado em voga nos bestsellers, em que o escritor é uma espécie de pedagogo ou instrutor, como se os livros servissem para dar aulas ou lições. O mundo – e o nosso país em particular – está cheio de escritores/psicólogos/gurus. Eu não percebo isso, para mim isso não tem nada a ver com literatura. O contrário é eu abrir-me e ver onde me leva a experiência de tocar naquela ferida ou naquela parte do meu carácter que pode estar manifesta num personagem. É essa exposição – ou o desenrolar dessa narrativa (que não tem a ver comigo diretamente, mas eu conheço aquela experiência intimamente) – que leva a que o leitor se identifique. Há pessoas que leem à procura de socorro/ajuda e essas pessoas tendencialmente vão buscar outro tipo de livro que não são os meus. E há as pessoas que gostam de ler o tipo de livros que eu escrevo, que, parece-me a mim, são pessoas que procuram identificação, não procuram respostas. São duas coisas diferentes.
Paralelamente à escrita, desenvolveste o Projeto Maria Gibson, onde crias bandas sonoras para os teus livros. A música é outra grande paixão?
É muito instintivo. Não sou músico, não tenho instrução musical. Estudei contrabaixo no Hot Clube [de Portugal] quando tinha 15 anos e toquei durante muitos anos, embora sempre de uma maneira amadora. Às tantas, as minhas costas e a minha paciência já não davam para o contrabaixo. Entretanto, comprei uma guitarra feita em 1942, mas que foi reconstruída. Comprei-a na Gibson, nos Estados Unidos, e é um exemplar único. Achei o instrumento muito curioso quando soube a história: foi feita na fábrica antiga da Gibson, no Kalamazoo, estado do Michigan, numa altura em que os homens estavam todos na guerra. Foi a primeira e única vez que os instrumentos da Gibson foram feitos por mulheres, que ficaram conhecidas como as Kalamazoo gals, que, nesse período, fizeram as melhores guitarras que a Gibson alguma vez produziu. Comprei a guitarra e depois comecei a tocar e percebi que havia ali alguma coisa que era muito própria daquele instrumento, que tem um som que remete para uma paisagem desértica e para uma sonoridade country/americana/folk, e que havia ali uma possibilidade de dar uma instrumentação àquilo que eu escrevia. Foi uma tentativa de conseguir encontrar uma sonoridade própria para as minhas personagens, para os meus livros, que acabei por encontrar através de uma guitarra. Tenho outras que servem para outras coisas, mas foi naquela que fui encontrando o som que eu gostava que os meus livros tivessem, caso tivessem banda sonora.
Se não fosses escritor, qual seria a tua profissão?
Acho que seria compositor de bandas sonoras de filmes. É uma das coisas que gostava de fazer, embora, como disse, não tenha instrução musical suficiente para isso. Se eu tivesse dedicado à música metade do tempo que dediquei à escrita, acho que poderia perfeitamente fazer bandas sonoras. Às vezes, acho que os nossos talentos subaproveitados acabam por manifestar-se de outro modo.
O que andas a ler?
Estou a ler Estilhaços, de Bret Easton Ellis, e estou a gostar bastante. Acabei recentemente de ler The Lonely City, de Olivia Laing, que fala da solidão nas grandes cidades. E estou a ler o Misericórdia, da Lídia Jorge. Fiquei muito curioso para ler este livro quando ela ganhou o Prémio Médicis.
Em ano de centenário daquela que foi uma das figuras mais marcantes da vida intelectual portuguesa do século XX, multiplicam-se as homenagens e eventos artísticos em torno de Natália Correia. Amplamente citada tem sido a extraordinária biografia assinada pela escritora Filipa Martins, O Dever de Deslumbrar, publicada em março deste ano pela editora Contraponto. A chegada do espetáculo homónimo ao palco acabou por surgir da vontade expressa da autora e da atriz Teresa Tavares em desafiar Ana Rocha de Sousa, realizadora consagrada pela aclamada longa-metragem Listen (2020), que assim se estreia na encenação com uma peça onde o teatro se cruza com a linguagem da dança e com o vídeo.
Em cena, estão duas Natálias: uma mais jovem (Teresa Tavares), outra mais velha (Paula Mora) – e, de certo modo, há uma terceira, silenciosa na palavra, mas presente no gesto e no movimento, a “Natália onírica” interpretada pela bailarina Ana Jezabel. Segundo Filipa Martins, a ideia de colocar “uma Natália em diálogo com a outra Natália permite dar perspetiva, quer sobre a evolução da vida dela, quer sobre a evolução do seu pensamento”, numa conversa onde passado e presente se entrelaçam com o próprio futuro. “Neste diálogo, está a própria Natália a lançar um repto aos dias de hoje e a inquietar-nos”, refere, ao apontar que “o texto faz pontes com a contemporaneidade, abordando temas como a violência doméstica, crime que ainda hoje é dos mais frequentes em Portugal, ou a censura da palavra, que verificamos neste constante julgamento entre pares, nomeadamente nas redes sociais.”
Embora esteja a passar por um período de “muitas solicitações”, Ana Rocha de Sousa assume a escolha assertiva que fez ao aceitar o desafio de encenar O Dever de Deslumbrar. “Mergulhar no pensamento de Natália Correia foi vibrante. Ao fazê-lo, descobri uma mulher que é muito responsável pela liberdade de todas nós, por mulheres como eu ou a Filipa estarmos aqui, hoje, a fazer o que fazemos. Por tudo isso, somos todas Natálias.”
Personalidade absolutamente impar, da obra escrita, que percorreu os mais variados géneros literários – do romance à poesia, passando pelo teatro e pela filosofia -, à intervenção pública e política, a riqueza múltipla do legado de Natália Correia acaba por estar também presente no desenho do espetáculo, não só através do trabalho de dramaturgia de Filipa Martins, que cruza as suas próprias palavras com excertos da obra, como na encenação de uma artista multidisciplinar como Ana Rocha de Sousa. “Sendo Natália tão multidisciplinar, ela que até pintora foi, faria todo o sentido que este espetáculo também o fosse,” assume a encenadora.
E, como isto é teatro, a inesgotável Natália Correia, com toda a sua inquietação e irreverência, com toda a sua dor e fragilidade, com todas as facetas que surpreendentemente ainda hoje se descobrem, surge em cena como figura teatral de excelência. “Isso está no constante manifesto que lhe parecia ser tão natural, mesmo na vida privada, e que a colocava sempre como que à boca de cena”, lembra Filipa Martins. Assim, “é perfeitamente normal associá-la ao teatral”, pelo que é impossível não perceber em Natália o potencial de uma grande personagem dramática.
A confirmar em O Dever de Deslumbrar, no Clube Estefânia, entre 30 de novembro e 3 de dezembro.
O festival Vale Perdido quer afirma-se como lugar de “encontro de géneros musicais diferentes e de públicos diferentes”. Com curadoria de Joaquim Quadros (programador do VAGO e da LISA), do programador cultural independente Sérgio Hydalgo e de Gustavo Blanco (da Sónar Lisboa), a ideia foi, segundo Quadros, “criar um espaço de provocação ao próprio formato de festival.”
O criativo nome – Vale Perdido – surgiu por ter “um lado mais Disney, que pudesse provocar a imaginação e fazer esquecer um bocado a ideia de festival”. Os três curadores não deixaram nada ao acaso, já que o nome remete para o vale do Tejo e para “a ideia de Lisboa acabar por ser um canto meio esquecido pelo tempo.”

O cartaz inclui 13 propostas musicais “ecléticas e aventureiras”, provenientes de países como Cabo Verde, Estados Unidos da América, França, Japão, Lituânia, Portugal, Reino Unido e Uganda, incluindo estreias de artistas internacionais, como FUJI||||||||||TA; a apresentação de novos álbuns (Nihiloxica); regressos de nomes consagrados, com destaque para Luke Vibert e Kléo; novas colaborações, como a de Gabriel Ferrandini & Xavier Paes; e colocar foco na “efervescência nacional” (Batucadeiras das Olaias, DJ Caring, Maria Reis, Patrícia Brito, Polido, Ricardo Grüssll, Tadas Quazar e Violet).
Ao pensar no alinhamento, os programadores tiveram o cuidado de escolher artistas que “contassem uma história da primeira à última noite”, começando “com um ritual que passasse por vários momentos: pelo experimentalismo, pela tradição do ritmo e pela inovação do mesmo, pelas canções, pelo clubbing, do mais introspetivo ao mais carnal e eufórico”, ou seja, “que proporcionasse várias conversas culturais dentro de si mesmo. O Vale Perdido teria sempre de instigar uma intersecção de pessoas e música”, esclarece Joaquim Quadros.

Os concertos decorrem na Igreja St. George, no B.Leza, na LISA e no 8 Marvila, salas onde a música pode “respirar vários ambientes, refletindo diferentes linguagens e incitando o movimento de um lado para outro pela cidade. A LISA e o B.Leza são os mais óbvios, por serem salas com que trabalhamos, eu e o Sérgio, de forma muito próxima. A Igreja St. George por ser um sítio que já vive o circuito musical de Lisboa e por ser lindo de morrer. O 8 Marvila por ter condições de espaço, crueza, novidade e levar-nos para o outro lado mais marginal e alternativo de Lisboa. A energia do espaço de Marvila tem um ADN de nascimento que acompanha o nosso projeto também.”

A poucos dias do arranque desta primeira edição, Quadros esclarece que a ideia é o festival ter continuidade: “assim que o começámos a desenhar, imaginámos edições seguintes através de ideias e várias colaborações para concretizar. O Vale Perdido, mal apareceu como embrião, começou a ser pensado como um percurso contínuo e de crescimento”. Houve “muita música que ficou de fora, propostas artísticas que não realizámos este ano e que queremos fazer acontecer já na próxima edição. Não fazia sentido uma pontualidade, mas sim um começo.”
Para uma peça com 14 personagens como Tom Vinagre, a jovem encenadora Carolina Serrão optou por colocar em palco apenas cinco atrizes, sendo que quatro delas interpretam as personagens que morrem enforcadas ou queimadas, sob acusação de bruxaria: “Joan por ser uma mulher viúva, Alice por ser uma mulher livre, Susan por ser uma mulher que fez um aborto e Ellen por ser uma mulher que conhece as ervas”. Sobra apenas Betty, filha de proprietários rurais, que, por não querer casar, “é diagnosticada com histeria”, enfermidade comummente apontada às “mulheres de classe alta que não cumpriam os códigos éticos e morais vigentes.”
São estas cinco mulheres que, invertendo o ponto de partida da peça de Caryl Churchill, como que “reencarnam e contam a sua história pessoal”, passada na Inglaterra do século XVII, como se fosse aqui e agora, no palco de um teatro, com as cenas a serem pontuadas pela eletrónica de um live act de DJ Salbany.
Escrita em 1976, Tom Vinagre, ou Vinegar Tom no original, nasceu de uma colaboração de Churchill com a Monstrous Regiment, uma companhia de teatro assumidamente feminista, fundada apenas um ano antes na cidade de Cardiff, no País de Gales.

A partir do tema da “caça às bruxas”, a dramaturga construiu um texto admirável sobre uma época histórica, porém, empregando-lhe uma perturbante atualidade a que nunca é estranha a denúncia da opressão exercida por uma estrutura social patriarcal sobre as mulheres ao longo dos tempos. Como a própria autora assumiu, é “uma peça sobre bruxas sem bruxas”, ou, nas palavras de Carolina Serrão, uma peça sobre mulheres que pagaram com a própria vida “o serem diferentes, o não quererem comportar-se como a sociedade desejaria que o fizessem ou, mesmo, o serem pobres.”
O perigo de se ser mulher… e diferente
Tom Vinagre começa com o encontro amoroso de Alice com um desconhecido sobre quem, mais tarde, caiem suspeitas de ser o diabo. A jovem é filha de Joan, mulher viúva e dona do gato Vinegar Tom, que dá título à peça. Os seus vizinhos são os abastados Jack e Margery, agricultores e donos de terras, a quem a vida começa a correr mal subitamente. Em causa, uma peste que vitima os animais e uma série de problemas na leitaria. A isso, somam-se as constantes dores que assolam Margery e a impotência de Jack, posta a nu quando tenta violar Alice.
Como Deus não castiga “pessoas de bem”, o casal depressa procura uma justificação para tanto infortúnio. Nada mais fácil do que acusar Joan e Alice de bruxaria. Afinal, aquela mãe viúva de língua afiada e a sua filha tida como promiscua pelos aldeões são vítimas perfeitas para arcar com culpas alheias. Até porque não há figura masculina que as defenda.
Mas, em tempos obscuros, ter apenas duas bruxas não pareceria suficiente. Por isso mesmo, a comunidade acolhe de braços abertos a chegada de um reputado caçador de bruxas. Através do terror e da tortura, depressa se descobrem outras mulheres cuja acusação de bruxaria se configura na fuga à norma, na prática do aborto ou no interesse pelo saber.
Tal como Churchill apontou na sinopse que assinou para a estreia da peça, há quase 50 anos, neste tempo e neste lugar “é perigoso ser-se mulher sem um marido; é perigoso ser-se mulher e diferente; é perigoso ser-se mulher e usar ervas medicinais (…)”

Assumindo o espetáculo não apenas como objeto artístico, mas também como parte do seu ativismo feminista militante, Carolina Serrão conta que, “para além da profunda admiração por Caryl Churchill, a escolha desta peça passou muito pela leitura de um estudo de Silvia Federici”. Em O Calibã e a Bruxa, a filósofa italiana radicada nos Estados Unidos sustenta que “a caça às bruxas foi um dos acontecimentos mais importantes para o desenvolvimento da sociedade capitalista”, uma vez que, na fase final do feudalismo, “as mulheres assumiam muitas vez a liderança na luta e na resistência do campesinato europeu contra a tomada de terras por parte da nobreza e do Estado, e que estão na origem do capitalismo moderno.”
“A campanha de terror contra as mulheres foi incomparavelmente maior do que qualquer outra perseguição”, sublinha a encenadora ao lembrar que, como observou a escritora portuguesa e fundadora do Movimento de Libertação das Mulheres, Madalena Barbosa, “o número de mulheres queimadas na Europa durante três séculos chega a ser avaliado em nove milhões.”
Nos dias de hoje, em pleno século XXI, é com preocupação que Carolina Serrão verifica “tantos sinais de retrocesso quanto aos direitos das mulheres, inclusive no mundo ocidental”, lembrando, a exemplo, a reintrodução de leis de criminalização do aborto em vários Estados norte-americanos. Por isso, sublinha ser em nome do “combate pela igualdade de género e pela denúncia desta sociedade patriarcal que continua a domesticar os corpos”, que encenar este “texto maravilhoso” de Caryl Churchill é também “dignificar o legado das feministas que vieram antes de mim.”
A partir da tradução de Vera Palos, Tom Vinagre é um espetáculo interpretado por Catarina Marques Lima, Diana Narciso, Lúcia Pires, Márcia Cardoso e Mariana Branco, com cenário de Fabíola Emendabili e Frederico Pauleta, desenho de luz de Rui Seabra e figurinos da própria Carolina Serrão. Estreia dia 8 no Teatro do Bairro, permanecendo em cena até 26 de novembro.
O Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival decorre entre 9 e 16 de novembro no Cinema S. Jorge, com um programa que inclui 57 filmes de 22 países. O objetivo mantém-se: divulgar o cinema feito por mulheres oriundas de países do Mediterrâneo. Questões de género, racismo, colonialismo, terrorismo e radicalização, acesso à habitação, mas também histórias pessoais e familiares são os temas presentes nas várias obras exibidas. Este ano, a Turquia é o país homenageado com uma retrospetiva de filmes de cineastas turcas na Cinemateca Portuguesa.
A Agenda Cultural de Lisboa convidou seis realizadoras portuguesas a refletirem sobre os desafios e perspetivas das mulheres no cinema e, claro, que nos falassem sobre os filmes que apresentam nesta edição do festival.
Cláudia Clemente
Quatro Mulheres ao Pé da Água, exibe a 10 novembro, às 21h30
Nasceu no Porto onde estudou arquitetura, porque o cinema não era levado a sério pela família para prosseguir uma formação superior. Foi arquiteta durante 13 anos, mas, paralelamente, estudou cinema. Realizou o primeiro filme em 2007.
Sobre o papel das mulheres na realização considera que este é um mundo de homens e por isso é sempre um desafio. Quando afirmam que as mulheres “são dadas” ao documentário, porque permite uma visão mais intimista, discorda: “Fazemos mais documentário porque implica menos meios, equipas mais reduzidas e menos custos. É preferível trabalhar este formato do que não realizar, mesmo quando se prefere fazer ficção.” Há um lobby masculino que dificulta a entrada das mulheres mas, por outro lado, concorda que as coisas estão diferentes e que hoje mais realizadoras vingam na profissão.
Procura no seu trabalho dar protagonismo às mulheres. Preocupa-a o facto de a partir de uma determinada idade, ou por serem de origem africana, não conseguirem papéis como protagonistas. Foi com isso em mente que escreveu Quatro Mulheres ao Pé da Água onde as protagonistas – Maria do Céu Guerra, Lara Li, Ana Padrão e Mina Andala – têm todas mais de 50 anos. A história acompanha os relatos que as quatro fazem de um homem que morreu e a quem estavam ligadas de forma diferente.
Leonor Rocha Oliveira
Borderline exibe a 9 novembro, às 19h30
Quando terminou o 12.º ano entrou na Faculdade de Belas Arte, em Arte Multimédia, e foi no final do curso que percebeu que queria seguir cinema. Inscreveu-se na Licenciatura de Cinema, na Universidade Lusófona, ainda sem saber bem qual dos ramos pretendia. Borderline, a curta-metragem que realizou sozinha durante a pandemia e que serviu, também, como trabalho final de uma das cadeiras do curso, foi determinante na decisão de ser realizadora.
Começou recentemente a trabalhar num segundo filme e, por isso, a sua experiência no meio profissional do cinema é praticamente nula, no entanto, afirma que no meio académico sentiu que, tanto professores, como alunos, preferiam ter um rapaz no cargo de realização. Ser rapaz conferia credibilidade. “Achei curioso que houvesse uma maior confiança quando era um rapaz a liderar. Eu queria esse papel e nunca o consegui.”
Foi também por isso que decidiu escrever, realizar e filmar a curta Boderline, completamente sozinha. O filme, que reflete sobre o que mais afeta a vida da realizadora, o distúrbio de personalidade borderline, venceu a Melhor Curta-Metragem Documentário, nos Prémios Sophia Estudante 2022 e foi exibido em festivais no Brasil e Nova Iorque. Considera que a questão da saúde mental é um tema muito desconfortável para a sociedade portuguesa e isso é uma enorme motivação para falar do assunto. Aliás, são os temas mais desconfortáveis que a desafiam e dos quais pretende falar nos seus filmes futuros.
Ânia Bento
A Temporary Situation exibe a 10 novembro, às 17h
Teatro, dança e fotografia já faziam parte da vida de Ânia Bento, faltava explorar a imagem em movimento. Resolveu por isso deixar o Algarve, onde nasceu e vive, e vir para Lisboa estudar cinema na Cascais School of Arts & Design. Quando terminou o curso, em 2022, teve a certeza que queria escrever e filmar, mas percebeu que é muito difícil entrar no meio: “Não há respostas, nem apoio. É como se existisse um muro entre quem chega e quem já lá está.”
No entanto, a vontade de fazer um filme era grande e mesmo sem meios, apenas com o telemóvel, começou a filmar a sua realidade enquanto vivia em Lisboa, longe da terra natal. “Fiquei chocada com o que via: pessoas a comer do lixo, a dormir na rua, a viver em tendas… Trabalhamos 12 ou 14 horas e não chega, vivemos com uma dívida constante. É sufocante!”. A Temporary Situation, documentário que nomeou com alguma ironia, nasceu da vontade de dar a conhecer as suas dificuldades, que são também as de tantas outras pessoas. “A arte em geral e o cinema são essenciais para dar voz a este tipo de problemas.”
Independentemente do género ou da idade, acha que todos têm coisas interessantes para dizer. No entanto, considera que vivemos ainda numa sociedade machista e essa é uma questão que lhe interessa. Futuramente gostaria de abordar o tema, através de um filme que refletisse sobre o corpo da mulher e o porquê de tantos homens continuarem a oprimir ou assediar as mulheres.
Cátia Alpedrinha e Catarina Eduardo
Natan exibe a 9 novembro, às 17h
Conheceram-se no curso de realização da ETIC e a ligação foi imediata quando descobriram que tinham tirado um curso de fotografia, na mesma instituição, com 20 anos de diferença. A Catarina estava a nascer quando a Cátia iniciava o curso.
Para a realização do documentário académico Natan, que aborda o tema da exclusão social, através da história do jovem Natan, a partilha de uma estética e dos temas a abordar foram determinantes. Também a realização surgiu na vida de ambas, um pouco, pelas mesmas razões: a fotografia já não chegava e era necessário dar movimento às imagens, faltava um lado sinfónico e uma essência própria das personagens.
Relativamente à presença das mulheres na realização, Cátia Alpedrinha considera que ainda há um longo caminho a percorrer. “Já sentia que a fotografia era uma profissão de homens e nessa área as coisas estão hoje muito diferentes, houve progressos, mas no cinema e na publicidade os circuitos continuam muito fechados às mulheres.”
Foi com o objetivo de lutar pela paridade e defender as mulheres que trabalham no cinema e audiovisual que foi criada a MUTIM, associação da qual Cátia é associada. Na opinião de Catarina o departamento onde se quer chegar faz toda a diferença: “Vêem-se muitas mulheres na produção, mas na parte técnica é difícil. Num estágio que fiz, referi que tinha como objetivo a direção de fotografia, disseram-me que devia rever os meus objetivos. Era a única mulher no estágio e nunca consegui chegar perto de uma câmara.”
Eliana Caleia
Dentu Zona exibe a 11 novembro, às 16h
Quando terminou o ensino secundário, na área das artes, não tinha ainda uma perspetiva definida sobre qual o percurso académico a seguir. A licenciatura em cinema cativou-a e resolveu concorrer, acabou por entrar no curso de Cinema da Universidade Lusófona. Foi no último ano que a realização assumiu um papel mais preponderante e que sentiu que era o que queria fazer.
Dentu Zona, filme que realizou no âmbito da cadeira de documentário, é o seu primeiro trabalho. O documentário, que retrata um dia na vida de Vítor Sanches, proprietário de uma livraria, no bairro da Cova da Moura, foi buscar o título à expressão do crioulo cabo-verdiano “dentu zona” que significa “no bairro”.
Enquanto mulher, sente que por vezes não a levam a sério e sendo uma mulher negra a situação torna-se ainda mais difícil. A sua experiência reflete a vivência académica, uma vez que ainda não teve contacto com o meio profissional. No futuro, enquanto realizadora, afirma que pretende abordar questões sobre identidade e memória. “O Dentu Zona foi um ponto de partida para mim pois trata-se de um espaço que contraria a ocultação das pessoas que vivem na periferia, nomeadamente os africanos da diáspora, de forma a mostrar que aqueles corpos existem desocultando-os e às suas histórias. E, é esse o mesmo efeito que quero que futuros projetos meus tenham.”

Simone de Beauvoir
Memórias de uma Menina Bem-Comportada
Simone de Beauvoir (1908-1986) partilhou a vida e a filosofia existencialista com Jean Paul Sartre. Viviam separados, numa “relação aberta”, pois Simone, como feminista, rejeitava o casamento e a noção de família convencional. De Beauvoir escreveu novelas (O Mandarim, de 1954, ganhou o Prémio Goncourt), ensaios e contos sobre temas políticos e ideológicos, do colonialismo ao comunismo, do papel do intelectual na sociedade à análise da existência humana. Em 1949, publicou O Segundo Sexo, estudo sobre a história da opressão da mulher, no qual denunciava a noção de “eterno feminino” como um mito calculado para perpetuar o domínio patriarcal. As Memórias de uma Menina Bem-Comportada descrevem os seus primeiros 21 anos e a construção de uma identidade. A sua educação no seio de uma família burguesa empobrecida e o seu inconformismo face à sociedade da época, fomentado pela sua relação com a literatura e a filosofia e pela influência de algumas ligações humanas fundamentais. A sua orientação no sentido de um compromisso social e filosófico (sempre o motor da sua existência) e na determinação do seu próprio destino. Simone que, após a publicação de O Segundo Sexo, tinha sido percecionada pela crítica como uma mulher amarga e desencantada, revela nestas páginas o seu intenso prazer de viver. Quetzal
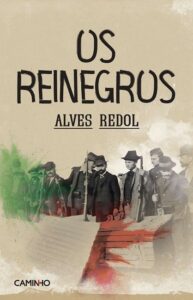
Alves Redol
Os Reinegros
Alves Redol (1911-1969), membro destacado do neo-realismo português, introduziu no movimento uma vertente documental com forte influência etnográfica com o romance Gaibéus (1939), nome dado aos camponeses da Beira que iam fazer a ceifa do arroz ao Ribatejo. Os Reinegros é um romance póstumo do escritor cuja ação decorre na década entre o Regicídio e o final da Primeira Grande Guerra. Descreve as mudanças sociais que contribuem para as identidades e tomadas de consciência que os personagens, Alfredo e Julia Reinegro, adquirem ao longo da narrativa. Procurando sobreviver numa época de grandes convulsões sociais, Alfredo, estivador no porto de Lisboa, abraça ferverosamente a causa republicana na busca de um mundo melhor. Apesar da passagem do tempo, as condições dos mais desfavorecidos não mudam, levando-o a partilhar o seu desencanto com os camaradas: “A república deve ser uma coisa bonita. (…) Mas não chega à gente, fica lá muito por cima”. Contudo, face à Revolta Monárquica de Monsanto, resolve juntar-se de novo aos que se dispõem a oferecer a vida para que a republica não morra, “esquecendo todos os agravos e injustiças daqueles anos.” Caminho
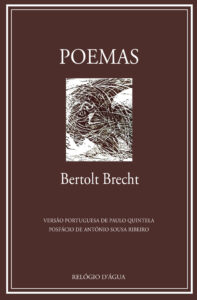
Bertolt Brecht
Poemas
Bertolt Brecht (1898-1956) é um dos nomes cimeiros do teatro épico que se opõe, quanto aos fins que pretende atingir, ao teatro clássico. Através do efeito de distanciação privilegia a narração e nega qualquer princípio de ilusão. Ao ator compete representar a ação e não vivê-la e ao espectador tomar uma posição crítica relativamente ao que vê sem reagir emocionalmente. Mas, como escreveu Jorge de Sena, Brecht “foi também um grande poeta quer na poesia que escreveu a vida inteira, quer nos poemas que intercalou (…) nas suas peças”. Este volume acolhe a totalidade das versões brechtianas do ilustre tradutor Paulo Quintela, apresentando-as numa ordenação cronológica. Quintela tinha o propósito de apresentar ao leitor português uma perspetiva muito abrangente da produção lírica de Brecht, tendo no conjunto traduzido mais de 400 dos seus poemas. Entre eles, estes belos versos de forte pendor confessional intitulados Eu, o Sobrevivente: “Sei naturalmente: só por sorte / Sobrevivi a tantos amigos. Mas a noite passada em sonho / Ouvi estes amigos dizerem de mim: ‘Os mais fortes sobrevivem’ / E odiei-me.” Relógio D’Água
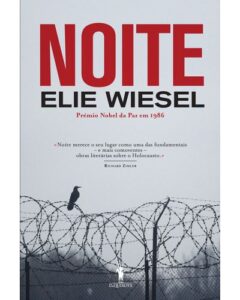
Elie Wiesel
Noite
Uma questão se impõe face a este título: o que poderá um livrinho de pouco mais de 100 páginas acrescentar a uma tão vasta literatura sobre o Holocausto? O grande escritor francês François Mauriac, no prefácio a esta edição, procura dar-lhe resposta identificando dois elementos únicos na obra. Em primeiro lugar, a descrição da cegueira dos judeus da cidade de Sighet, na Transilvânia, “diante de um destino do qual teriam tido tempo de fugir mas ao qual, com uma passividade inconcebível, se entregaram, surdos às advertências, às suplicas de uma testemunha que escapou ao massacre e lhes narrou o que tinha visto com os próprios olhos”. Em segundo lugar, a revelação da morte de Deus na alma de uma criança de 14 anos que descobre o mal absoluto: “nunca esquecerei aqueles momentos que assassinaram o meu Deus e a minha alma, e que transformaram os meus sonhos em cinzas. (…) Nunca esquecerei aquelas chamas que consumiram para sempre a minha Fé”. Noite, de Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração, Prémio Nobel da Paz em 1986, é um relato comovente e lúcido de uma descida aos infernos que transformou seres humanos em “almas malditas errando no mundo do nada, (…) à procura da sua redenção, em busca do esquecimento – sem esperança de o encontrar.” Dom Quixote

Hervé Guibert
A Imagem Fantasma
Hervé Guibert foi um escritor e crítico francês que morreu aos 36 anos de uma intoxicação farmacológica, quatro anos após ter sido diagnosticado com SIDA. A presente recolha de textos sobre fotografia, uma das suas paixões, teve a primeira edição em 1981, vindo a tornar-se uma obra de culto para os estudiosos da imagem. “Ela fala da fotografia de uma forma negativa, fala apenas de imagens fantasma, de imagens que não apareceram, ou então de imagens latentes, imagens íntimas ao ponto de serem invisíveis. Também se torna como uma tentativa de biografia através da fotografia: cada história individual é duplicada pela sua história fotográfica, feita imagem, imaginada”. Os 64 breves ensaios aqui presentes recaem muitas vezes naquilo que podemos designar por autoficção. A clareza da escrita, de uma objetividade que não tem receio da crueza, era a forma do autor imprimir a sua personalidade em tudo o que fazia. Hervé Guibert era alguém que não tinha medo de se mostrar, nem escondia o seu fascínio consigo mesmo. RG BCF Editores

W. B. Yeats
As Tábuas da Lei
W. B. Yeats (1865-1939) notabilizou-se como poeta nacionalista irlandês e como escritor simbolista de inspiração visionaria e mística. A sua poesia caracteriza-se pelo espiritualismo e esoterismo e centra-se na paixão pelo folclore irlandês, mitos e lendas celtas. Apesar de acompanhar a sua carreira, da juventude à maturidade, a ficção ocupa uma parcela reduzida dentro da produção literária de William Butler Yeats. A ficção passa pelas mesmas fases que a sua poesia ou ensaísmo. Assim sendo, o leitor encontra contos e novelas mais tradicionais a par de alguns mais poéticos ou místicos. Uns de simples compreensão, outros que exigem alguns conhecimentos da cultura tradicional e mitologia irlandesas, outros ainda baseados no oculto tão presente na sua obra. Yeats inspira-se nas lendas celtas e no folclore irlandês para dotar os seus personagens de dons quase divinos, como é o caso do Ruivo Hanrahan (que surge em cerca de uma dezena de contos), apresentado como um fanfarrão bebedolas, que, ao mesmo tempo, parece ter poderes sobrenaturais. Esta edição reúne mais de 25 contos e novelas do autor, bem como a versão mais completa do seu romance biográfico inacabado. E-Primatur
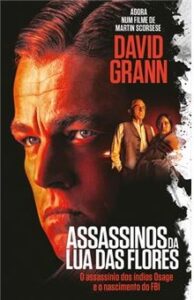
David Grann
Assassinos da Lua das Flores
No início de 1870, os índios da Nação Osage foram expulsos das suas terras no Kansas e levados para uma reserva rochosa sem qualquer valor aparente. Contudo, passadas algumas décadas, sob esse solo rochoso descobriram-se as mais vastas jazidas de petróleo dos Estados Unidos da América. Em 1923, os Osage eram considerados o povo mais rico per capita do mundo. Subitamente começam a ser mortos: o povo mais rico estava a tornar-se o mais assassinado. O caso é levado ao recém-criado FBI, e o seu jovem diretor J. Edgar Hoover cria uma equipa secreta para investigar o caso. Este livro segue a investigação que expõe um bando organizado com o objetivo de matar com veneno, balas e bombas os herdeiros Osage dessas terras ricas em petróleo. O jornalista David Grann resgata esses crimes hediondos, que foram apagados da história do seu país, e constrói uma narrativa americana modelar baseada na supremacia branca, no ódio racial, no homicídio, na corrupção e na ganância. Paralelamente, descobre uma conspiração mais profunda e aterradora que o FBI nunca expôs. Relato impressionante, agora transposto para o cinema por Martin Scorsese. O cineasta, um dos membros da geração da Nova Hollywood com maiores pretensões autorais, volta a demonstrar, com esta penosa adaptação, que a sua obra perdeu todo o fulgor criativo. Quetzal
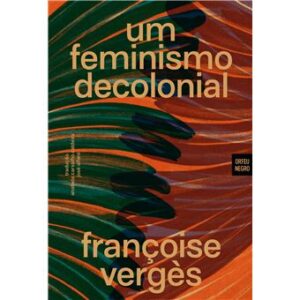
Françoise Vergès
Um Feminismo Decolonial
Importa, antes de mais, clarificar o uso do vocábulo “decolonial”. Como se lê na nota de tradução da presente obra: “A “descolonização” é associada ao momento de desvinculação das antigas colónias. No entanto, a colonialidade e a lógica colonial perduram, não terminam de um dia para o outro com o fim do colonialismo e com o processo (histórico administrativo e politico) de independência”. É isso que Françoise Vergès, politóloga, historiadora e especialista em estudos pós-coloniais, põe a nu neste livro sobre o trabalho de milhões de mulheres racializadas e sobre-exploradas que limpam o mundo em que vivemos. Sem o seu trabalho, milhões de empregados e agentes do capital, do estado, do exército, das instituições culturais, artísticas e científicas não poderiam ocupar os seus escritórios, comer na cantinas, ter reuniões, tomar decisões em espaços asseados. Trabalho indispensável, mas que se procura manter invisível (executado geralmente à noite ou de madrugada) para evitar a consciência de que é marcado pela raça e pelo género, revelando o passado colonial e esclavagista da sociedade ocidental. A autora denuncia esta opressão normalizada e desafia-nos a combatê-la, criando as condições para um feminismo político e emancipador. Orfeu Negro
Lembra o encenador e diretor artístico da Comuna, João Mota, que Isabel I terá encomendado a Shakespeare, na viragem do século XVI para o século XVII, uma comédia que tivesse como protagonista Sir John Falstaff, o anafado cavaleiro surgido em Henrique IV. Fanfarrão, cobarde, egocêntrico e beberrão são apenas alguns dos adjetivos passíveis de usar para o caracterizar. Foram assim tão baixas “virtudes”, o suficiente para tornar o bufão Falstaff numa das personagens mais célebres da cultura ocidental e, provavelmente, a mais famosa das personagens cómicas do teatro de Shakespeare. Como exemplo, basta lembrar que “notáveis” como Verdi e Orson Welles não conseguiram escapar à sedução deste personagem que, como dizia Harold Bloom, tomara “vida própria e roubado a cena” aos demais, tornando-se o centro das atenções nas duas partes da peça Henrique IV.
A popularidade desta magnifica “encarnação do vício”, com todo um lado cómico irresistível que o aproximava do homem comum, levou Shakespeare a coloca-lo diretamente no centro da ação e a escrever a comédia As Alegres Comadres de Windsor, estreada em 1602.

Na peça, Sir John Falstaff chega a Windsor completamente falido, mercê de uma vida viciosa e boémia. Crente em não deixar as suas capacidades por mãos alheias, decide dar resposta aos problemas financeiros que o apoquentam seduzindo as senhoras Ford e Page, mulheres casadas com os homens mais abastados da cidade. No entanto, o que Falstaff desconhece é que ambas são comadres e partilham entre elas os segredos mais íntimos, estando convictas, como dizem, que “duas mulheres juntas valem mais do que o próprio diabo.”
Para complicar a situação do fanfarrão, o marido da senhora Ford é um ciumento obsessivo, capaz de não deixa pedra sobre pedra no intuito de evitar que a sua amada o traia. Para além de uma capacidade quase animalesca de farejar o adultério, o senhor Ford é um mestre no disfarce. Será assim através dessa arte que acaba por um encontrar um engenhoso estratagema para antecipar as movimentações de Falstaff.
Entretanto, na casa Page, a filha Anne atinge a idade de casar e os pais estão apostados em conseguir o melhor pretendente. Contudo, nenhum dos possíveis noivos agrada à jovem donzela cujo coração já tem dono. Há então, que recorrer à astucia e ao engano. Mas, tudo pela mais nobre das causas, ou seja, o triunfo do amor.

Pensada para ter sido levada a cena no D. Maria II aquando da sua passagem enquanto diretor artístico do Teatro Nacional (tendo João Perry no papel de Falstaff), João Mota cumpre agora, na “sua” Comuna, o sonho de dirigir As Alegres Comadres de Windsor. Baseando-se na versão de Francisco Ribeiro (Ribeirinho) – encenada, precisamente, no D. Maria II em 1978 –, Mota sublinha que a peça é “um hino à inteligência das mulheres. São elas que desarmam a personificação do pecado, da luxúria e do dinheiro que está tão presente em Falstaff.”
Ao mesmo tempo, o histórico encenador destaca “o lado brejeiro do teatro quinhentista” que tanto lhe agrada e transforma a comédia “na farsa”. Nesse sentido, As Alegres Comadres de Windsor torna-se um divertimento frenético onde a cupidez e a irracionalidade do ciúme são derrotadas através do poder mágico do amor, sublinhado num final feliz que é aqui encaminhado cena a cena pela música de Mozart.
Protagonizado por João Grosso, em Falstaff, e pelas atrizes Maria Ana Filipe e Margarida Cardeal, nos papéis das cobiçadas “comadres”, o espetáculo conta com um notável elenco de secundários composto por Almeno Gonçalves, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, Luciana Ribeiro, Miguel Sermão, Luís Gaspar, Sofia Maduro Grilo e Rogério Vale.
Há quantos anos se conhecem?
Samuel Úria (SU): Há mais de 15 anos. Conhecemo-nos por intermédio de amigos. Na altura eu estava a viver em Évora e trabalhava numa agência de marketing e comunicação. Tinha uma colega de Braga que tinha sido namorada do B Fachada, que sabia que eu fazia música e pôs-nos em contacto. O B Fachada era amigo do Luís e falou-me nele. Encontrei-o no MySpace, essa rede social extinta…
Benjamim (B): Na altura, o Samuel mandou-me a canção Barbarella e Barba Rala. Foi logo amor à primeira audição e mandei-lhe uma mensagem de fã pelo MySpace [risos].
SU: Na verdade, fomo-nos encontrando porque acabámos por frequentar os mesmos sítios, como o Cabaret Maxime, que era um sítio muito agregador, dávamos muitos concertos por lá. Mesmo não tocando juntos, éramos próximos de pessoas com quem um e outro tocava.
B: Fazíamos parte do mesmo ecossistema…
Em janeiro deste ano, atuaram no Maria Matos no ciclo de concertos Conta-me uma Canção. Foi o primeiro que deram juntos?
SU: Enquanto dupla sim, foi a primeira vez…
B: Embora já tivéssemos feito uma perninha nos concertos um do outro.
Esse espetáculo tinha um formato muito próprio, em que tocavam músicas um do outro e conversavam sobre elas. Foi aí que surgiu a ideia para este concerto que agora levam ao Tivoli?
B: Há uns dois ou três anos enviei um email ao Samuel com uma ideia musical básica, ao piano, a trautear uma melodia sem letra. Perguntei se ele não queria fazer uma letra para aquela canção mas, como não havia urgência o assunto ficou adormecido. Quando estávamos a ensaiar para o Conta-me uma Canção, perguntei se ele não queria fazer a letra para a canção que lhe tinha enviado e ele respondeu que já a tinha escrito. Andei quatro semanas a chateá-lo para me enviar a letra e isso acabou por ser o mote para sairmos do registo do Conta-me uma Canção, que era um formato que servia para várias duplas, e para assumirmos um concerto que não é só uma conversa, mas sim um diálogo musical assente numa colaboração concreta.
SU: Apesar de tudo, no Conta-me uma Canção, embora colaborássemos em algumas canções, o formato era mais segmentado. Ora tocávamos uma canção do Luís, ora uma minha. Agora a ideia é estarmos ambos a tocar as canções quase como se fossemos uma banda com dois autores.
Estão a referir-se ao tema Os Raros. Como foi o processo de criação?
B: Eu já tinha a base musical desta canção há muito tempo… para mim, foi libertadora a experiência de ter alguém a trabalhar a letra de uma canção – que é uma coisa tão íntima –, apropriar-se dela e atribuir-lhe um significado concreto. Achei isso muito interessante, nunca o tinha feito.
SU: É um trabalho que faço com alguma regularidade, mas as parcerias que tenho são de escrever letras para outras pessoas. Também já fiz o inverso, mas não gosto tanto. Custa-me mais musicar uma letra pré-existente até porque às vezes as métricas não são muito regulares ou então são regulares demais… Por exemplo, com os Clã, a minha colaboração nos últimos anos tem sido eles enviarem-me canções com a Manuela [Azevedo] a trautear ou a cantar versões de músicas em inglês já existentes, e eu depois a fazer uma versão em português. Com o Luís não foi difícil – assim que arranjei um conceito – porque ele tinha-me enviado a canção trauteada já com uma métrica muito certinha, por isso foi fácil pensar nas sílabas que encaixariam naquela canção. Não foi um exercício complicado. Quando escrevi a canção, as sílabas até batiam muito com a interpretação original do Luís. Depois, a partir do momento que a canção foi interpretada e ensaiada, ganhou outra vida e mais liberdade.
Como foi decidido o alinhamento para este concerto?
SU: Fizemos uma espécie de apresentação no festival Chefs on Fire, que foi um formato que congregava mais do que no Conta-me uma Canção, onde havia muita conversa pelo meio e uma mudança de foco, embora participássemos os dois. O concerto no Tivoli terá essa energia de funcionarmos quase como uma banda que tem dois autores, mas que tocam as canções um do outro, com um formato que somos nós a criar. Não nos estamos a adaptar a um palco, estamos a adaptar o palco àquilo que queremos fazer. Já temos uma ideia bem definida do que queremos. Há muitos momentos, há partes individuais, mas vai ser um concerto muito coeso no sentido de estarmos os dois em palco, será homogéneo.

Vai também haver conversa durante o concerto e vão partilhar histórias das vossas canções?
B: Antes de entrarmos em palco no Conta-me uma Canção, o Paulo Salgado – que foi a pessoa que pensou no formato – disse-nos: “atenção que isto não é um concerto!”. Aqui será um concerto, mas é inevitável que conversemos em palco, até porque o Samuel é a pessoa mais bem-falante da música portuguesa [risos], seria um desperdício de recursos não o pôr a falar… Penso que o público também estará à espera dessa dinâmica.
SU: Acaba por se tornar um chavão quando duas pessoas se juntam para fazer um concerto e dizem: “isto é uma celebração da nossa amizade”. Nós queremos fazer um concerto, mas é inevitável, temos uma relação que não se confina à música, e quando estamos em palco não somos impermeáveis a isso.
Têm planos para fazer um disco juntos ou nunca pensaram nisso?
SU: Se a oportunidade surgir estarei recetivo a isso.
B: As coisas têm acontecido naturalmente e gosto de acreditar que acontecem por uma razão que não seja forçada. Tivemos aquele encontro em palco no Conta-me uma Canção, depois surgiu esta canção que fizemos os dois e que, por sua vez, deu azo a este encontro de dia 4 no Tivoli. Mesmo que estejamos dois anos sem tocar juntos, se calhar nessa altura teremos ideias para fazer outra coisa…
SU: A não ser que aconteça algo que destrua a nossa relação… [risos]
Que canção um do outro gostariam de ter escrito?
B: Há muitas músicas que poderia dizer. É raro e é bom quando trabalhamos com alguém que admiramos de tal maneira que essa pessoa estabelece um standard para aquilo que queremos fazer. Quando comecei a escrever em português, um dos meus standards era o Samuel Úria, portanto há muitas canções dele que eu gostaria de ter escrito. Por outro lado, era impossível eu ter escrito a maior parte delas [risos]. Mas, se tivesse de escolher, se calhar seria Barbarella e Barba Rala, porque foi a primeira canção dele que ouvi e que me influenciou muito. Marcou muito a maneira como escrevo.
SU: Vou escolher uma canção que seria impossível para mim conseguir escrever. Gostava de a ter escrito, para já porque ganhava uma data de recursos técnicos que não tenho, e porque acho que é uma das melhores canções portuguesas da última década: Vias de Extinção. Já disse isto várias vezes, o meu apreço por essa canção é uma opinião que é bastante pública.
O último disco do Benjamim, Vias de Extinção, foi lançado em 2020. No mesmo ano, o Samuel lançou Canções do Pós Guerra. Para quando novos discos?
SU: Acho que estamos os dois a pensar em 2024, só que há aqui uma grande diferença, é que o Luís tem o disco quase pronto e eu não tenho quase nada… o excesso de tempo, por não ter havido muita urgência nos últimos dois anos, fez com que eu acumulasse muitas canções e isso às vezes não é bom. Quando o tempo é restrito, dentro daquelas cantigas que me surgem há um imediatismo que faz com que eu queira muito pô-las em disco. Tendo tempo e não tendo obrigação, começo a duvidar muito das canções que tenho. Tenho este espírito um bocado conservador de continuar a pensar nas músicas como um conjunto. Tenho canções que acho que até podem ter algum potencial, mas que não fazem sentido estarem no mesmo disco. Tive de fazer umas “escolhas de Sofia”…
B: O meu deve sair no início do próximo ano.
Depois de Lisboa e Porto, há planos para uma digressão nacional?
SU: Muitas vezes esses planos surgem da vontade das salas em programar. Não podemos arriscar fazer produção própria pelo país fora sem termos a certeza que irá resultar. Penso que o concerto vai correr bem, estou muito confiante no que estamos a preparar, mas a nossa expectativa está limitada àquilo que sabemos que vamos fazer. Às vezes há aquele equívoco de que quando não vamos tocar a um sítio, as pessoas acham que é porque não queremos e isso muito raramente depende dos artistas. Sobretudo num país pequeno, estas produções ainda estão muito centralizadas.
B: Neste concerto estamos a criar um palco novo, um formato novo. O nosso limite para arriscar foi pensar nestes dois concertos. Nós queremos fazer isto. Mesmo que as salas estivessem vazias íamos querer fazer na mesma porque faz sentido para nós. Tudo o que vier a seguir será consequência disso.
Com uma vida empresarial repleta de sucessos, Pedro Henrique (Adriano Luz) desprezou a família e perdeu-a. Literalmente, porque um acidente de avião vitimou-a por inteiro. Quando toma conhecimento de que padece de uma doença terminal, o empresário decide contratar vários atores durante uma semana, levando-os para a sua casa de campo e pedindo-lhes que interpretem cada membro da família desaparecida. Contudo, a decisão desesperada deste homem à procura de ajustar contas com o passado depressa se vai revelar caótica. Afinal, como assume Ricardo Neves-Neves, encenador deste O regresso de Ricardo III no comboio das 9h24, “trata-se de um grupo de atores muito desequilibrado, em que cada um deles tem um parafuso a menos.”
Senão, vejamos: para interpretar Isa (Susana Blazer), mulher de Pedro Henrique, a atriz é demasiado jovem e, talvez, excessivamente preciosista para as exigências de um papel que se quer secundário; a interpretação da irmã, Manuela (Ana Nave), cabe a uma atriz inconformada com o sentido descendente da carreira, estando constantemente a convencer-se a si e aos outros de que ainda será capaz de trocar os recitais de poesia em lares de idosos por um regresso apoteótico aos grandes palcos.
Depois, há os filhos. A mais nova, Elisabete (Jessica Athayde), é interpretada por uma atriz em crise de identidade, muito capaz de vir a perceber que a solução para a sua vida passará por mudar de profissão. O papel do filho pródigo, Ricardo (Samuel Alves), começa por ser interpretado por um ator que abandona o papel ao receber uma chamada a anunciar que foi selecionado para filmar um spot publicitário, em Nova Iorque, para uma conhecida marca de automóveis, ao lado de Leonardo Di Caprio. Em sua substituição chega um novo Ricardo (Rui Melo), desempenhado por um ator irrascível, pouco polido e abusivamente dado ao improviso.
A estes junta-se ainda o melhor amigo e sócio brasileiro de Pedro Henrique, William (Miguel Thiré), interpretado por alguém que crê que só faz sentido ser-se ator se se for um sedutor (com tudo o que isso pode implicar); e o papel da mulher de Ricardo, Maria Cristina (Raquel Tillo), é entregue a uma atriz decidida a dar, à semelhança daquilo que é na vida real, uma personalidade inabalável ao papel que lhe calhou em sorte.
Como se calcula, tudo isto acaba por fugir muito rapidamente ao controlo de Pedro Henrique que, tal encenador em desespero, vai-se tornando cada vez mais impotente para manter os atores nos seus papéis e evitar que a “sua” ficção tome conta da realidade. Até porque, como a dado momento se escuta, “no teatro é tudo verdade desde que estejamos dispostos a acreditar.”
Mas, será que estaremos dispostos a isso quando, em palco, se questionar a tragédia da família, ou a doença de Pedro Henrique? Ou o porquê de em cena estar presente um amigo e sócio de negócios? Ou até quando algum dos atores achar que, talvez, seja melhor trocar de papel com outro?
Nomeada para o prestigiado Prémio Molière na categoria de melhor comédia, a peça do ator e dramaturgo francês Gilles Dyrek chegou às mãos de Neves-Neves por intermédio de Sandra Faria, da Força de Produção. “A Sandra investiga peças contemporâneas que estão a fazer sucesso pelos palcos da Europa e um dia falou-me nesta. Li-a e gostei imediatamente desta coisa de colocar os atores a mostrarem-se por dentro, deste jogo entre o teatro e a vida. E, também, de uma certa melancolia que há nesta comédia”, assume Neves-Neves.
Garantido um turbilhão de riso e gargalhadas, mas também de alguma introspeção sobre os mecanismos de relação do teatro com o faz de conta e a realidade, O regresso de Ricardo III no comboio das 9h24 é a nova proposta da Força de Produção para o Teatro Maria Matos, com estreia marcada para 26 de outubro.
paginations here







