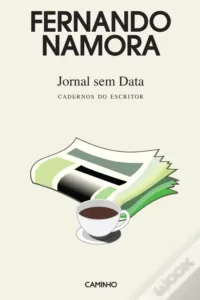É um tour de force para Tânia Alves que, para interpretar uma mulher cujo “palco pesa sobre o corpo” – mulher essa a quem se ouve, logo nos primeiros minutos do espetáculo, a pergunta: “como se pode representar uma tragédia estando no meio dela?” -, vai aprendendo “a superar o desconforto e a privação” implícitas a estar quase uma hora prostrada num estrado rígido, praticamente imóvel, “fazendo da palavra, ação”. Em Um Nó Apertado encontramos uma mulher despojada da vitalidade do corpo, onde ressoam vozes de heroínas trágicas do teatro clássico que, como que chegadas à atualidade, se debatem com aquilo que Lígia Soares, autora do texto, define como a “fatalidade iminente”, ou seja, com a procura desse “fatal desígnio” que, como escreve na folha de sala do espetáculo, não podemos “evitar senão estivermos dispostos à subversão e desobediência caraterísticas das heroínas trágicas que desafiaram leis, reis e estados para poderem honrar, salvar ou condenar filhos, irmãos e maridos.”
Mas, quem é, afinal, esta mulher que convoca a memória e o peso de um tempo de violência que é o nosso? Para encontrar pistas que nos levem a esta resposta importa, talvez, voltar ao início, recordando como tudo começou.
“Este espetáculo insere-se num ciclo sobre a memória que, por sua vez, tem as heroínas trágicas como sub-temática”, explica a encenadora Marta Lapa. “Depois de termos desafiado o David Pereira Bastos [que encenou o espetáculo Dirty Shoes Don’t Go To Heaven no final da temporada passada], a Escola de Mulheres convidou a Lígia a escrever uma peça inspirada nesta temática”, lembra, recordando que terá mencionado “a Medeia, a Hécuba, a Cassandra e, provavelmente, a Antígona,” como referências para se procurar saber “o que é, nos dias de hoje, uma heroína trágica.”

Ainda com o texto “muito em bruto”, a autora, a encenadora e a atriz Tânia Alves começaram “a procurar o lugar do espetáculo” ou, dito de outro modo, “a descobrir o lugar certo para que o texto atravesse a atriz e nos atravesse a nós, público”. Num ensaio, a atriz apercebe-se que “o texto projeta a queda”, sendo aquela mulher “alguém caído no chão”. Inesperadamente, Marta Lapa, artista “da dança e do corpo”, percebe que o caminho será dirigir uma atriz que acaba de descobrir, precisamente através da privação do corpo, como fazer “o texto ecoar” e “atravessar e atravessar-nos”. E assim, conta Tânia Alves, “encontrámos o sítio justo para o fazer: o sítio da privação, do ermo, da violência.”
Encontrado “o sítio”, parte-se na procura de descobrir quem é esta “heroína” que nos lembra, diz Marta Lapa, como “o futuro se esvazia à nossa frente”. Nesta demanda, reconhece-se uma mulher “no meio da tragédia”, sendo ela todas as filhas e todas as mães, talvez cansadas de sofrimento e de ausência de paz. Como explica Tânia Alves, “ainda estou à procura de saber quem ela é, mas creio que todas a reconhecemos em nós mesmas, e mesmo não tendo vivido aquilo que nos conta, sabemos que a conhecemos.”
Embora tenha sido um espetáculo intimamente “construído pelas três”, Marta Lapa destaca “o apoio precioso e imprescindível” de Vítor Alves da Silva (que também assina o figurino), “a música original da Sandra Martins, a luz do Paulo Santos e, claro, de toda a Escola de Mulheres”, companhia que dirige com Ruy Malheiro desde o desaparecimento de Fernanda Lapa.
Estreado no passado dia 20 em Ponte de Lima, Um Nó Apertado chega ao Clube Estefânia a 25 de outubro, permanecendo em cena de quarta a domingo, até 5 de novembro.
No final desta viagem a uma cidade sem nome, assalta-nos uma profunda perturbação: como é que um texto escrito em 1994, tendo como eco a guerra nos Balcãs, pode ter-se tornado, em menos de duas décadas, tão atual? Passado o efeito do choque, talvez consigamos concluir que, afinal, todas as questões levantadas pela peça de David Greig nunca deixaram de estar presentes na realidade europeia.
“O problema”, como sublinha o encenador Pedro Carraca, “é que muito provavelmente nos deixámos adormecer na paz”, e naquilo que na viragem do século fazia da Europa “um projeto cheio de futuro”. Agora, como diz um personagem da peça a dado momento, “arriscamos deixar este sítio para os lobos“. Europa é, por isso mesmo, um espetáculo para despertar e, consequentemente, contribuir para que isso não aconteça.
A ação situa-se num pequena cidade fronteiriça, importante em tempos porque, como revela ainda com orgulho o chefe da estação, Fret (Américo Silva), até chegou a haver alfândega. Um dia, o principal empregador da cidade, uma fábrica de lâmpadas, anuncia o fecho e muitos dos seus trabalhadores, como Berlin (Gonçalo Carvalho), tornam-se desempregados. Ao clima de tensão que começa instalar-se, junta-se a chegada de “gente de fora”, nomeadamente de Sava (Pedro Pinto) e Katia (Rita Rocha Silva), pai e filha em fuga, que passam a pernoitar na estação de Fret, onde os comboios já não param e só por inoperância burocrática ainda não está definitivamente encerrada.

Entretanto, é com os olhos cada vez mais fixos no horizonte, para lá da orla da floresta, e ansiando por ser levada pelos comboios que já não param na estação, que encontramos Adele (Inês Pereira). Enquanto o companheiro, Berlin, passa o dia a beber com os amigos Billy (Pedro Caeiro) e Horse (Simon Frankel), e a aderir cada vez mais ao discurso da extrema-direita, que se alimenta das frustrações dos desempregados para apontar responsabilidades aos estrangeiros que chegam, Adele aproxima-se da “refugiada” Katia, prometendo ajudá-la a conseguir documentos. Para isso, conta com os “truques de magia” do recém regressado Morocco (Nuno Gonçalo Rodrigues), um muito viajado e pouco escrupuloso “contrabandista”.
Era uma vez “uma peça datada”
Autor de eleição dos Artistas Unidos (AU), quando se menciona o escocês David Greig (n.1969) é quase impossível não lembrar a encenação que Franzisca Aarflot fez para a muito agridoce comédia Cantigas de Uma Noite de Verão – que Pedro Carraca protagonizou, ao lado de Andreia Bento –, um dos grandes sucessos da companhia na década passada (temporada de estreia no Teatro da Trindade em 2010 e, três anos depois, uma reposição com igual sucesso no Teatro da Politécnica).
“Antes disso, ainda n’ A Capital [antiga casa dos AU no Bairro Alto] tínhamos feito leituras de duas peças anteriores do David: A última mensagem do cosmonauta para a mulher que um dia amou na antiga União Soviética e, precisamente, Europa”. Esta última, lembra Carraca, “chegou a estar pensada ser levada a cena” mas, na altura, “havia dificuldades em reunir um elenco tão grande. Quando se tornou viável fazê-la, a paz chegara aos Balcãs e a questão dos refugiados não parecia premente. De repente, um texto que tinha feito tanto sucesso estava datado.”

Estreada em outubro de 1994, no Traverse Theatre, em Edimburgo, Europa foi a primeira peça longa e da consagração internacional do então muito jovem David Greig. A Guerra Fria acabara poucos anos antes, mas, no centro da Europa, na sequência da desagregação da Jugoslávia, a guerra “quente” voltava ao velho continente. Dos Balcãs, chegavam a outros países europeus pessoas em fuga, enquanto a globalização económica acelerava e as grandes empresas se deslocalizavam para oriente em busca de mão de obra barata, deixando para trás um rasto de desemprego.
Ao mesmo tempo, a Europa abolia fronteiras (o chamado Espaço Schengen, criado em 1985, continua a estender-se e, ainda este ano, recebeu o 27.º Estado aderente: a Croácia) e a extrema-direita reorganizava-se, ganhando palco com o apelo nacionalista e o ênfase nas ameaças “externas”, nomeadamente na chegada de migrantes que, como diz uma personagem na peça, “nos vêm roubar os empregos.”
Greig conjuga notavelmente estes temas, revelando através das oito personagens de Europa várias nuances de todo um sonho que desaba. E, de repente, apercebemo-nos que o que nos liga a 1994 continua a estar demasiado presente. “Os migrantes já não são, essencialmente, outros europeus”, e chegam do Sul, cruzando o Mediterrâneo em busca de uma vida condigna. A leste, voltou a guerra, e a extrema-direita “deixou de ser essencialmente skin head e reinventou-se”, vestiu fato e gravata e, hoje, até ocupa instâncias de poder em vários países da Europa.
Não foi, portanto, necessário mudar praticamente nada no texto para que Europa voltasse a fazer sentido. “O [tradutor] Pedro Marques limitou-se a rever a tradução anterior para substituir alguns termos que estão desatualizados”. Porém, “há umas semanas, soube que o David fez algumas adaptações ao texto original para encenações recentes em Inglaterra. Estou muito curioso em saber quais foram, mas desconfio que se prendam com nomes de cidades para que não se sublinhe tantos os Balcãs.”
Para cumprir “o objetivo do teatro, que é suscitar a discussão”, aí está Europa em estreia na Sala Luís Miguel Cintra do Teatro São Luiz a 18 de outubro. O espetáculo permanece em cena, de quarta a domingo, até ao próximo dia 29, prosseguindo carreira em novembro, com passagem pelo Festival de Teatro do Seixal (dia 9) e com récitas marcadas para Palmela (dia 11), Barcelos (dia 18), Covilhã (dia 25) e Évora (dias 29 e 30).
Os seus filmes abordam sempre situações reais e difíceis. Pátria, embora seja uma ficção, fala sobre temas que estão na ordem do dia: xenofobia, crescimento de movimentos políticos radicais, intolerância. Como surgiu a ideia para o filme?
Nos filmes anteriores inspirei-me em histórias reais, mas acima de tudo procurei falar sobre problemas fraturantes da nossa sociedade, e Pátria não foge muito a essas questões, embora seja uma distopia realista. A ideia surgiu quando comecei a perceber e a antever que a política em geral tem levado ao crescimento de extremismos em todo o mundo. Os direitos humanos das mulheres são cada vez mais restritos, existem políticas de extrema-direita a crescer em países europeus… Foi por isso que achei importante alertar as pessoas e fazê-las perceber o que aconteceria se vivêssemos novamente numa ditadura. Em 2024, o 25 de Abril celebra 50 anos e acho que é a altura ideal para relembrar o que é viver numa ditadura.

Apesar dos erros do passado e mesmo que o contexto, a geografia e a época sejam diferentes, a História repete-se. É também essa a ideia que pretende transmitir?
Sim, infelizmente cada vez mais as pessoas têm posições extremadas. Um bom exemplo disso são as redes sociais. Cada vez mais há a ideia de que ou estás connosco ou estás contra nós. Não existe a base do diálogo ou da compreensão e a falta de condições de vida, associada às políticas dos governos, leva ao surgimento destes movimentos. Por isso, é muito importante falar destes temas para que os erros do passado não se repitam.
A narrativa no filme não está datada, decorre num tempo indefinido. Isso também nos revela que, embora achemos que vivemos numa época de estabilidade e democracia, nada é garantido. Concorda?
Sim, a liberdade nunca é uma coisa garantida e é importante que se perceba que tudo pode mudar e deixar de existir como conhecemos. Pátria ajuda a relembrar as consequências da perda dessa liberdade e o custo que representa voltar a consegui-la. Quando escrevi o guião baseie-me em vários regimes políticos, em diferentes países e épocas, nesse sentido estão concentradas no filme todas as noções de um regime opressor. Na narrativa, o regime político retratado está em evolução, e quando os regimes estão em evolução surgem grupos extremistas que fazem o trabalho sujo do regime. A ideia do filme é também essa, a de demonstrar que quando um regime está já implementado surgem estes grupos que querem fazer parte do poder, perpetuando o trabalho sujo do regime. No fim, não é só o regime que impõe as regras, mas os próprios indivíduos, criando situações de grande injustiça e violência.

Ao retratar estes temas reais da sociedade podemos dizer que esta
é a sua forma de intervenção?
O cinema tem que ter também esse papel, a sua função não é só a de contar histórias e entreter, mas também passar uma mensagem que faça com que o público pense no assunto. A minha intenção não é educar ninguém, mas sim apresentar uma realidade que não deve ser esquecida. Muitos dos temas dos meus filmes, seja o tráfico de pessoas, o desaparecimento de uma criança ou um regime ditatorial, são temas pouco falados na sociedade. Mas eu quero falar sobre eles, porque caso contrário não se evolui. O objetivo é fazer com que a sociedade reflita sobre estas questões.
Há apenas duas personagens femininas, com ideais opostos e em grupos rivais, que são as instigadoras da mudança. Foi intencional a escolha de duas mulheres para este papel?
Foi intencional. Já nos outros filmes que fiz, as personagens principais são sempre mulheres, isto porque penso que o espetro de emoções que uma mulher tem e o facto de o seu papel ter sido negligenciado ao longo de muitos anos, o que considero muito injusto, faz com que as personagens femininas tenham um papel forte. É também assim que vejo as mulheres na sociedade. É por isso importante que sejam elas a força maior. Uma sociedade que quer evoluir tem que perceber que as mulheres têm um papel tão relevante, ou até maior, do que o dos homens.

Como foi feito o casting? Há uma atriz com quem já tinha trabalhado no filme Carga, a Michalina Olszańska, e que volta a fazer parte deste trabalho. Já tinha uma ideia predefinida sobre os atores que queria?
Quando escrevo o guião penso logo em pessoas concretas, que eu acho que se enquadram na realidade que vou retratar e que têm a sensibilidade para o fazer. Sou eu que faço o casting, não tenho nenhum diretor de casting e é um processo muito rigoroso. Sou eu que escolho os atores e que falo com eles. Conversamos muito sobre o perfil psicológico das personagens e a sensibilidade dos atores para lhes dar vida é muito importante. Todos os atores que participam nos meus filmes percebem a importância de se falar sobre os temas abordados.
Os seus filmes já concorreram em festivais e receberam vários prémios. Qual é a importância para si deste tipo de reconhecimento?
É sempre um orgulho. É sempre importante haver reconhecimento do talento e da qualidade dos filmes. Mas, mais importante seria que isso desse um “busto” à cultural em Portugal, que é ainda considerada por cá como uma coisa secundária.
Tem algum outro trabalho que esteja prestes a estrear?
Acabei de fazer uma série, de seis episódios, que fala sobre depressão, bullying, adoção, entre outros temas e que está em pós-produção. Ainda não consigo revelar a data concreta, mas vai estrear no próximo ano, na RTP.
Mais uma vez voltam a trabalhar juntos. Em equipa que ganha não se mexe?
Rogério Charraz (RC): É uma parceria que já extravasou, há algum tempo, a parte da composição. Começa a partir daí, mas estende-se a todo o projeto – seja no palco (como vamos ver no concerto do Maria Matos) ou na gestão do projeto. Tudo aquilo em que trabalhamos é pensado a dois, numa parceria que veio para ficar.
Como teve início esta parceria?
Zé Fialho Gouveia (ZFG): Conhecemo-nos há muitos anos num jantar em casa de amigos comuns. Desde o início que houve empatia e ficou logo em cima da mesa a hipótese de podermos fazer qualquer coisa juntos. Na altura, o Rogério perguntou se eu tinha algumas letras que lhe pudesse mandar. Desse jantar inicial surgiram então os primeiros temas para o disco Não tenhas medo do Escuro (2016).
Não podendo prever o futuro, a ideia é manter a parceria?
RC: Neste caso, acho que podemos prever o futuro… [risos]
ZFG: E já temos ideias que cheguem para mais uns quatro ou cinco discos…
Como é o processo de dar música às letras do Zé Fialho Gouveia?
RC: A única coisa que não fazemos juntos é a composição das letras. Na verdade, nos últimos dois discos, temos partido do conceito, é isso que nasce primeiro. Decidimos fazer um disco que fala sobre determinado universo, conversamos sobre as personagens, que histórias vamos contar, que tipo de canções vamos fazer. A partir daí, a bola passa para o lado do Zé.
ZFG: Depois faço as letras, envio ao Rogério, ele constrói a música e nascem assim as canções. Normalmente, tirando uma ou outra exceção, a forma como ele constrói as músicas tem ido ao encontro do ambiente sonoro que imagino para a canção.
Este é um disco em forma de prédio. Como surgiu a ideia de centrar toda a ação nos moradores dum prédio?
RC: Tanto este como O Coreto são discos com narrativas, mas um pouco diferentes: O Coreto tem uma história única, em que as canções acabam por ser capítulos da mesma história. O conceito nasceu de uma ideia minha, deste fascínio que sempre tive por coretos, e de um desafio que lancei ao Zé, de fazer um projeto em que o coreto fosse o ponto central da história, para que depois pudéssemos levar o concerto aos coretos enquanto palco. Nasceu desta ideia e depois o Zé criou este projeto, em que cada canção é um capítulo desta história e há uma sequência temporal entre as canções. Já o Reunião de Condomínio nasce da cabeça do Zé…
ZFG: N’O Coreto temos uma história que vai do princípio ao fim e que tem como pano de fundo as desigualdades vividas entre o interior do país e as grandes cidades. No Reunião de Condomínio partimos de um conceito. O Coreto nasceu do fascínio do Rogério pelos coretos. Eu também dava por mim muitas vezes a olhar para um prédio e a pensar que vidas são estas que estão lá dentro. Há uma porta pela qual todos os dias entram (e saem) várias pessoas, todas elas com vidas muito diferentes, mas que acabam por coabitar no mesmo espaço. Este pensamento assaltava-me muitas vezes e um dia achei que podia ser uma ideia engraçada para um disco. Inclusivamente já tínhamos um tema feito – ainda longe de pensarmos neste conceito – que se chamava Águas Furtadas. Já tínhamos o telhado, por assim dizer, e achámos que era engraçado construir o resto do prédio. Falei nisso ao Rogério e ele gostou da ideia.
RC: O que significa que és bom em quase tudo, menos em arquitetura porque começaste a casa por cima [risos]…
São personagens baseadas em alguém que conhecem?
ZFG: Eu diria que todos nós conhecemos estas personagens. São vidas dos nossos quotidianos. Todos nós conhecemos pessoas que vieram de outros países e que poderão ter tido alguma dificuldade inicial em instalar-se; casos de casais que se divorciaram; alguém que vive numa relação tempestuosa e tóxica; professores que trabalham muito longe do seu lugar de origem… Todos nós conhecemos estas pessoas ou já nos cruzámos com elas. Nenhuma delas é inspirada em ninguém concreto.
RC: Muitas delas nasceram do assunto que queríamos falar. Quisemos, por exemplo, abordar a situação dos professores, de serem colocados longe de casa, então criámos uma personagem – que neste caso é a própria casa. Em alguns casos nasceu assim, o assunto nasceu primeiro e depois criou-se o ângulo certo para isso.
A realidade de todos os dias é uma verdadeira fonte de inspiração?
RC: Sim. Com O Coreto queríamos que as pessoas se identificassem, que ouvissem a história e se relacionassem com ela. As pessoas vinham falar connosco e contavam histórias semelhantes porque reconheciam aquelas personagens das suas aldeias ou das suas famílias. Gostamos disso, porque, por um lado, aproxima as canções do público, por outro lado, como temos este objetivo de pôr as pessoas a pensar nos problemas atuais, na nossa construção enquanto sociedade, é mais fácil fazê-lo com personagens onde as pessoas se reveem.
Sebastião, personagem d’O Coreto, também está presente neste disco…
ZFG: A ideia surgiu durante o processo de composição. N’O Coreto, o Sebastião era alguém que tinha passado toda a vida na grande cidade e que decidia arriscar a mudança para a aldeia, mas acaba por não se dar bem porque não arranja emprego e decide voltar à cidade. O Coreto aborda uma realidade mais rural, enquanto Reunião de Condomínio é um disco profundamente citadino. Temos um disco da cidade e no disco anterior tínhamos uma pessoa que saiu da cidade, mas que acabou por voltar. Por uma questão de curiosidade narrativa, fazia sentido trazer esta personagem para este disco.
RG: Há uma coisa que assumimos sempre, é que teria de haver uma continuação d’O Coreto. Irá acontecer daqui a uns tempos. Começou a ser apelativa a ideia de alguns destes personagens poderem entrar n’O Coreto II. Para as pessoas, e felizmente temos tido muita gente que vai acompanhando o nosso trabalho, isto faz todo o sentido. Cria uma relação com os ouvintes, que de alguma forma ficam curiosos por saber o que vamos inventar a seguir…

O disco conta com várias colaborações, temos Quim Barreiros num registo raríssimo. O que vos levou a convidá-lo para o disco?
RC: Nunca ninguém tinha ouvido o Quim Barreiros num ambiente mais sério, sem trocadilhos malandros, sem o seu acordeão, sem aquele universo que o caracteriza. Eu gosto dessa malandrice de fazer algo que ninguém está à espera. Não chamaria alguém de quem não gostasse. O Quim Barreiros faz um tipo de música muito diferente do meu, não é um estilo de música que eu ouça muito, mas é muito genuíno naquilo que faz. Não é por acaso que se mantém há tantos anos a dar tantos concertos, toda a gente o reconhece, é praticamente uma marca nacional. Em Portugal há um bocadinho esse pudor de misturar universos. No Brasil fazem isso sem nenhum problema, misturam samba com forró, com MPB… Acho que também o podemos fazer, desde que haja admiração mútua. Depois a própria personagem é meio dramática meio cómica, isso também puxou um bocadinho para o Quim porque há algo de cómico no Vitorino. Esta participação só veio confirmar aquilo que eu já suspeitava: o Quim é um bom músico, canta e toca bem. Foi muito fácil trabalhar com ele em estúdio.
Como foi a reação dele ao vosso convite?
ZFG: foi fácil convencê-lo a aceitar o desafio. Na primeira chamada telefónica expliquei-lhe quem éramos, falámos do projeto e não foi preciso convencê-lo. Mostrámos-lhe a canção e ele disse que sim.
Também há duas colaborações femininas – Catarina Munhá e Luciana Balby. Como surgiram estes convites?
ZFG: Já éramos fãs da Catarina Munhá antes de partirmos para este projeto. A canção de que falei há pouco, Águas Furtadas, nasceu depois de ouvir o disco dela de uma ponta à outra, e em que ela fala de divisões de uma casa mas de forma um bocadinho mais abstrata. Ela tem uma canção que também se chama Águas Furtadas, mas que é completamente diferente da nossa “Águas” Furtadas (cujo título alterámos para Mágoas Furtadas). Foi daí que nasceu a inspiração para esta música. Fazia todo o sentido convidá-la porque éramos os dois fãs dela e ela tinha aqui um papel de madrinha de uma das canções, sem ter noção disso. Foi um nome que fez sentido desde o início.
A canção tem uma mensagem forte…
ZFG: Há esse outro lado, a canção fala sobre assédio, sobre tentativas excessivas de procurar um contacto mais íntimo e a Catarina, no trabalho que tem feito, também tem um olhar atento sobre a sociedade, sobre o papel da mulher, sobre os direitos das mulheres e também encaixava por causa disso.
Outra revelação são os desenhos de Samuel Úria que, para quem não sabe, foi professor de Educação Visual. Como surgiu a ideia de ser ele a fazer as ilustrações?
RC: Já tínhamos trabalhado com ilustração n’O Coreto e tínhamos gostado muito. Queríamos manter essa linha e lembrei-me do Samuel, até porque já tinha visto no Instagram algumas coisas desenhadas por ele. Mais uma vez foi também uma tentativa de surpreender as pessoas, dar-lhes alguma coisa que não estão à espera. Toda a gente conhece o Samuel como cantor e compositor. Somos os dois grandes fãs, mas pouca gente conhecia este talento dele para a ilustração. Embora tivesse gostado das coisas que vi dele, devo confessar que aquilo que ele nos apresentou excedeu as minhas expectativas. Acho que criou verdadeiras obras de arte. Tentámos que o objeto que acompanha o disco fosse algo muito valorizado. Além de querermos fazer o disco no formato retangular (como um prédio), também achámos que as ilustrações em formato normal de CD ficariam muito pequenas e não iam ser valorizadas. Queríamos dar todo o destaque porque é um trabalho incrível. Mesmo em palco estamos a fazer todos os esforços para conseguir projetar estas ilustrações e usá-las como fundo na narrativa do concerto.
A 9 de outubro apresentam o disco ao vivo no Teatro Maria Matos. Vamos ter convidados em palco?
RC: Vamos ter a Catarina e a Luciana. A agenda do Quim é muito complicada. Foi fácil ter o sim dele para gravar, mas é difícil que ele esteja disponível para os concertos.
ZFG: É bem possível que ele apareça no Maria Matos dia 9 para assistir ao concerto [risos]…
RC: E vamos ter o Zé em palco – como já acontecia n’O Coreto – para criar uma narrativa que em parte está no disco, mas que ele aprofundou ainda mais para os concertos. Ele estará em palco para ir contando a história…
ZFG: N’O Coreto criámos essa solução de eu estar em palco a narrar a história e isso foi muito bem recebido pelas pessoas. Inicialmente tínhamos algum receio de não conseguir agarrar as pessoas à história, mas acabou por resultar muito bem. No Reunião de Condomínio importámos este conceito sendo que, n’O Coreto, havia uma história que tinha um princípio e um fim. Aqui temos várias histórias que moram no mesmo prédio. Criámos um enredo extra que não aparece no disco, mas que permite fazer essa ligação do início ao fim do concerto, interligando as várias personagens.
Teremos Coreto II para breve?
RC: Sim, depois de uma pausa para refrescar as ideias até porque, quando se fazem muitas canções em pouco tempo, ficamos com receio de cair em repetições. Não podemos cansar as pessoas até para não termos a sensação de que já não estamos a fazer nada de realmente novo. O Coreto II há de aparecer, isso é ponto assente, mas a seu tempo…
Projetos futuros?
RC: Ideias para projetos não nos faltam. Estamos a pensar seriamente em criar uma empresa para vender projetos e ideias [risos]. Acho que, no tempo de vida que nos resta, mesmo que a vida seja generosa connosco, não vai chegar. Estamos a lançar um que comemora os 50 anos do 25 de Abril, chamado Anónimos de Abril, com o Júlio Resende, com o João Afonso e com a Joana Alegre, que é um projeto original baseado em figuras menos conhecidas das gerações nascidas depois de 1974 e que ficaram ligadas à revolução, mas que ficaram um pouco esquecidas na História. O Reunião de Condomínio está a começar o seu percurso. Temos cinco concertos marcados entre outubro e novembro e alguns a começarem a aparecer para o próximo ano. O Coreto vai voltar a aparecer, ainda tem estrada para fazer. O Reunião de Condomínio há de voltar lá mais para a frente. Vamos gerindo os vários projetos ao mesmo tempo.
Pedimos à diretora da Festa, Katia Adler, que sugerisse 8 filmes a não perder no festival que dá a conhecer a produção cinematográfica de origem francesa.
Jeanne du Barry
De Maïwenn/ 2023/ 116 min.

Este drama histórico sobre a trajetória de uma mulher que cruza as fronteiras sociais na hierarquizada sociedade da França de Luís XV foi escolhido para a sessão de abertura do festival.
Abbé Pierre
De Frédéric Tellier/ 2023/ 138 min.
 A sessão de encerramento da Festa será a história comovente de um indefetível defensor da vida e dos direitos humanos. Filme que arranca na França somente dia 8 de novembro. O lisboeta terá a oportunidade de ver antes de todos.
A sessão de encerramento da Festa será a história comovente de um indefetível defensor da vida e dos direitos humanos. Filme que arranca na França somente dia 8 de novembro. O lisboeta terá a oportunidade de ver antes de todos.
Vira-Latas
De Jean-Baptiste Durand/ 2023/ 93 min.
 Queremos convidar-vos a acompanhar esta obra inusitada sobre a inocência e a lealdade infantis, e também para conversarem com o realizador, Jean-Baptiste Durand, presente na Festa. O ator Raphaël Quenard é um talento promissor do cinema francês.
Queremos convidar-vos a acompanhar esta obra inusitada sobre a inocência e a lealdade infantis, e também para conversarem com o realizador, Jean-Baptiste Durand, presente na Festa. O ator Raphaël Quenard é um talento promissor do cinema francês.
No Corpo
De Cédric Klapisch/ 2022/ 120 min.
 Uma história sobre os altos e baixos na vida de uma dançarina forçada a reencontrar-se e reestruturar-se através de novos meios. Considerado um dos melhores filmes de Cédric Klapisch.
Uma história sobre os altos e baixos na vida de uma dançarina forçada a reencontrar-se e reestruturar-se através de novos meios. Considerado um dos melhores filmes de Cédric Klapisch.
Alma Viva
De Cristèle Alves Meira/ 2022 / 88 min.
 Esta sessão será particularmente especial por termos a oportunidade de ouvir a realizadora Cristèle Alves Meira comentar a sua primeira longa-metragem, além de apresentar as suas curtas Tchau Tchau, Sol Branco, Campo de Víboras e Invisível Herói.
Esta sessão será particularmente especial por termos a oportunidade de ouvir a realizadora Cristèle Alves Meira comentar a sua primeira longa-metragem, além de apresentar as suas curtas Tchau Tchau, Sol Branco, Campo de Víboras e Invisível Herói.
Capitães de Abril
De Maria de Medeiros/ 2000/ 123 min.
 Em antecipação dos 50 anos da Revolução dos Cravos, temos a oportunidade de ver ou rever este belo clássico instantâneo, e ainda contar com a apresentação da realizadora, Maria de
Em antecipação dos 50 anos da Revolução dos Cravos, temos a oportunidade de ver ou rever este belo clássico instantâneo, e ainda contar com a apresentação da realizadora, Maria de
Medeiros.
Rookies
De Thierry Demaizière e Alban Teurlai/ 2022/ 110 min.
 Esta longa-metragem sobre a tarefa desafiadora de unir os jovens através da música e da dança será acompanhada de um debate aberto ao público sobre a arte e a sociedade.
Esta longa-metragem sobre a tarefa desafiadora de unir os jovens através da música e da dança será acompanhada de um debate aberto ao público sobre a arte e a sociedade.
A Noite do Dia 12
De Dominik Moll/ 2022/ 115 min.
 O filme que conquistou seis prémios César, entre eles o de melhor filme e melhor realização, é um relato de grande importância sobre o feminicídio e a mobilização social contra a violência de género.
O filme que conquistou seis prémios César, entre eles o de melhor filme e melhor realização, é um relato de grande importância sobre o feminicídio e a mobilização social contra a violência de género.
Programação integral aqui
Como surgiu a sua ligação ao jazz?
A música faz parte da minha vida desde que nasci. O meu pai é músico profissional – embora não de jazz – mas sempre fez questão que eu ouvisse jazz desde bebé. Adormecia a ouvir discos de jazz. Acho que sou uma experiência científica de laboratório bem-sucedida [risos]. Mais tarde, quando o gosto pela música se tornou mais evidente, comecei a tocar clarinete numa banda filarmónica. Depois estudei clarinete clássico no Conservatório e na Orquestra Metropolitana de Lisboa. Em casa, tocava saxofone por cima dos discos, a tentar imitar o que ouvia. Nunca senti qualquer pressão do meu pai. Alguns professores de música erudita são pedagogicamente questionáveis (alguns são pessoas traumatizadas por professores que tiveram, o chamado trauma hereditário), apertam muito com os alunos. Mesmo quando eu estava nessa fase, o meu pai nunca me incentivou a estudar contrariado. A música tem de ser algo que faz o instrumentista feliz, temos de nos divertir a fazer isto. A única pessoa que apertou comigo para estudar a sério fui eu próprio. Para termos uma relação saudável com a música, só nós é que podemos ‘apertar’ connosco.
O saxofone foi amor à primeira vista?
Sim. Queria ter aprendido saxofone quando comecei a tocar clarinete, mas era muito grande. Tem esta particularidade de ser o instrumento que o meu pai toca, e os pais são sempre os nossos primeiros heróis. A minha mãe também tem um passado musical e chegou a fazer parte de uma filarmónica, onde também tocava saxofone. Eu podia ter escolhido qualquer outra coisa, mas tem piada esta coincidência.
Esta celebração na Culturgest é uma coincidência feliz: fazem ambos 30 anos este ano. De que forma surgiu a ideia de juntar os dois aniversários?
Já tenho uma relação longa com a Culturgest, já lá dei vários concertos. Desta vez pediram-me para pensar em alguma coisa específica para o aniversário, uma celebração em data dupla que não perdesse as propriedades desafiantes e intelectuais da agenda da Culturgest. Como o meu trio tem disco novo que ainda não foi apresentado em Lisboa, pensámos nisso para um dos concertos [o de 12 de outubro]. Para o outro [um dia antes, a 11], lembrei-me deste concerto de homenagem ao Charlie Parker com a Orquestra de Câmara Portuguesa, que é algo inédito. With Strings é um disco lindo de que toda a gente gosta, mas que não é muito tocado ao vivo. Sempre foi um sonho de infância poder tocar esse disco ao vivo.
Charlie Parker foi um músico à frente do seu tempo?
Todas as pessoas que são vistas como ‘alguém à frente do seu tempo’ eram precisas no sítio e no tempo em que viveram. Acho é que ele percebeu e conectou-se com a música de uma forma que não era muito comum na época.
Ser músico de jazz implica ter esse arrojo que Parker tinha?
Ele não teve outra opção senão ser arrojado. Sempre que criamos alguma coisa devemos dar o máximo sem pensar se é arrojado ou moderno. Isso, têm de ser as outras pessoas a avaliar. Há muita gente que não chega a ter grande reconhecimento pelo que faz, ou que não é assim tão genial ou mediático. O Parker – tal como outros músicos – era claramente genial, estava completamente alinhado com a história da civilização e da humanidade naquele momento para ser tão controverso, brilhante e pertinente.
A seu ver, existem universos musicais que não se podem misturar?
Acho que tudo se pode fazer desde que os músicos tenham bem presente e esclarecido aquilo que têm em comum. Se a mistura dos dois não mexe com nenhum princípio básico – embora possam passar a ser outra coisa juntos – penso que tudo pode ser feito.
Que outros heróis musicais gostaria de homenagear em concerto?
Já fiz alguns concertos destes, um deles ao meu grande ídolo musical – John Coltrane – que é alguém que não me canso de homenagear. Acho que em todos os concertos que damos homenageamos os nossos heróis musicais pelo impacto que tiveram em nós e com o que nos deram. Não preciso de tocar música do Coltrane ou do Charlie Parker para se notar que gosto do trabalho deles.

Chasing Contradictions é o primeiro disco gravado em trio (sem o piano). Porquê esta decisão?
Em 2014, o João Pedro Coelho (pianista do quarteto) ainda estava a estudar em Amsterdão por isso passámos a tocar muito em trio, porque não havia ninguém que eu quisesse chamar para tocar piano em vez dele. Fomos desenvolvendo essa cumplicidade em trio, que temos vindo a aprofundar, mas temos conseguido manter estas duas bandas. Eu gosto desses dois sons, porque na verdade são duas coisas completamente diferentes. Durante a pandemia, a atividade musical abrandou um bocado e depois fizemos uma reunião do trio que durou três ou quatro dias. Já em 2021, o consulado português em Washington convidou-me para fazer um concerto gravado para o Dia Internacional do Jazz. Sou muito preguiçoso, mas um preguiçoso focado [risos] e pensei que, se esse concerto corresse bem, podia ficar gravado e fazia-se um disco. Gravámos o concerto no Teatro São Luiz e fizemos um disco com ele, tudo ao primeiro take.
De onde veio o nome do disco?
Todas as pessoas, nas suas vidas diárias, têm de aceitar umas coisas e perseguir outras. Às vezes criticamos uma coisa noutra pessoa, mas permitimo-lo em nós. Isso é uma contradição. Este disco representa toda a nossa herança e ligação à música jazz afro-americana que se faz a um nível elevado em Nova Iorque. Acho que conseguimos reunir esses princípios a um nível bastante simpático – não quero soar arrogante – mas com o nosso som, com sotaque daqui. A piada é conseguir manter tudo isso em tempo real a acontecer. Quando estás a tocar e vais à procura de certas coisas, tens de abdicar de outras, tudo isto são pequenas contradições. Isto dá voltas infinitas na nossa vida diária. É muito simples, abrangente e vago ao mesmo tempo.
Como olha para o jazz que se faz atualmente em Portugal?
Está melhor que nunca. Cada vez há mais jovens músicos a tocar muito bem e cada vez há mais informação. As escolas de jazz têm feito uma diferença brutal, vejo miúdos de 20 anos com um nível bastante bom. Por outro lado, também acho que, cada vez mais, as pessoas aprendem em massa e têm pouca conexão com a história da arte. Não é preciso ir ao Louvre ver a arte sacra toda porque isso pode ser uma seca, mas não deixa de ser lindo. É preciso é que as pessoas saibam que os pintores modernos incríveis conhecem arte sacra. Em todas as áreas da arte, o bom conhecimento faz-nos durar mais tempo porque nos dá fundamento. Hoje, para os jovens – e isto acontece em todas as áreas da vida – é tudo efervescente e fulminante. Vejo poucos a manterem-se porque se desinteressam… acho que a pessoa só se desinteressa quando acaba o assunto. Como é que se acaba o assunto de uma arte que tem séculos de existência e de história antes de mim? Vejo jovens músicos que apareceram depois de mim, que tocavam muito bem e que de repente estão meio estagnados. Quando reflito sobre isso, vejo que mais de metade da minha vida tem sido dedicada a isto. Eu gosto de música e quero tocar sempre o melhor possível – e, de preferência, que as outras pessoas também gostem do que faço.
Ao longo da sua carreira, tem tocado com grandes músicos, como Mário Laginha, Carlos Barretto, Bruno Santos, Júlio Resende, entre muitos outros. Há alguém com quem gostasse de trabalhar?
Até agora, o maior momento que tive na música portuguesa foi ter tocado em trio com o Camané e com o Mário Laginha. Era o melhor concerto de música portuguesa que podia fazer. Tem a parte do jazz de improvisação, tem a parte da música portuguesa – e aí acho que o Camané é o maior de sempre e para sempre. Nunca toquei com a Carminho e gostava de o fazer um dia, mas uma colaboração a sério, não é fazer uns solos num concerto dela. Gostei da forma como o Camané me convidou para tocar um fado tradicional do [Alfredo] Marceneiro em duo num disco dele.
Como correu essa experiência?
Achei incrível. Foi desconcertante, difícil, aliciante. Estar no estúdio a ouvi-lo cantar, fiquei a tremer. É completamente diferente tocar para uma voz em que tu és a banda. Tenho de moldar o caminho das notas à volta da voz dele para que se oiça a canção e os meus “comentários” à voz ao mesmo tempo, de forma minimal.
Como se gerem os egos dos vários instrumentos em palco?
Aí estamos todos em primeiro plano. Embora o saxofone seja um instrumento solista, a forma como tocamos em trio é muito triangular. Mesmo que seja o meu solo, é o solo deles a acompanhar-me. Há confiança e vontade de compreender melhor o outro. Não dá para tocar num nível alto havendo lutas de egos. A partir de um certo nível de seriedade e profissionalismo essas coisas não podem existir, o ego tem de ficar fora do palco.
Qual a maior gratificação que retira do papel de professor?
Neste momento não estou a dar aulas, mas acabo por ter uma presença bastante regular na cena musical dos miúdos mais novos que estão a aprender. No final de concertos ou jam sessions vêm falar comigo, sugiro discos, pedem-me orientações. Tenho todo o gosto em dar esse apoio aos que vejo que têm potencial e interesse genuíno. Se tenho aulas com alguém tenho de conhecer o trabalho dessa pessoa, mostrar interesse, e isso acontece muito pouco com os miúdos atualmente. Eles querem uma poção mágica e isso não existe.
Depois dos concertos na Culturgest, o que se segue?
No dia a seguir à Culturgest vou estrear uma banda nova internacional no Seixal a convite do SeixalJazz. Deram-me carta branca para estrear uma banda à minha escolha, e trago um baixista de New Orleans e um pianista polaco que vive em Copenhaga, mais o João Pereira [do trio]. Depois, vou estar em Castelo Branco, Madrid, Bilbao, Madeira… E espero gravar um disco, ainda este ano, com o quarteto.

Gustave Flaubert
Bouvard e Pécuchet
Dividido entre uma profunda necessidade de lirismo e o desejo de restituir “quase materialmente” o que via, Gustave Flaubert (1821-1880) encontrou no trabalho sobre a escrita, em busca da perfeição formal do estilo, a sua unidade enquanto artista, fascinado pelo verdadeiro e pelo belo. Nesta obra-prima satírica inacabada, o genial escritor empreende mais uma dura análise da vida do século XIX com um romance que pretendia ser “uma enciclopédia da estupidez humana”, como declarou numa carta dirigida a George Sand. Bouvard e Pécuchet reformam-se e começam uma nova vida no campo, dedicando-se, sucessivamente, às várias áreas do saber – agronomia, medicina, química, literatura, geologia, política, filosofia -, sempre com resultados frustrados. Retrato hilariante da fragilidade da sabedoria convencional, denúncia implacável da arrogância do conhecimento superficial e crítica mordaz à vacuidade da vida intelectual francesa. Jorge Luis Borges comparou Bouvard e Pécuchet com as parábolas satíricas de Jonathan Swift e de Voltaire, considerando que a novela antecipava o absurdo de Franz Kafka. E-Primatur
Fernando Namora
Jornal Sem Data
Fernando Namora nasce em Condeixa-a-Nova a 15 de abril de 1919 e morre em Lisboa, no dia 31 de janeiro de 1989. Licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra em 1942, o jovem médico exerce a sua profissão de aldeia em aldeia, nas regiões da Beira Baixa e do Alentejo, antes de se instalar em Lisboa como médico assistente do Instituto Português de Oncologia. Esta experiência inspiraria alguns dos seus romances mais famosos como Retalhos da Vida de um Médico ou Domingo à Tarde. Na mudança para Lisboa, irá afastar-se do médico “para que o escritor pudesse persistir”. Homem do campo e da cidade, conhecedor de diferentes realidades sociais e dos dramas humanos, o escritor, dotado de uma profunda capacidade de análise psicológica a par de uma grande sensibilidade da linguagem poética, contribuiu para o amadurecimento estético do neorealismo e aproximou-se do existencialismo. Jornal sem Data é um notável caderno no qual o autor anotou os mais variados tipos de textos: crítica literária, política, pensamentos e memórias. “A literatura é um processo de libertação e, por conseguinte, aspira à liberdade. (…) Homem livre, pois, o escritor. (…) Tão necessitado de o ser, que nem sequer pode estar de acordo com certas situações para que ardorosamente contribuiu: seja uma sociedade burguesa, seja uma sociedade proletária, ele sempre encontrará razões para a sua insubmissão e para o seu inconformismo.” Caminho

Richard Russo
Um Homem a Meio da Vida
William Henry Deveraux, Jr, tem 50 anos e é diretor interino do departamento de Inglês da Universidade Estadual de Podunk, na cintura industrial da Pensilvânia. Este romance narra os meandros da vida universitária a que está sujeito, numa fase em que a instituição enfrenta pesados cortes orçamentais e despedimentos: rivalidades, traições, intrigas, vaidades e favoritismos. A narrativa segue as peripécias do protagonista durante uma semana particularmente azarada. Quando uma equipa de televisão filma uma reportagem junto ao lago da universidade, William agarra num ganso pelo pescoço e, sem pensar nas consequências, anuncia que mata “um pato” por dia até conseguir orçamento para o seu departamento. A atitude enfurece os colegas que se reúnem com o objetivo de o destituir do cargo e desencadeia a raiva das ligas de proteção dos animais. Nesta obra se lê que o “humor é um mau substituto da verdade”. Contudo, para Richard Russo, o humor afigura-se como o melhor processo de narrar uma verdade muito séria: a realidade de um país que não se interessa pelo ensino superior, em que a prosperidade da classe média pertence ao passado e em que as famílias enfrentam a degradação do nível de vida, o endividamento e o pavor de perder os empregos. Relógio d’Água
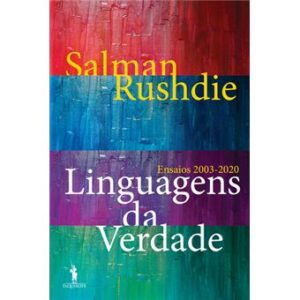
Salman Rushdie
Linguagens da Verdade
“Antes de haver livros, havia histórias”, escreve Salman Rushdie em Linguagens da Verdade, obra ensaística onde explora a natureza do ato de narrar como uma necessidade humana. O presente volume reúne textos de não-ficção – ensaios, críticas e discursos – escritos entre 2003 e 2020 que mergulham o leitor numa ampla variedade de assuntos que, em grande parte, se focam na relação do autor com a palavra escrita. Rushdie analisa o que as obras de escritores de Shakespeare e Cervantes a Harold Pinter, Eudora Welty e Philip Roth significam para ele, tanto na página impressa como a nível pessoal. Também a pintura de Francesco Clemente ou de Kara Walker lhe merecem análises perspicazes e inspiradoras. Simultaneamente, procura aprofundar a natureza da “verdade”, celebrando a vibrante maleabilidade da linguagem e das forças criativas que podem unir arte e vida, refletindo sobre temas como a migração, o multiculturalismo, e a censura. Revisitando o tema da natureza da amizade e do amor, rejeita a afirmação de Billy Cristal no filme When Harry Met Sally: “Homens e mulheres não podem ser amigos porque a questão do sexo está sempre no caminho”. Dá como exemplo a sua amizade com Carrie Fisher: “Foi uma amizade. Nada mais. E isso foi bastante.” Dom Quixote
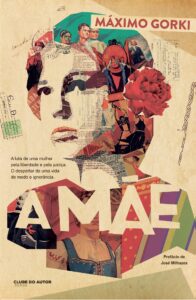
Máximo Gorki
A Mãe
A obra de Máximo Gorki (1868-1936) centra-se no submundo russo. O escritor descreveu de forma vibrante os personagens que integravam as classes excluídas: operários, vagabundos, prostitutas, gente humilde, homens e mulheres do povo. Os autores realistas e naturalistas já tinham incorporado estes setores sociais na literatura, mas sem o sentido de autenticidade de Gorki que conhecia esse universo por dentro – ele próprio nascera na extrema pobreza – sabendo captar o que havia de mais profundo na alma do povo russo. A Mãe, romance publicado em 1907, narra o processo do esclarecimento dialético de uma mulher russa do início do século XX, e da sua transformação ideológica. A pobreza extrema, a violência czarista e a luta política do filho e dos seus companheiros de fábrica em prol de condições económicas mais justas, tornam-na consciente de um novo papel social que a liberta da submissão a que se encontrava sujeita pela ordem arcaica. A obra, que se encontrava esgotada em Portugal, faz parte da coleção Os Livros da Minha Vida do Clube do Autor. A presente edição deste clássico da literatura universal conta com tradução de Dina Antunes e prefácio de José Milhazes. Clube do Autor
bell hooks
Tudo do Amor
“Foi a sua ausência [do amor] que me fez perceber o quão ele é importante”, escreve bell hooks sobre a sua infância traumática. O trabalho de Gloria Jean Watkins (1952-2021), conhecida pelo pseudónimo bell hooks, incide na intersecção da raça, da classe social e do género, e nos modos como estas categorias produzem e perpetuam sistemas de opressão e dominação, reforçando a estrutura capitalista patriarcal. Tudo do Amor, ensaio marcadamente pessoal, repensa o significado do amor na cultura ocidental e propõe uma visão do mundo sob uma nova ética amorosa, procurando desconstruir lugares-comuns e representações que dissimulam relações de poder e de dominação. Contrariando o pensamento corrente, que tantas vezes julga o amor como fraqueza ou atributo do que não é racional, bell hooks defende que, mais do que um sentimento, o amor é uma ação poderosa, capaz de combater o cinismo, o materialismo e a ganância que norteiam as sociedades contemporâneas. Na cozinha de sua casa, a autora tem pendurada uma foto de um grafiti que viu nas paredes de um estaleiro de obras com a seguinte frase, pintada em cores vivas: “A procura pelo amor continua mesmo perante as maiores improbabilidades.” Orfeu Negro

Nadejda Mandelstam
Contra Toda a Esperança
Nadejda Mandelstam (1899–1980) ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Kiev, que cedo abandonou para se dedicar à pintura. Em 1919, conheceu Ossip Mandelstam, com quem casou em 1922, e de quem se tornou a primeira ouvinte, conselheira e crítica literária. Acompanhou o marido durante os três anos de exílio (1934–1937) a que foi sentenciado, e desde então consagrou a sua vida a uma missão: a preservação da obra do poeta. Na década de 1960 conseguiu enviar clandestinamente o arquivo de Mandelstam para ser publicado no estrangeiro. O livro de memórias de Nadejda abre com a frase: “Depois de dar uma bofetada a Aleksei Tolstói, O. M. regressou imediatamente a Moscovo”. O motivo da bofetada nunca será explicado. Dois dias depois do incidente, agentes da polícia secreta batem à porta dos Mandelstam e levam o poeta. Ao longo da obra procura entender a razão dessa prisão e centra a narrativa nos quatro anos que medeiam a primeira detenção, na noite de maio de 1934, e a sua morte, ou os rumores sobre ela, num campo de trânsito próximo de Vladivostok, algures no Inverno de 1938. As memórias constituem um valioso itinerário literário e biográfico dos últimos anos de vida de um dos maiores poetas do século XX e uma fonte imprescindível para sucessivas gerações de investigadores da sua obra e também da poesia modernista russa. Imprensa da Universidade de Lisboa
Se, à semelhança de alguns jornais ou revistas, nos coubesse apontar a quem se destina a mais recente produção dos Artistas Unidos, bastaria apenas socorrer-nos da opinião abalizada de Andreia Bento: Estava em casa e esperava que a chuva viesse é “uma peça para quem gosta de palavras, sentimento e atores.”
Arrebatada pelo texto desde a primeira vez que o leu, há quase 20 anos, a encenadora fala de “uma ligação inexplicável”, e do modo como desde daí lhe “ecoam palavras que parecem tocar no mais íntimo de nós”. A escrita de Jean-Luc Lagarce, classificada por muitos como “delicada, sofrida, dolorosa”, tem o mistério de se tornar “uma espécie de assombração.”
Tal como as “cinco mulheres suspensas, em casa, à espera do filho pródigo”, também Andreia Bento aguardou pelo momento de fazer a peça de Lagarce. Em 2016, para a rubrica Teatro sem Fios da Antena 2, os Artistas Unidos gravaram-na, e Andreia Bento interpretou a Filha Mais Velha (é assim, quase anónimas, que o dramaturgo francês apelida as suas personagens).

Mas, isso não era suficiente. A atriz e encenadora sonhava levá-la para o palco e, honrando uma ideia de casa – a que não é estranha a vontade de homenagear o mestre Jorge Silva Melo, autor de um livro intitulado A mesa está posta –, materializar em cena as figuras da Avó (Antónia Terrinha), da Mãe (Gracinda Nave), da Filha Mais Velha (Maria Jorge), da Filha do Meio (Raquel Montenegro) e da Filha Mais Nova (Sofia Fialho), e da casa que aguarda, algures no tempo e no espaço, a chegada do filho pródigo.
Assim, cumprindo uma vontade adiada, Estava em casa e esperava que a chuva viesse chega ao Teatro da Politécnica como o espetáculo de abertura da temporada 2023/2024 dos Artistas Unidos.
Sentimento e atrizes em estado de graça
Se, em Lagarce, “a ação é a palavra”, o seu teatro é o da “procura do outro, do encontro e do desencontro”, nota a encenadora. O grande mistério desta peça parece estar no porquê das cinco personagens femininas (as únicas em cena, embora se sinta, a cada momento, a presença espectral não só do filho, como do pai defunto) se terem resignado numa espera que parece eterna. Aquilo que sabemos, e que o próprio autor deixou escrito a esse propósito, é que “elas esperavam-no há anos, sempre a mesma história, e nunca pensaram que o voltariam a ver”. Um dia, ele, o Irmão Mais Novo volta a casa, mas é para morrer.
Neste vazio, percetível nos muitos “silêncios que vão pontuando a relação que elas estabelecem entre a vida e a morte”, cada uma partilha, em monólogos intensos e vividos – são episódicos os diálogos ao longo da peça -, a sua relação com a espera e o abismo em que mergulharam quando, por fim, essa mesma espera, que as deixou suspensas no tempo, terminou. E, pergunta-se: ainda haverá tempo para elas?
Na tristeza que atravessa toda a peça, o autor não responde, talvez porque, tal como muitos a entendem, Estava em casa e esperava que a chuva viesse é “a peça-testamento” de um homem que sabe que está a morrer (Lagarce tinha SIDA e faleceria em 1995, um ano após a escrita do texto). Mas, nas brechas de luz que irrompem, amiúde, nos olhares das irmãs, talvez haja um lampejo de esperança no horizonte.
E é, nessa tão notável gestão do tempo da perda e da desilusão com o das boas memórias e da crença, que sobressai o exemplar trabalho das atrizes. Como observa Andreia Bento, “este é um espetáculo no fio da navalha, onde é necessário gerir emoções e ter um imenso rigor emocional e físico.”
A partir da tradução de Alexandra Moreira da Silva, o espetáculo conta com cenário e figurinos de Rita Lopes Alves e luz de Pedro Domingos. Em cena até 21 de outubro.
A expansão da linha amarela do Metropolitano até ao Cais do Sodré, passando pelas freguesias de Campo de Ourique e da Estrela, prepara-se para conferir uma nova centralidade ao Jardim Guerra Junqueiro, comummente conhecido como Jardim da Estrela. No coração deste magnífico espaço verde de Lisboa, reabilitando o velho chalet construído em 1882 – outrora o primeiro jardim de infância do país -, nasce, este mês, um novo espaço para a cultura: a Casa do Jardim da Estrela – Um Teatro em Cada Bairro.
O novo equipamento pretende dedicar-se às questões do ambiente e da sustentabilidade, integrando, paralelamente à programação cultural, uma biblioteca especializada, e por isso mesmo distinta das bibliotecas generalistas vizinhas (a Biblioteca-Quiosque Jardim da Estrela e a Biblioteca/ Espaço Cultural Cinema Europa, em Campo de Ourique).
Contudo, como nos conta a coordenadora do espaço Vanessa Albino, a biblioteca da Casa do Jardim da Estrela terá a particularidade inédita “de vir a integrar uma secção inteiramente dedicada à literatura de ficção relacionada com estas temáticas”. Ao encontro da ficção que possa abordar problemáticas como a das alterações climáticas ou do aquecimento global, “prevê-se abrir todo um conjunto de linhas programáticas, dos clubes de leitura aos ciclos de performances e debates.”

Outra das novidades previstas para a Casa do Jardim da Estrela – Um Teatro em Cada Bairro é a instalação de uma xiloteca. “Tal como as bibliotecas reúnem livros, as xilotecas preservam e catalogam os diversos tipos de madeiras, sendo um tipo de ‘biblioteca’ que colhe muito interesse entre arquitetos e designers”, explica Vanessa Albino, lembrando que esta é uma valência rara, mesmo a nível nacional. Simultaneamente, é uma homenagem ao malogrado José Pinho que, enquanto diretor do Festival 5L, teve a ideia de dotar uma das bibliotecas municipais de uma coleção deste tipo.
Uma ponte entre o ambiente e a cultura
Integrando muitas das ideias lançadas e discutidas junto das comunidades locais, tendo sido essencial o papel desempenhado pela Junta de Freguesia da Estrela junto da população e parceiros locais, a Casa do Jardim da Estrela propõe também “estabelecer uma ponte entre as áreas do ambiente e espaços verdes e a cultura”. Aliás, é da responsabilidade da Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia a exposição inaugural O Jardim da Estrela na evolução do espaço público de Lisboa. A mostra procura desvendar a história do jardim, “desde a sua génese aos nossos dias”, destacando alguns segredos sobre o famoso coreto.
Antecedendo a inauguração oficial, agendada para as 15h30 do próximo domingo, a Casa do Jardim da Estrela – Um Teatro em Cada Bairro promove, já a partir de dia 21, um recital de poesia e música (Eis quando me ensinou a voz do vento, no coreto, às 18h30). Nos dias seguintes, à mesma hora e no mesmo local, a banda Mauger embala-nos ao ritmo da bossa nova, do jazz e da pop (dia 22), e os músicos do Hot Clube de Portugal ao ritmo dos standards.
Na programação de domingo, destaca-se uma oficina sobre a importância vital das abelhas nos ecossistemas (10h), um concerto pelo jardim da Farra Fanfarra (a partir das 14h) e uma performance com o coreógrafo e bailarino Pedro Ramos, da Ordem do Ó (às 15h15), antecedendo a inauguração oficial. A fechar o dia, numa parceria com a associação cultural Filho Único, os sons de São Tomé vão fazer escutar-se pelo jardim num concerto repleto de alegria com a Banda Leguelá.

Na sua reabilitação e conversão, a agora Casa do Jardim da Estrela respeitou o projeto original do arquiteto José Luiz Monteiro (1848-1942), que por sua vez respondia às conceções inscritas no sistema de educação concebido pelo pedagogo alemão Friedrich Froebel. O edifício, que foi conhecido como Lactário e Creche do Jardim da Estrela, continua a privilegiar a relação direta com o meio envolvente, ou seja, o espaço do jardim.
Por esta razão, o novo equipamento cultural da cidade prefigura-se como um espaço ideal para realizar atividades e iniciativas que promovam a sensibilização e a consciencialização em torno das diferentes questões relacionadas com o ambiente, nas quais se incluem, por exemplo, a sensibilização para a perda da biodiversidade ou as diferentes perspetivas inerentes aos conceitos de sustentabilidade ambiental e literacia climática.
Recuando às origens do vosso trabalho conjunto, que circunstâncias conduziram a esse encontro?
Lander Patrick (LP) – Roça quase o acidente. Nós já éramos um casal. Uma amiga bailarina italiana organizava um festival na residência de uma família abastada. No caso de irmos como artistas, apresentar uma peça ou dar um workshop, eles pagavam a viagem e a estadia. Entendemos isso como umas férias e começámos a trabalhar em função dessas férias. Fizemos uma versão de 10 minutos do Cascas d’Ovo para passarmos essa temporada em Itália.
Partilharam ambos a responsabilidade criativa em cada projeto ou foram passando essa função de um para o outro?
Jonas Lopes (JL) – Cada projeto foi diferente. No Cascas d’Ovo estava o Lander mais a dirigir, depois na Matilda Carlota fui eu, fomos alterando um bocadinho, até que no Adorabilis encetámos a nossa primeira cocriação. Entretanto, cada um de nós teve os seus projetos com outras pessoas, mas o que fizemos juntos passou a ser sempre em cocriação. Agora, estamos novamente numa fase em que os interesses de cada um são diferentes, procuramos cada um novas coisas, e demos uma pausa ao trabalho de cocriação. Mas continuamos a trabalhar juntos, pois estamos em casa a discutir conceitos, a tocar músicas, a partilhar ideias de cenários. No nosso caso, a vida e a profissão misturam-se muito.
LP – Nesse sentido, os 10 Anos celebram o que aconteceu, mas assinalam a entrada numa nova etapa. Nesta altura estamos mais unidos pelo elemento música. Uma constante no nosso trabalho, que fomos desenvolvendo até ao Bate Fado, que marcou um clímax nessa relação entre música e dança. O Jonas está a desenvolver a sua carreira enquanto fadista, a aprofundá-la e a intensificá-la, de acordo com o historial do nosso trabalho, apresentando concertos em que o fado é sapateado [ou seja, “batido”].

O grande investimento na componente visual das vossas criações faz pressupor que sejam influenciados por artes como o cinema, a pintura, ou a banda-desenhada. É assim?
JL – As nossas influências podem muitas vezes até nem ser de teor artístico. Podem ser um objeto, uma imagem: o exemplo do Coin Operated, em que estamos sentados em dois cavalos, ativados por uma moeda, em que as pessoas contribuem para a performance acontecer. Aí as ações complementam-se, se ele toca viola eu canto. Essa ideia veio de um desenho animado. Mas em termos estéticos, o nosso mundo passa pela pintura, os olhos colocados em estéticas do passado, a revisitação dessas estéticas nos dias de hoje, através da moda e de cinema. E por vezes através das redes sociais, onde tens acesso à estética de outras pessoas que acabam por te inspirar.
LP – Essa relação com o lado visual presente no nosso trabalho, não diria que se liga a referências que possam lá estar, mas mais à nossa vontade de criar um mundo. Esse mundo que é som, imagem, movimento, cenário, luzes, traduz essa vontade da qual nascem os elementos visuais.
Qual foi visibilidade internacional que o vosso trabalho registou até hoje?
JL – O Cascas d’Ovo foi apresentado primeiro em São Paulo e depois em Lisboa. Na dança contemporânea, o território é muito mais internacional do que nacional. A oferta que hoje em dia existe a nível nacional, com a rede de cineteatros, tem aumentado, mas quando nós começámos eram poucos os teatros que tinham uma programação regular e séria de dança contemporânea, que tinham um público criado para ver esses espetáculos. Já a nível internacional, vais a uma terriola em França ou na Alemanha, e vês autocarros a chegar e os espetáculos a esgotarem.
Quais foram os critérios na escolha dos três espetáculos (Cascas d’Ovo, Coin Operated, Lento e Largo) que assinalam, no Centro Cultural de Belém, dez anos do vosso trabalho?
LP – A escolha resulta de um diálogo mantido com o CCB, tendo em conta os espetáculos já apresentados em Lisboa e os trabalhos que ainda queremos apresentar. Do nosso repertório, só duas peças já não estão em circulação.
O facto de serem dois a criar ajuda a ultrapassar eventuais bloqueios criativos de um ou de outro?
JL – Depende das fases [risos]. Não me imagino a fazer um solo; ele já fez um solo, a mim assusta-me a ideia de trabalhar sozinho. Acho incrível ter alguém com quem partilhar tudo. É óbvio que, às vezes, precisas do teu espaço criativo, precisas de experimentar coisas por ti só. Mas, no geral, o trabalho de um alimenta o do outro. Alimentam-se das curiosidades que cada um traz.

Os intérpretes que se juntam a vocês a cada peça passam por um processo de seleção ou costumam recorrer a pessoas que já conhecem de colaborações anteriores?
LP – A tendência é fazermos audições. Cria-se a oportunidade para conhecer novas pessoas. Temos também consciência de estarmos numa posição de empregabilidade. Mas por outro lado, o Lewis Seivwright está em todas as nossas peças desde 2017.
Os vossos trabalhos obedecem a uma estrutura narrativa ou trabalham por acumulação de ideias associadas livremente?
JL – Existem pontos de partida e depois cada peça vai ganhando vida e vai-nos dizendo o que necessita. Só nos apercebemos da viagem dramatúrgica de cada peça após a estreia. Sinto cada trabalho como um animal descontrolado que vai ganhando forma, e o monstro supera-nos. Nunca pensamos numa coisa de A a Z e depois vamos para estúdio fazer isto.
LP – Os pontos de partida, trabalhar em torno de uma referência ou de um acontecimento, são como sacos de desejos. Mas, é como o Jonas estava a dizer. Torna-se uma espécie de monstrinho que começamos por moldar até que ele ganha a sua própria autonomia, e nessa altura não podes imprimir os teus desejos a um objeto que já vai noutra direção.
Fantasia, sonho, futurismo, surrealismo, pós-humano, que importância têm estes ou outros conceitos no vosso trabalho?
JL – Creio que a nossa base vem do surrealismo e do ficcional. Existem criadores que lidam sobretudo com a realidade, que levam para o palco pessoas com roupas do dia-a-dia, com uma aparência mais quotidiana, e nós gostamos de trabalhar “aquela caixa” como uma máquina de ficção…
LP – Não significa que uma pessoa vestida com uma roupa casual não possa ser ficção. Mas nós gostamos de abusar dessa oportunidade que temos de remisturar símbolos, de brincar com os espaços.
Têm o desejo de um dia conceber um espetáculo com uma escala de grandeza comparável à do Cirque du Soleil?
LP – Nós já passámos por experiências tão diferentes, que encontramos pontos deliciosos em todas as dimensões. Já fizemos espetáculos no interior de uma casa de banho ou dentro de uma igreja, mas é evidente que temos curiosidade de experimentar o que seria fazer uma coisa megalómana, a loucura que seria. Outra coisa seria mantermo-nos só a fazer projetos dessa dimensão.
JL – Existe já há algum tempo o desejo de fazer uma ópera. Uma ópera que fosse criada de raiz. E aí já estaríamos mais próximos de trabalhar nessa escala. Existem ideias, vamos ver se alguma avança.