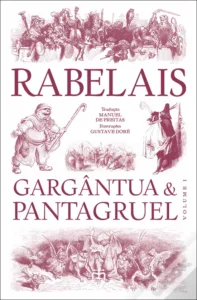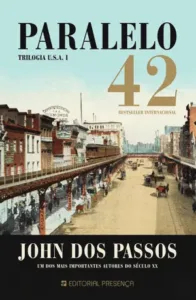Natália Correia marcou o século XX português pela personalidade desassombrada e pela extraordinária qualidade da obra que tocou todos os géneros literários: do barroco fulgurante do seu teatro, revisitação dos principais mitos da cultura portuguesa (O Encoberto, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, A Pécora), ao lirismo místico da sua poesia, da profundidade dos seus ensaios sobre a questão da Identidade (Somos Todos Hispanos) à adaptação dos mitos clássicos gregos ao Portugal contemporâneo patente nos seus dois principais romances (A Madona, A ilha de Circe).
Tal como a Feiticeira Cotovia (personagem do poema Comunicação, condenada às chamas “por prática de uma magia maior e estranha a que ela dava o nome de Poesia”), Natália tinha a convicção de que “as roseiras ao / é que dão rosas”. Por isso, nas palavras de Manuel Alegre, “desafiava os homens e os deuses, punha em causa a ordem e a moral estabelecidas, contestava as certezas e os dogmas, combatia todas as instituições e todas as tiranias”.
Dotada de uma personalidade fascinante e complexa, a escritora situava-se algures entre o distanciamento e a generosidade, o desafio e a fragilidade, o sarcasmo e a ternura, a racionalidade e a magia. “A partir de agora, se alguém me quiser encontrar, procure–me entre o riso e a paixão”, escreveu na Ilha de Circe.
Na madrugada de 16 de março de 1993, entrou na morte de olhos abertos. Porém, graças ao fulgor profético da sua obra, Natália continuará pelo tempo adiante. Ela prometeu: “Eu sou romântica. Não falto”. Que as celebrações do centenário do nascimento de Natália Correia contribuam para ajudar a cumprir o seu famoso vaticínio: “Vai ser preciso passarem duas décadas sobre a minha morte, para começarem a compreender o que escrevi”.
Seis livros de Natália
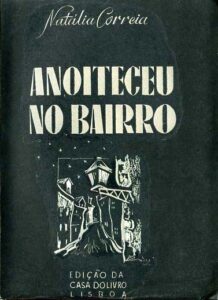
Aconteceu no Bairro
Aconteceu no Bairro, o seu primeiro romance, escrito aos 23 anos, percorre os caminhos do romance naturalista urbano. A obra narra as vivências dos moradores de uma rua imaginária de um bairro popular de Lisboa, ao longo de um dia de inverno, do amanhecer ao anoitecer, criando uma impressiva galeria de figuras do quotidiano da capital de finais dos anos 40 do século passado. Natália nunca amou tanto as suas personagens. Elas retribuem-lhe, assumindo uma pungente humanidade.
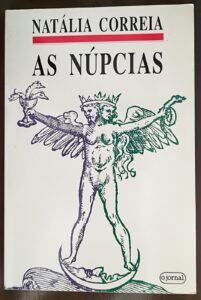
As Núpcias
O romance foi um género que a autora cultivou, espaçadamente, ao longo da sua carreira literária: Anoiteceu no Bairro (1946) foi o primeiro, As Núpcias (1992) o último, publicado um ano antes da sua morte. Nesta obra, à semelhança de A Madona (1968) e A Ilha de Circe (1983), adapta os grandes mitos clássicos ao Portugal contemporâneo fazendo reviver Isis, irmã e esposa de Osíris, na relação entre Catarina e André. Uma história de amor e morte, incesto e rebeldia no ambiente da burguesia do pós-25 de Abril, que inspira não só o talento satírico da autora mas também o seu misticismo revelado na confluência do sagrado e do profano, do masculino e do feminino.

Descobri que Era Europeia
“Foi na América que tive a grande revelação. Levava comigo as minhas raízes europeias.” Aos 26 anos, Natália Correia visita os Estados Unidos com o objetivo central de, a pedido de António Sérgio, solicitar a colaboração do líder do Partido Socialista dos Estados Unidos para a luta pró-democracia que se desenvolvia em Portugal. A prodigiosa lucidez e a penetrante capacidade de observação de Natália Correia conferem uma inesperada atualidade a este relato, tornando a sua leitura essencial para entender “os contrastes e agressivos antagonismos” de uma nação que, como escreve Ângela de Almeida na introdução à edição da editora Ponto de Fuga, que “tanto é a casa de Lincoln ou Luther King como a fábrica do Ku Klux Klan e do Watergate; tanto pode acender a luz de Obama como pode deixar deslizar as sombras de Trump.”
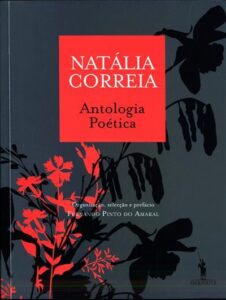
Antologia poética
“Em que ponto estarei da Eternidade?” Interrogou-se Natália Correia num dos seus Sonetos Românticos. Com organização, seleção e prefácio de Fernando Pinto do Amaral, a presente antologia poética, realizada tendo como base a edição mais recente da Poesia Completa de Natália Correia (Dom Quixote, 1999), destina-se a facultar aos leitores do século XXI uma visão de conjunto da grande poetisa. O critério posto em jogo para selecionar os poemas pretendeu obedecer a um equilíbrio (naturalmente sempre instável) entre o gosto pessoal do organizador e a representatividade dos diversos períodos da sua escrita.
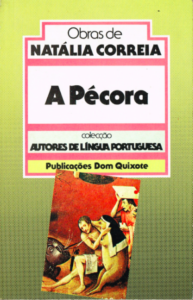
A Pécora
Escrita nos anos 60, A Pécora seria a segunda peça de Natália Correia, depois de O Homúnculo (1965) e antes de O Encoberto (1969) a promover uma profunda reavaliação dos mitos da portugalidade. Neste caso, os milagres de Fátima. Narra, sucintamente, a história de uma prostituta (Melânia Sabiani) cuja morte é falseada, reaparecendo depois numa aparição que a torna santa. Um dos maiores êxitos do teatro português, em cena mais de meio ano no palco da Comuna, é ainda a única peça da autora interpretada internacionalmente. Luiz Francisco Rebello considerou-a “uma obra-prima da dramaturgia portuguesa contemporânea, não só pela perturbante novidade dos caminhos que ousa explorar como pela carga prodigiosa de imaginação a que dá livre curso.”

Antologia de Poesia Erótica e Satírica
De Martim Soares (1241-?) a Dórdio Guimarães (1938- 1997), esta célebre antologia, com seleção, prefácio e notas de Natália Correia, reúne oito séculos de poesia portuguesa erótica e satírica. Depois de vários livros seus terem sido apreendidos pela Censura do Estado Novo, a autora aceitou o convite do visionário editor da Afrodite, Fernando Ribeiro de Mello, para organizar esta antologia. Publicada em dezembro de 1965, prometia “a poesia maldita dos nossos poetas”, “as cantigas medievais em linguagem actualizada”, “dezenas de inéditos” e “a revelação do erotismo de Fernando Pessoa”. O escândalo foi enorme e a obra apreendida pela PIDE, com vários dos intervenientes julgados e condenados em Tribunal Plenário, num processo que se arrastou durante anos. A mais recente edição é da editora Ponto de Fuga.
Rabelais
Gargântua & Pantagruel
François Rabelais (1494-1553), escritor, médico e monge do Renascimento, publica, em 1532, Pantagruel sob a autoria de Alcofibras Nasier, anagrama do seu nome, obra censurada pela Sorbonne ainda controlada pela Igreja. Dois anos mais tarde narra a história de Gargântua, pai de Pantagruel, gigantes de apetite insaciável, dois primeiros volumes de uma pentalogia de romances. Num ambiente geral de diversão, Rabelais expõe ideias perigosas para a sua época: ataca a tirania da escolástica, a ignorância dos monges, o absurdo das guerras e condena a religião quando confundida com o poder temporal. Simultaneamente, cria um universo romanesco que integra todas as formas de expressão e todas variedades da língua e que funde comédia e emoção, mito e realidade, razão e delírio, cultura erudita e popular. Num ensaio que o filólogo e crítico literário Erich Auerbach dedica a Rabelais, entende o “pantagruelismo” como “uma maneira de apreender a vida que se apodera simultaneamente do espiritual e do sensorial, sem deixar escapar nenhuma das possibilidades que ela oferece”. A tradução é de Manuel de Freitas. E-Primatur
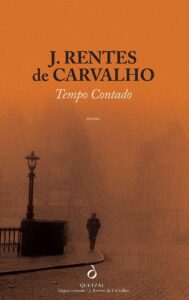
Rentes de Carvalho
Tempo Contado
Durante alguns meses de 1994 e 1995, abeirando-se da idade da reforma, Rentes de Carvalho sujeitou-se à disciplina de escrever um diário que se ocupa das suas observações, reflexões a agastamentos, entre Trás-os-Montes e Amesterdão, de cá para lá e de lá para cá, como tem feito toda a sua vida. No norte de Portugal, na aldeia da infância onde todos os anos reencontra a mãe, o escritor observa um país envelhecido, com cada vez menos pessoas, e vidas que se encerram entre quatro paredes à espera do fim. Na Holanda, as suas impressões vão mais para o meio literário, as celebrações vãs e a vaidade daqueles a que Rentes de Carvalho reconhece demasiada pompa para pouco talento. E vai escrevendo sobre aquilo que constitui para si este modo de escrita: “Ainda que evite revelações ou detalhes íntimos, o diário permanece um instrumento perigoso. Não para quem o lê, mas para o seu autor. Uma espécie de testemunha muda que conhece os pensamentos que originaram as palavras, conhece até ao detalhe as razões que levaram a filtrá-los, e a cada momento ameaça que se quiser pode apresentar queixa no tribunal.” Melancólico, lúcido e precioso. RG Quetzal
John dos Passos
Paralelo 42
John Dos Passos (1896-1934), filho de um abastado advogado norte-americano de origem portuguesa, foi o autor de uma série de obras literárias importantes na primeira metade do século XX: Manhatan Transfer e a Trilogia USA, que integra Paralelo 42, 1919 e The Big Money, agora reeditadas pela Presença, na exigente tradução de João Martins. Acusado, por vezes, de ser incapaz de criar e desenvolver personagens autênticas e de descrever conflitos emocionais profundos, criou, no entanto, um estilo caleidoscópio, experimental e modernista que constituiu um marco relevante, génese de muitos dos futuros desenvolvimentos formais da literatura norte-americana. Nestes romances entrecruza ficção com biografia de figuras reais (Henry Ford, Rudolf Valentino ou Woodrow Wilson), recorre a colagens de cabeçalhos de jornal, anúncios, canções, noticiários e discursos políticos da época e ao “olho da câmara” (fluxo de consciência que enfatiza o reflexo dos acontecimentos no interior do narrador), recriando a atmosfera do período. A grande Nação Americana, de 1900 a 1930, torna-se na protagonista da narrativa e é retratada de forma crítica como uma sociedade materialista à beira do declínio. Presença
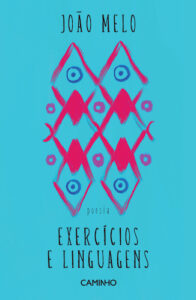
João Melo
Exercícios e Linguagens
Nascido em Luanda em 1955, João Melo é mais conhecido em Portugal pelos seus livros de contos, mas faz parte de um grupo de poetas angolanos revelados editorialmente na década de 1980 e é considerado um nome incontornável da poesia angolana pós-independência. No conjunto da sua produção poética identificam-se cinco vertentes essenciais: “uma contida mas assumida linha lírico-intimista; uma linha claramente telúrica; uma ousada linha amorosa, com fortes e explícitas implicações eróticas; uma declarada linha sociopolítica; e uma linha experimentalista, assente numa busca multiforme de todas as possibilidades criativas do texto”. O autor resolveu selecionar e organizar cinco volumes que cobrem a sua poesia produzida entre 1970 e 2020, contendo alguns dos poemas já publicados, mas agora organizados tematicamente de acordo com as referidas vertentes essenciais. Esta quinta antologia representa a sua linha experimentalista. Segundo Tânia Macedo, o trabalho poético de João Melo “vincula-se estreitamente à tradição literária do seu país e, corajosamente, ousa novos caminhos continuamente”. Transcrevendo uns versos do poema A Lebre e o Cágado, podíamos afirmar que o autor procura “achar o ritmo certo / para a necessária mudança / das coisas.” Caminho
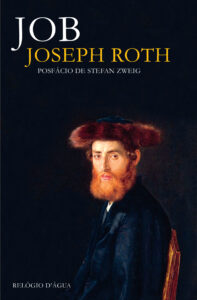
Joseph Roth
Job
Joseph Roth (1894-1939) nasceu em Brody, cidade dominada pela cultura judaica no extremo do Império Austro-Húngaro (atual Ucrânia). Em 1920 dedica-se ao jornalismo em Berlim e torna-se num dos grandes cronistas da Republica de Weimar. Assiste à crise da velha capital prussiana e ao avento do nazismo, manifestando na sua obra de ficção uma crescente nostalgia pela vida e valores do antigo Império Austríaco. Job, sobre o tema favorito do expatriado, retrata o destino e as provações de um patriarca judeu emigrado nos Estados Unidos, criando uma analogia com a experiência de fé de Jó, personagem do Antigo Testamento inconformado com o seu destino. A dúvida leva-o ao conhecimento e à entrega incondicional a Deus. “Job é mais do que um romance e uma lenda, é uma obra poética pura e perfeita, destinada a durar mais do que tudo o que nós, seus contemporâneos, criámos e escrevemos. Na unidade de construção, na profundidade do sentimento, na pureza e na musicalidade da linguagem, dificilmente pode ser superado”, escreve Stefan Zweig no posfácio da presente edição. Relógio d’Água

Michel Pastoureau
Branco
Michel Pastoureau afirma que a cor não é tanto um fenómeno natural quanto uma construção cultural complexa, um facto social: “é a sociedade que ‘faz’ a cor, que lhe dá a sua definição e o seu sentido, que constrói os seus códigos e valores, que organiza as sua práticas e determina as suas implicações”. Este é um livro de história, o sexto e último de uma serie dedicada às cores, que estuda o branco nas sociedades europeias, do paleolítico aos nossos dias, sob todos os seus aspetos, do léxico aos símbolos, passando sobre a vida quotidiana, pelas práticas sociais, pelos saberes científicos, pelas aplicações técnicas, pelas morais religiosas e pelas criações artísticas. Segundo o autor, na sua maioria, as ideias associadas ao branco são virtudes ou qualidades: pureza, inocência, sabedoria, paz, beleza, higiene. Ao longo de séculos, na Europa, foi a cor da monarquia e da aristocracia nos cerimoniais e vestuário. Foi também, durante muito tempo, a cor do sagrado e da sua da encenação. Porém, “o progresso técnico e científico, entre o final da Idade Média e o século XVII, relegou esta cor, bem como o preto, à margem da nova ordem cromática, acabando por criar o seu próprio universo preto-e-branco.” Orfeu Negro

Joana Kabuki
Viradas do avesso
Três amigas que crescem em Lisboa, num lugar onde se podia brincar na rua, em segurança, são as protagonistas de Viradas do avesso, livro de estreia de Joana Kabuki. Berta, Alice e Carlota eram inseparáveis, até ao dia em que a imprevisibilidade da vida as leva a seguirem o seu rumo apartadas. Envolta em mistério, Berta foi a última a chegar à tranquila praceta onde moravam, mas um dia, ao voltar a casa, encontra os pais mortos. É então que desaparece sem deixar rasto, sem dar notícias às suas amigas durante mais de 20 anos. Até ao dia em que surge no consultório do marido de Alice e perante o medo de não ter oportunidade de dizer o que gostaria, segundos antes de ceder aos efeitos da anestesia, diz: “Doutor Gonçalo Furtado, diga à Alice que nunca me esqueci dela. Nem dela, nem da Carlota.” “Podemos fugir do passado, mas o passado não foge de nós e, mais cedo ou mais tarde, arranja forma de nos encontrar. Às vezes para nos atormentar, outra para nos redimir.” Um romance surpreendente, que nos leva a perceber que, muitas vezes, é o passado que nos ajuda a enfrentar o presente. “A morte apaga muitas coisas, mas não apaga o amor.” SS Clube do Autor
Pela primeira vez, a direção artística do São Luiz Teatro Municipal é assumida por um artista no ativo. Acha que isso é por si só razão para haver uma mudança substantiva no modo como se vê e se pensa este teatro?
Não gosto de grandes mudanças, não gosto de tábuas rasas e muito menos de revoluções. Sou por natureza alguém que gosta de conservar o que está bem, o que tem dado frutos e, neste caso, aquilo que tem promovido uma ideia de teatro municipal. Sendo um artista, tenho naturalmente uma visão artística para este teatro, como o Jorge Salavisa teve, embora quando o dirigiu não estivesse no “ativo”. E mesmo os meus antecessores, o José Luís Ferreira e a Aida Tavares, não sendo artistas, pelo seu tempo de convívio com eles adquiriram uma linguagem que facilitava a comunicação nesse sentido. Eles compreendiam o artista, não se limitando a uma visão administrativa ou burocrática.
Teremos, portanto, uma continuidade…
Digamos antes que estou a procurar melhorar aquilo que pode ser melhorado dentro do padrão anteriormente estabelecido pela Aida Tavares, numa aproximação suave, numa mudança aos poucos. Como sublinhei, não gosto de mudanças bruscas. Acho que na maior parte das vezes servem apenas para coincidir com a imagem que alguém tem de nós e, daí decorrente, de sentirmos a necessidade de fazer diferente.
A Aida Tavares esteve oito anos à frente do Teatro São Luiz. Há algum traço que gostaria de destacar nos seus mandatos e que, seguramente, terão continuidade no seu?
Reconheço que as aproximações que a Aida fazia ao tecido cultural do país através do São Luiz sempre me pareceram muito acertadas, e nesse sentido, aplicarei a minha visão, embora com posições diferentes acerca de um conjunto de coisas. Contudo, há uma trama que é comum: como dirigir um teatro com esta amplitude, responsabilidade e pergaminhos na cidade de Lisboa. Aí é que me devo pôr sempre, abdicando muitas vezes da minha personalidade.
Isto leva-me a perguntar como é que a personalidade do artista vai lidar com a missão do diretor artístico?
São, antes de mais, papéis diferentes. Estou à frente de um equipamento que faz parte da EGEAC, empresa que tem como missão gerir um conjunto de equipamentos culturais municipais e, portanto, desde logo é necessário responder à missão do São Luiz no conjunto do património gerido pela empresa. O que procurarei aplicar é um carisma próprio, um carisma no sentido religioso e que não tem a ver com personalidade. Ou seja, não estou aqui para impor, mas para dialogar no intuito de articular a herança desta casa com uma, duas ou três aberturas que proponho. Depois, veremos se isso tem acolhimento no que está estabelecido e no acordo que este teatro tem com a cidade.

Assumiu funções a 1 de junho. Qual foi o primeiro desafio que se lhe colocou?
O primeiro desafio foi dizer “estou aqui”. Comecei por chamar todos os artistas programados para esta temporada para lhes comunicar que, apesar de esta programação ser maioritariamente da responsabilidade da anterior direção artística, eu estou com eles. Um a um, tentei perceber a natureza de cada proposta e a partir daí estabelecemos cumplicidades, contrapomos ideias, etc. Com isto, procuro constituir diálogo, lastro e património na minha relação com os artistas. Naturalmente, tenho inclinações para determinadas linhas artísticas, mas enquanto diretor desta casa tenho que me abstrair…
E essas conversas têm sido importantes para o diretor artístico?
Claro que sim. Tenho falado com artistas com quem nunca pensei cruzar-me enquanto artista, e é nesse sentido que estou a considerar esta experiência muito enriquecedora, capaz de quebrar preconceitos que poderia ter em relação a determinadas propostas das quais me distanciaria de uma forma natural. Esta função está a obrigar-me a implicar com cada visão para perceber como podemos trabalhar para um bem comum.

Há pouco referia a importância de situar a missão do São Luiz no contexto da EGEAC, e uma vez que falamos de um teatro, e existindo outros dois teatros municipais naquele universo (o LU.CA e o TBA-Teatro do Bairro Alto), não seria proveitoso para a cidade um diálogo mais efetivo entre eles e, naturalmente, mais percetível pelos públicos?
Como artista coloquei várias vezes essa questão, até porque ao longo dos anos apresentei propostas tanto ao São Luiz como ao TBA. Aquilo que tenho notado é que há um ajuste de visões muito salutar e que vamos procurando estar em contacto para saber onde cada um de nós se encontra e qual é o sítio onde mais nos potenciamos. Tive recentemente uma reunião com a Susana Menezes [diretora artística do LU.CA, teatro municipal vocacionado para a infância] para clarificar a minha posição de não retomar o serviço educativo do São Luiz, isto é, de não programar para idades inferiores ao 9.º ano de escolaridade. Procurarei, isso sim, ter projetos vocacionados para a idade pré-adulta.
Quanto ao TBA…
Ainda não consegui reunir pessoalmente com o Francisco Frazão [diretor artístico], mas o TBA tem uma programação muito específica, que dialoga com determinadas franjas de público. Há uma diferença histórica para o São Luiz, que eu sempre vi como um teatro mais popular, desenhado assim pela própria memória histórica. Pisaram este palco grandes estrelas como Eleonora Duce ou Sarah Bernhardt, e isso leva-me a acreditar que o São Luiz – até porque tem uma sala, a Luís Miguel Cintra, com uma lotação de 600 lugares –, deve ser um teatro para receber espetáculos de grande dimensão e de grande apelo popular, sem com isso dizer que exclua os artistas novos. Terão é de ser artistas que não estejam necessariamente numa fase embrionária da pesquisa, que tenham já um discurso consubstanciado e afirmado.
Embora o São Luiz tenha ainda mais duas salas, a Mário Viegas e a Bernardo Sassetti…
Cada sala deste teatro permite aproximações diferentes, contudo pode haver uma proposta teatral, coreográfica ou musical que, embora não tenha ainda a sedimentação de público de grande escala, deva, pela natureza do projeto, ser apresentada na Sala Luís Miguel [Cintra] e não noutra. Ou seja, não há nenhuma regra que diga que o artista mais conhecido tenha necessariamente de ir para a sala maior e o não tão conhecido para a sala estúdio. Aliás, quero que isso se sinta na Sala Luís Miguel com um maior ecletismo de propostas…
Pode explicar?
Pretendo aumentar naquela sala a participação de outras disciplinas que não o teatro, ou seja, procurar uma maior paridade entre teatro, dança e música, e neste campo específico a música clássica e o jazz. No fundo, quero que o São Luiz seja menos uma sala de repertório e mais um palco municipal para os grandes concertos, para os grandes coreógrafos…

Por falar em concertos, a abertura da temporada faz-se com música, e tem já a sua assinatura…
É algo que quero que aconteça sempre na abertura de cada temporada: uma festa a assinalar o início das atividades. Já no dia 2, vamos ter na sala principal Suzie and the Boys com um espetáculo chamado A boémia de um cabaret sonoro. A Miss Suzie é uma artista que sempre habitou entre a performance e a música e surge aqui acompanhada de uma orquestra de músicos provenientes de bandas como Ena Pá 2000 ou Cais Sodre Funk Connection. Logo a seguir, subimos à Sala Bernardo Sassetti para escutar o projeto Zabra Soundscapes, do João Pedro Fonseca e do Manuel Bogalheiro. Este momento de celebração resume uma ideia de festa que desejo. Acho que o ato de ver um espetáculo, espetáculo esse que comporta uma visão artística do mundo, não se deve esgotar aí. Ir ao teatro deve ser um momento para estarmos com os outros, com os amigos. Uma celebração que traga consigo um sentido de festa, de nos expandirmos como que dionisiacamente, embora dentro das possibilidades daquilo que é um teatro municipal [risos].
Os primeiros meses desta temporada são muito marcados pelas escolhas da anterior direção artística. Quando começaremos a ver e a perceber a entrada em cena do Miguel Loureiro?
Embora o grosso da programação seja da Aida, há alguns espaços onde posso intervir. Para já, em outubro, há um ciclo de cinema sobre Lisboa, com curadoria da Ilda Teresa Castro, feito em parceria com o Arquivo Municipal de Lisboa, intitulado Topografias Imaginárias; e, em dezembro, teremos uma coreografia de início de carreira do Miguel Pereira, d´O Rumo do Fumo, estreada num Alkantara Festival há uns bons anos, Miguel Meets Karima. Para o ano, prevemos projetos com o MPMP-Movimento Patrimonial da Música Portuguesa e com a Orquestra Metropolitana de Lisboa; uma homenagem à Maria da Fé, que estamos a preparar com o Museu do Fado; um festival de jazz ao ar livre, que irá ocorrer em junho, aqui no Largo do Picadeiro; ou um ciclo de cinco, seis espetáculos, disseminados ao longo do último semestre, que pretendo realizar todos os anos, com foco num maestro, e que se iniciará com o Martim Sousa Tavares. Para além disto, tenho idealizado um espetáculo para assinalar o Dia Mundial do Refugiado, e que deverá envolver outros equipamentos municipais, e ainda um ciclo de pensamento que contará com nomes como Bragança de Miranda e Thomas Piketty. Mas, sobre tudo isto, falaremos mais tarde.
De certo modo, e embora esteja neste papel há tão pouco tempo, sente que o programador é também um autor?
Devo dizer que, como encenador, os meus últimos trabalhos tendiam a apagar essa coisa da autoria. O importante era criar as melhores condições para desenvolver os projetos e trabalhar com a comunidade de artistas que me acompanhavam. Enquanto diretor artístico, quero integrar a visão que tinha enquanto criador. Sabendo que este é o sítio de desenvolvimento das linguagens artísticas, e que estas são sempre implicadas e engajadas, é aos artistas que aqui se apresentarem que cabe intervir, colocar os problemas e filtrá-los através da arte. O meu papel é ser o anfitrião da “festa”.
Quando voltaremos a ver uma criação ou uma atuação em palco do Miguel Loureiro?
Neste momento, não sei. Uma coisa é certa, estatutariamente estou impedido de o fazer aqui. Agora, o meu compromisso é com a direção artística do São Luiz, no sentido de construir uma linha de programação e pensamento que continue a inscrever este teatro na cidade, neste preciso local que é o Chiado, procurando fazer sítio do sítio.
Cantora lírica de formação, Catarina Molder é a mulher por trás do Operafest. A diretora artística do festival que vai para a quarta edição conta-nos que esta aventura nasceu em plena pandemia. “A ideia já estava no forno há mais de cinco anos e arrancou no primeiro ano de pandemia. Era uma coisa que estava no meu coração há muito tempo porque fazia falta. Vai ao encontro das grandes carências do mercado operático português.”
A verdade é que, até ao aparecimento do Operafest, “não existia, em Portugal, nenhum festival que entrasse no roteiro internacional dos festivais de ópera de verão”. Em tão poucas edições, o festival já se afirma “como um dos festivais europeus mais fora da caixa, e isso deve-se ao facto de apresentarmos grandes clássicos, mas também por apoiarmos muito a nova ópera, cruzamentos e revisitações.”
A resposta dos espectadores tem sido surpreendente, com “recordes absolutos de público que vem à ópera pela primeira vez. Estamos a chegar a um público que não consumia ópera. Este meio sempre foi muito fechado sobre si próprio, era preciso saber comunicá-lo. Chegámos a um ponto em que as pessoas só vão se à ópera se ela for quase 100% financiada pelo Estado, porque o público não pode pagar. A ópera afastou-se do grande público.”
Para a diretora artística, esse afastamento pode ter-se acentuado com a invenção do cinema, “que veio alterar a forma como as pessoas se divertiam. Com o aparecimento da televisão e das novas tecnologias, o divertimento deixou de estar no palco e passou a chegar a um número ilimitado de espectadores. O Homem entrou na utopia por excelência, e isso é maravilhoso, porque a arte tenta recriar utopias, o que tem um elemento muito catártico, porque enriquece a nossa existência, que é limitada, e apazigua as dores relativas à nossa finitude. Até lá, vamos tentando compreender os mistérios da vida e o objeto artístico tem uma ligação muito forte a estas grandes questões, que vão estar muito presentes nesta edição”.

O tema deste ano é Entre o céu e o inferno, com o subtema da libertação feminina: “as histórias das grandes óperas de repertório têm quase sempre heroínas, mulheres que são umas sacrificadas, tal como na vida real”, explica. A programação é marcada por grandes clássicos, com a presença das duas óperas mais vistas de sempre: Carmen, de George Bizet, no arranque do festival, e A Flauta Mágica, de Mozart. Molder destaca ainda “o grande clássico Suor Angelica, de Puccini, e a estreia absoluta de Rigor Mortis, do talentosíssimo Francisco Lima da Silva.”
Outro dos pontos fortes do festival é a ópera satélite, “que promove novos olhares e explorações da matéria operática a vários níveis, e que inclui uma conferência do Ruy Vieira Nery em torno do fenómeno [Maria] Callas na celebração do centenário do seu nascimento, e um curso livre que viaja pelo mundo da ópera”. Mas há muito mais para ver, como “a rave operática que se tornou a imagem de marca do Operafest, e onde se mistura o mundo pop com a ópera, demostrando o ecletismo do festival”.
A diretora artística do Operafest realça ainda a qualidade de todos os artistas envolvidos, “um viveiro de novo talento. Todos os encenadores deste ano estão a encenar ópera pela primeira vez”, como é o caso de Tónan Quito, com Carmen, Mónica Garnel, em A Flauta Mágica, ou David Pereira Bastos, em Suor Angelica e Rigor Mortis. “Alguns já são nomes consagrados no meio teatral, mas nunca encenaram ópera. Não vão estar preocupados com nenhum preconceito ou com a tradição. Acho que podem trazer propostas estimulantes para o mundo da ópera, que tem muita dificuldade em reinventar-se”.
Toda a informação e programação completa pode ser consultada aqui.
Na reta final do verão, mesmo antes do início da rentrée, Lisboa recebe o MEO Kalorama. O festival estreou-se o ano passado no Parque da Belavista, fazendo justiça ao nome (kalorama é a palavra grega para “bela vista”), e regressa para “confirmar que o sucesso da primeira edição não foi em vão”, como afirma a diretora de comunicação Andreia Criner. Nesta segunda edição, entre os cabeças de cartaz estão os Blur, Florence and The Machine e os Arcade Fire, argumentos de peso para conquistar um público que se pretende cada vez mais heterogéneo.
Por falar, precisamente, no público, na primeira edição do MEO Kalorama, 32% dos espectadores do festival eram estrangeiros, um número que, para a organização, fez todo o sentido, uma vez que “não descaracteriza o festival. Ouve-se, sobretudo, falar português, mas também muitas outras línguas, e essa mescla é muito interessante.”
Sobre como se seleciona um cartaz desta envergadura, Andreia Criner explica: “programa -se com risco, com vontade de mostrar coisas novas, nomes que o grande público provavelmente ainda não conhece. A dinâmica destes grandes festivais é essa: programar alguns nomes seguros, tendo espaço para poder mostrar coisas novas, introduzindo o que achamos que vão ser os grandes artistas do futuro.”

O evento assenta sobre três pilares: música, arte e sustentabilidade. “Os festivais produzem pegadas ambientais pesadas, e por isso começamos o festival a pensar no que vamos fazer com os resíduos. Existe um plano e um compromisso público. Temos um projeto muito sério, empenhado e escrutinado”. A arte é outro ponto forte: “Lisboa é uma mostra de arte urbana a céu aberto, por isso este ano vamos ter ainda mais arte espalhada pelo recinto. Temos também a preocupação de ter muitos artistas nacionais, inclusive de Marvila, como os Underdogs ou Chelas é o Sítio. Do ponto de vista artístico, é uma zona extraordinária e que pulsa de talento.”
E, como a música é o principal, não podíamos deixar de pedir a Andreia as suas sugestões: “a nível pessoal, quero muito ver Tamino, uma espécie de ‘filho’ entre Jeff Buckley e Leonard Cohen. Não tenho dúvidas de que vai chegar longe e penso que irá chegar a Portugal relativamente desconhecido do público. Um dos nomes que penso que gera mais curiosidade é o de Ethel Cain. Outro nome interessante é a Siouxsie, mas talvez para uma geração um pouco mais velha.”
“Os Yeah Yeah Yeahs também são um nome imperdível. Já não vêm a Portugal há muitos anos e têm disco novo para apresentar”, sublinha Andreia. Mas, há mais: “Aphex Twin penso que vai ser o encontro de uma geração e os Prodigy também são um nome forte. Será com grande aperto no coração que não vamos ter o Keith Flint no palco, mas vai ser bom celebrar a sua memória, até porque passam 25 anos do lançamento de The Fat of the Land.”
Para concluir, a diretora de comunicação do Kalorama lembra ainda que “Arca, Pablo Vittar e Tiga são outros nomes a não perder. E, claro, temos artistas lusófonos muito bons. Quero muito ver Scúru Fitchádu, Pongo ou Dino D’Santiago.”
Toda a programação pode ser consultada aqui.
Com curadoria de Alfredo Puente, Em Bruto: Relações Comoventes consiste numa instalação de grandes dimensões que encontra novas expressões e promove novos diálogos com a arquitetura de cada vez que é mostrada. Partindo de uma estrutura complexa de traves, cavaletes, vigas e barrotes que convocam noções de reconstrução do espaço e da sua reconfiguração, a obra, agora repensada por Fernanda Fragateiro para o espaço do Museu CCB, ostenta títulos discretamente inscritos de obras assinadas por arquitetos e arquitetas que têm constituído referências importantes no percurso da artista. O resultado apresenta-se em forma de teia física, que é também uma teia de reflexões sobre o arquitetónico, a cidade, o espaço e a modernidade.

Mas, antes de se chegar à sala principal, atravessa-se uma outra, que, segundo a artista “é uma obra por si só”. Chama-se Materials Labs e trata-se “de uma obra aberta”, que vai crescendo à medida que Fernanda Fragateiro vai continuando o seu trabalho como escultora. São peças que reúnem, em mesas/caixas, materiais de proveniência muito diversa e entre os quais se incluem livros, artigos, mapas cromáticos, restos de materiais usados noutras obras, fotografias e manuscritos que contam a história do seu processo criativo.
“Na verdade, é um arquivo onde reúno uma série de referências e materiais de referência que foram importantes para construir determinadas exposições e determinadas esculturas, mas que, depois, se materializa da mesma forma que uma pintura. No fundo, é como se eu pintasse uma série de materiais que me interessam”, avança a artista.
A mostra expande-se depois para uma sala de leitura, onde os visitantes podem consultar os livros de arquitetura referidos na obra que visitarão a seguir. Após esta introdução, a exposição abre-se à instalação que, segundo Delfim Sardo, da direção do Centro Cultural de Belém, “é o corolário de um processo de diálogo com as questões políticas, sociais e formais da arquitetura com as quais a Fernanda Fragateiro tem vindo a lidar”.

Na última sala surgem então várias estruturas concebidas em madeira, carregadas de referências escritas, que evocam a ideia de construção. Sobre este trabalho, a artista revela: “A mim, o que me interessava enquanto escultora era trabalhar a ideia de processo, de uma construção que está em decurso e não uma obra acabada, finalizada, que depois fosse comercializável. Pretendia uma peça que nos interrogasse sobre como é que entendemos o que é matéria-prima, o que são materiais, o que é a construção, o que é ruína, o que é fragmento e também que nos interrogasse sobre a forma como nós nos relacionamos com essas matérias.”
Fernanda Fragateiro, artista plástica e escultora reconhecida pelo seu trabalho que transita entre as áreas da escultura, instalação e intervenção artística, tem-se destacado pelas suas obras site-specific, utilizando a arquitetura e o contexto como elementos fundamentais das suas criações, estabelecendo um diálogo entre a obra e o ambiente que a rodeia.
Em Bruto: Relações Comoventes pode ser visitada no agora denominado Museu CCB de terça a domingo, até 10 de setembro. A entrada no museu é gratuita no primeiro domingo de cada mês.
A poucos dias do início da 16.ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a cidade prepara-se para receber mais de um milhão de peregrinos e voluntários que, para citar João Maia Abreu da Unidade de Missão da JMJ 2023, “vão pintar a cidade com as cores oficiais” (o vermelho, o verde e o amarelo) daquele que é um dos maiores eventos de sempre realizados na capital. As cores, evocação da bandeira portuguesa, são predominantes no logotipo desta JMJ, da autoria da designer portuguesa Beatriz Roque Antunes, que se inspirou no tema escolhido pelo Papa – Maria levantou-se e partiu apressadamente, passagem do Evangelho segundo São Lucas (Lc 1, 39) –, tendo a cruz como elemento central.
Sendo o ponto alto a presença do Papa Francisco, que chega a Lisboa a 2 de agosto, a JMJ é um evento religioso que, desde 1985, reúne milhões de católicos de todo o mundo, maioritariamente jovens. Lisboa, cidade escolhida pelo atual sumo pontífice, sucede à Cidade do Panamá, que acolheu o evento católico em 2019.
A JMJ inicia-se a 1 de agosto, terça-feira, com a Missa de Abertura, presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, no Parque Eduardo VII, mas, uma semana antes, a 26 de julho, dá-se o arranque do processo de acolhimento dos jovens nas dioceses.
Em paralelo a toda a JMJ, decorre o Festival da Juventude, composto por eventos musicais e concertos, conferências, exposições, espetáculos de teatro e dança, sessões de cinema, uma feira vocacional e torneios desportivos em espaços dispersos de Lisboa e arredores. Destacam-se o Terreiro do Paço e a Alameda D. Afonso Henriques como dois dos grandes palcos do evento, cujo o acesso é gratuito.
Os eventos centrais da JMJ
A chegada do Papa Francisco a Figo Maduro, a 2 de agosto, está programada para acontecer pelas 10 da manhã, seguindo-se “a visita protocolar ao Palácio de Belém e as deslocações ao Centro Cultural de Belém e ao Mosteiro dos Jerónimo”, explicita João Maia Abreu em texto enviado à redação.
No dia 3, “acontece o primeiro ato oficial da JMJ” quando, pelas 17h45, se iniciar o primeiro encontro entre o Papa e os jovens na Cerimónia de Acolhimento, no Parque Eduardo VII, denominado ‘Colina do Encontro’, no âmbito da Jornada.
A 4 de agosto, no mesmo local, realiza-se a Via-Sacra, que simula o trajeto de Jesus com a cruz até ao Calvário. Antes, o sumo pontífice volta a Belém para, na Cidade da Alegria (Jardim Vasco da Gama), “confessar alguns jovens”. Até à chegada à Colina do Encontro, o Papa tem agendado um encontro com os representantes de centros de assistência socio-caritativa, no Centro Paroquial de Serafina, e um almoço com os jovens, na Nunciatura Apostólica.
No dia seguinte, e depois de visitar Fátima, o Papa Francisco dirige-se para a zona oriental de Lisboa para, no Parque Tejo (agora ‘Campo da Graça’), participar na Vigília, onde para além da oração conjunta com os jovens, se faz a Adoração ao Santíssimo Sacramento.
Domingo, 6 de agosto, também no Campo da Graça, tem lugar a Missa de Envio, uma celebração presidida pelo Papa para encerrar oficialmente a JMJ. Antes do final da Missa, o sumo pontífice anuncia a cidade que sucede a Lisboa no acolhimento da próxima Jornada Mundial da Juventude.
A agenda deste dia inclui ainda a deslocação do Papa ao Passeio Marítimo de Algés para um último encontro com os voluntários da JMJ, estando o regresso a Roma previsto para cerca das 18 horas.
Todas as informações úteis sobre a JMJ Lisboa 2023 podem ser encontradas no site oficial do evento, disponível aqui.
“Esta peça é completamente anticapitalista”, frisa o encenador João Mota, lembrando que Paul Claudel, vulto da literatura francesa e figura de múltiplas controvérsias, católico convicto e militante desde os 18 anos, abraçou a carreira diplomática na última década do século XIX, tendo desempenhado o cargo de vice-cônsul em Nova Iorque e Boston. Embora haja uma dimensão universal no modo como as personagens encarnam vários aspetos da existência humana – Mota considera mesmo que “elas se completam” –, o seu olhar sobre os Estados Unidos da América (EUA) marca indelevelmente a peça de teatro L’Échange, datada de 1894 e reescrita quase 60 anos depois.
A ação de A Troca decorre algures na costa leste dos EUA, na propriedade de um rico e poderoso empresário, Thomas Pollock (Hugo Franco), que mantém uma relação com a atriz Lechy Elbernon (Maria Ana Filipe). Esse local tranquilo à beira mar emprega os recém-casados Louis (Rogério Vale), um jovem mestiço de origem indígena, e Marthe (Maria Jorge), uma camponesa francesa que partiu para a América por amor ao marido.
A paz em que vive o casal é abalada com o regresso inesperado dos ausentes Thomas e Lechy. Tentado pelos seus sonhos e ambições desmedidas, Louis trai Marthe, envolvendo-se com Lechy. Por sua vez, o poder manipulatório de Thomas, para quem “o dinheiro é a única coisa que vale a pena”, abate-se sobre as mais profundas convicções de Marthe.

O olhar cáustico do europeu Claudel sobre a América torna-se evidente, desde logo, no personagem de Thomas Pollock. “Ele é uma representação evidente daquilo que são os EUA”, nota o fundador da Comuna. “A vida para ele é negócio, tudo é troca, e não é só o capital; são as almas, são os corpos”. O encenador não deixa de transportar esta imagem para a conjuntura internacional, lembrando o poder que os EUA exercem sobre a América Latina, subjugando-a desde há longas décadas aos seus interesses, e para aquilo que se está a passar na Ucrânia. “Odeio o Putin, mas é cada vez mais evidente que os EUA têm todo o interesse na guerra porque o negócio é o armamento.”
É quase impossível não ver em Thomas Pollock a encarnação mefistofélica que corrompe as almas de todas as outras personagens, comprando-as ou “propondo-lhes uma troca”. Tudo é, pois, transacionável no mundo concebido pelo capitalista (na primeira versão, é um proprietário rural; na segunda, pode muito bem ser um especulador de Wall Street), e só Martha, através do seu ascetismo, resiste e não cede, embora isso implique a via sacrificial. Louis é presa fácil pela sua ansia de liberdade e ambição pessoal; e Leche já foi capturada há muito tempo, restando deixar-se habitar pelas personagens que encarnou no teatro para se reencontrar com a verdade.

Esse encontro com a verdade através da arte de representar é um dos aspetos que fascinou Mota nesta incursão pela peça de Claudel. “A dada altura, a Leche clama pela sua nudez de atriz para se mostrar com toda a transparência. Ela diz que só é verdadeira quando representa num palco. Isso diz muito sobre o ator e sobre aquilo que é o teatro.”
Para além de ser “uma peça extraordinária e atual”, o encenador, recentemente homenageado pelo Festival de Almada pelos 65 anos de carreira, gosta de lembrar Claudel como “um grande poeta e, em A Troca, encontra-se uma musicalidade da palavra que é rara e que tentámos manter o melhor possível na tradução” [de Luís Vasco]. Até porque, “é essa musicalidade que leva à emoção”, amiúde tão avassaladora, “que há até quem chore com esta peça”, conclui.
Com estreia agendada para dia 12, A Troca está em cena até final de julho, sendo a temporada do espetáculo retomada em setembro, em datas ainda a anunciar.
Criado em 2018 pela editora independente Robalo (que, entretanto, evoluiu para associação) numa parceria com a Antena2, o Festival Robalo Antena2 prepara-se para a sexta edição. Durante cinco dias, o auditório do Liceu Camões recebe dez concertos de jazz e música improvisada contemporânea transmitidos em direto pela Antena2. Como nos conta Gonçalo Marques, programador do evento, “a ideia é divulgar os vários estilos dentro deste género musical. Pretendemos ter músicos de várias gerações, alguns de fora de Lisboa, e há também uma preocupação com a questão de género”.
Numa altura em que decorrem outros festivais de jazz, a maior preocupação da organização é promover o que é menos conhecido: “programamos música que achamos que é boa, por isso é natural que ela passe também noutros sítios, mas tentamos ter projetos que não estão ainda a rodar muito. Um dos objetivos da associação é proteger as pessoas que não têm tantas oportunidades, ou porque estão numa fase inicial da carreira, ou porque são esteticamente muito específicas. Queremos dar este estímulo inicial à criação para ajudar grupos que ou ainda estão muito no início ou que são quase de nicho.”

Apesar de haver várias nacionalidades de músicos dentro dos grupos, a maioria são portugueses, “não apenas de forma a proteger os músicos nacionais, mas também por uma questão prática. Claro que preferíamos que houvesse uma mistura maior de nacionalidades, como também gostávamos que houvesse maior mistura geracional. Temos mais músicos jovens, mas pessoalmente gosto muito da mistura entre músicos mais experientes e músicos mais novos”, afirma o programador.
“O jazz e a música improvisada
devem ser ouvidos ao vivo”,
sugere Gonçalo Marques
Passemos ao alinhamento. A iniciar o certame, logo no dia 17, há uma atuação do trio luso britânico Practically Married + João Pereira, que aproveita a ocasião para lançar um disco. Segue-se um concerto de Aurin, do guitarrista Simão Bárcia. Ainda dentro dos lançamentos de discos, no dia seguinte há concerto do projeto de João Carreiro, Samuel Gapp e João Sousa. Nesse dia, há ainda atuação do ensemble constituído por músicos da Robalo e da associação Porta Jazz.
A 19 de julho, destaque para Forget about Mars, da pianista Debora King e no dia seguinte, é tempo de ouvir o projeto da pianista catalã Clara Lai, o único totalmente internacional deste festival.
No último dia, o festival abre com os Mirakelhund, grupo do trompetista João Almeida, um quarteto com músicos dinamarqueses. A finalizar, o imperdível concerto de Beast, um projeto que junta músicos de várias gerações: o saxofonista americano John O’Gallagher, Samuel Gapp, Zé Almeida e João Lencastre.
O programador Gonçalo Marques deixa o convite: “o jazz e a música improvisada devem ser ouvidos ao vivo”. No entanto, quem não puder comparecer pode sempre ouvir em direto à emissão da Antena2. O que interessa é ficar ligado, até porque “muita da música que vai passar é irrepetível, não só pela sua natureza de música improvisada, mas também pelo facto de serem grupos que não são muito conhecidos – ou porque estão a começar, ou porque envolvem músicos estrangeiros.”
No cartaz da “peça-concerto” de Cristina Carvalhal e João Henriques, Da Felicidade, vê-se um sol altamente contrastado em fundo azul. Logo nos primeiros minutos do espetáculo, percebe-se como aquela imagem remete para o ambiente solar, alegre e feliz, da terra mítica de Hiperbórea, que os gregos acreditavam existir para lá de onde sopra o vento norte, sítio onde o sol não se põe e um povo, bafejado pela paz perpétua e pela longa vida, vivia sem o flagelo das doenças e implicações da velhice, nem sequer as agruras do trabalho duro. Hiperbórea era uma terra tão bela, próspera e feliz que as suas florestas ficaram conhecidas como o “jardim de Apolo” e os seus habitantes, em homenagem às aves que migravam para aquele lugar, se faziam representar por gansos.
Como que louvando os “hiperbóreos” (e para isso até se lançam os dados no tabuleiro do jogo do “ganso”, ou da glória), os atores/cantores Bruno Huca, Júlia Valente e Sílvia Filipe, ao lado do pianista Ariel Rodriguez, da contrabaixista Sofia Queiroz e do clarinetista José de Geus, vão construindo com as palavras de poetas (Pessoa, Sylvia Plath, Ana Luísa Amaral), de filósofos (Espinoza, Walter Benjamin, Maria Filomena Molder) ou de escritores (Clarice Lispector, Virginia Woolf), um evocação de utopia sobre o palco. E como cimento da felicidade em construção, as canções de Chico Buarque, Sérgio Godinho, Queen, Prince ou Rag’n’Bone Man entrecruzam-se com pequenas histórias e fragmentos pessoais, memórias de momentos passados de alegria e bem-estar.

O lado mais íntimo e pessoal surge naturalmente como resultado de um processo criativo “muito colaborativo”, como lembra Cristina Carvalhal. Todo este espetáculo foi “feito em permanente diálogo com os músicos e com os atores, num processo longo e intenso”. João Henriques fala mesmo de “algo inteiramente novo” no seu percurso artístico: “quando começámos havia apenas uma proposta e agora temos um espetáculo. É como ter nos braços um bebé.”
Uma proposta que, conta Cristina Carvalhal, nasceu “ainda em tempo de pandemia, da necessidade de celebrar, da necessidade de alegria e da consciência do que aquilo que é de facto essencial é o amor”. Ao lado de João Henriques, músico e compositor, “com quem muito queria trabalhar”, veio a vontade de criar um objeto envolvendo “o teatro, a literatura, a música e o canto.”

Assumindo a forma de um recital, ou como os próprios apelidam “uma peça-concerto”, Da Felicidade acaba por propor uma reflexão sobre o próprio conceito de felicidade onde, nas palavras de Henriques, “as canções, com arranjos novos, surgem para estruturar, para interromper e dialogar, e para cruzar” com as ideias da filosofia, da poesia, do romance. E com a beleza das palavras contadas ou cantadas, lá está presente a alegria do gesto, do abraço, do amor e da paixão ou, simplesmente, da vida.
Nem que seja por pouco mais de hora e meia, Da Felicidade faz-nos sentir hiperbóreos, e antes que soe a última canção, já algo nos diz que havemos de chegar à casa do ganso e terminar o jogo em beleza.
Um espetáculo feliz, em cena até dia 16, na Sala Mário Viegas do São Luiz Teatro Municipal.
paginations here