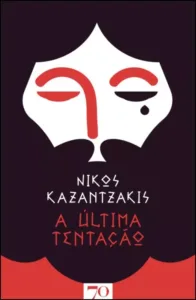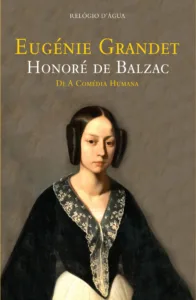“Tenho nove anos. Até agora, tenho sido um menino-modelo”, lamenta o pequeno Victor, criança “terrivelmente inteligente” que, nas palavras do encenador João Pedro Mamede, está prestes a insurgir-se contra “o conformismo da sociedade que o rodeia”. O filho dos Paumelle, casal pequeno-burguês do início do século XX (a peça situa-se na noite precisa do dia 12 de setembro de 1909, em Paris), toma a decisão de se tornar um “homenzinho” e com isso cumprir o seu desejo insaciável de liberdade.
Para isso, Victor decide expor os alicerces corrompidos em que assenta o seu meio social, a partir dos pecados domésticos. Durante o jantar de aniversário, denuncia o pai adúltero e a comiseração materna, os falsos heroísmos e uma certa cultura de salão baseada em aparências. E ainda estabelece com Ester, a criança “amiga”, uma perversa e libidinosa relação.
A decisão de “matar a infância” significa o confronto de Victor, à procura de se emancipar em todas as dimensões humanas (incluindo a sexual), com o mundo conformista dos adultos. O conflito acaba por traduzir-se, contudo, na imersão num universo delirante e completamente inesperado.

Exercício surrealista, peça precursora do teatro do absurdo, Victor ou as crianças no poder tem a assustadora aparência de uma comédia, mas depressa se percebe que as tensões entre as personagens conduzem à tragédia. Adultério, hipocrisia, covardia, incesto, mentiras ocultadas por detrás dos mais nobres ideais são os ingredientes colocados pelo autor numa panela de pressão prestes a explodir. E, efetivamente, isso acaba por acontecer, mas com o perturbador prazer da transgressão que o autor cozinha numa agridoce perversidade.
Aquela que é a mais conhecida peça de Roger Vitrac (1899-1952), nome incontornável do movimento Dada e do surrealismo francês, chegou pela primeira vez aos palcos em 1928, dirigida por Antonin Artaud no Teatro Alfred Jarry, que ambos fundaram. Escrita entre os mais graves conflitos bélicos do século passado, a peça tem, precisamente, esse “eco da guerra”, que interessou a João Pedro Mamede quando decidiu escolher uma peça para assinalar a primeira década de percurso de Os Possessos, a companhia que fundou, em 2013, com Catarina Rôlo Salgueiro e Nuno Gonçalo Rodrigues.

Para além disso, Victor ou as crianças no poder tem “a melancolia” que faz com que se possa descortinar “o recorte necessário relativo à nossa contemporaneidade”, sublinha Mamede. Aqui, perante todo este absurdo, está o espelho de uma certa alienação e futilidade, reconhecível nestes tempos em que vivemos, “não entre guerras como o de Vitrac, mas no meio delas.”
Em coprodução com os Artistas Unidos, Victor ou as crianças no poder conta com interpretações de Henrique Gil, André Pardal, Ana Amaral, Catarina Rôlo Salgueiro, Isabel Costa, Rafael Gomes, Mia Tomé, Inês Reis, Leonardo Garibaldi, Leonor Buescu e a participação especial de António Simão. Em cena no Teatro da Politécnica até 24 de fevereiro.
O projeto deste filme nasceu consigo ou juntou-se ao mesmo num momento posterior?
Há cerca de 15 anos que o Paulo Branco procurava convencer-me a fazermos um filme juntos e, como sempre tive uma boa relação com ele, achava que isso poderia estragar a nossa relação. Mais valia continuarmos a jantar e a ver filmes juntos e a conversar. Porém, a dada altura, ele traz-me este projeto específico. Respondi-lhe que o filme de um ponto de vista britânico me interessaria pouco, mas falei-lhe de um amigo, o Eduardo Brito, que lhe poderia apresentar, e que poderia trazer essa outra perspetiva de que sentia falta. O Brito é aficionado do universo do Sherlock Holmes, e tinha um conhecimento mais profundo dessa época do que eu na altura. Período que acabou por ser historiado pelo William Michael Rossetti, o autonomeado biógrafo dos pré-Rafaelitas. Só a visão dele tem prevalecido até hoje.
Que fontes serviram de referência para a construção da narrativa?
Há um livro muito interessante, que conseguimos comprar através da Internet, da autoria da filha do William Michael Rosetti, que discorda da visão do pai e conta histórias de um Charles Augustus Howell, amigo da família com o qual o pai tinha sido injusto. Daí passámos a analisar algo que me fascina pessoalmente: a correspondência entre todas estas personagens, que se encontra em livros diferentes. Depois, é claro, que sobre os pré-Rafaelitas existem muitos títulos publicados.
O filme é inteiramente dominado pela figura de Charles Howell (Albano Jerónimo). Procurou mostrá-lo mais como herói ou como vilão?
O meu grande objetivo com o filme é que os espectadores cheguem ao fim a discordar do título. Todos temos esses dois lados, de herói e vilão. As situações que filmámos, supostamente, existiram todas. Os negócios cruzados, a falsificação dos quadros pela Rosa Corder, ou o seu encontro com Felice Orsini, que terá de fugir após o atentado a Napoleão III, são factos. O Howell acaba por estar ligado a vários movimentos, e os acontecimentos da sua vida foram referidos pelo jornal jacobino da época.

O modo como Howell se apropria da arte de outros e lhes fornece o láudano, parece fazer dele uma figura vampiresca que rouba a vida das suas vítimas. Concorda com esta leitura?
Não concordo. Vejo-o como o amigo facilitador. Não instiga os outros a consumirem láudano. E ele próprio, que se saiba, nunca consumiu. É aquele que garante que tudo o que os seus amigos precisam, ele vai resolver. Há sempre nele o desejo de ser aceite e a vontade de agradar. Foi o que achei importante de ir deixando no filme. O comportamento dele é o de um anglo-português que se liga ao lado ítalo-inglês de Dante Gabriel Rossetti, de quem se torna amigo, também porque a nossa cultura consegue facilmente encontrar num italiano um par em qualquer ambiente.
Que elementos do cinema, da literatura e da pintura o inspiraram na criação da atmosfera de O Pior Homem de Londres?
A ideia foi que visualmente o filme partisse de quadros, uns mais facilmente reconhecíveis porque estão no filme. E necessariamente a luz e a cor que se ligam também aos pré-Rafaelitas. Também a questão do detalhe exterior, de filmarmos à hora em que pintavam. E, depois, ir desmontando. Uma série de cenas começam num quadro, facilmente identificável, e depois o filme continua. A ideia de dividir as cenas em poucos planos, optar por ter movimentos de câmara em detrimento de uma linguagem cinematográfica mais clássica, era para ter alguma fluidez e começar num quadro e terminar noutro sem que fosse muito forçado. O ponto de encontro nas minhas discussões com o Paulo Branco acerca deste filme foi o cinema de Raúl Ruiz. Até na utilização do Christian Vadim e do Jean-François Balmer que, para mim, são atores do Ruiz.

O seu filme não aprofunda o trabalho artístico dos elementos da irmandade dos pré-Rafaelitas. Essa opção foi assumida desde o início do projeto?
Sim, porque a questão dos pré-Rafaelitas tem para mim a ver com um contexto. O que me agrada neles é, essencialmente, a forma tribal como decidiram romper com o status quo. Cada um tem a sua função, mas em conjunto são capazes de criar algo que rompe, porque não deixa de ser um mistério ainda hoje a razão por que [o crítico de arte] John Ruskin decide apoiá-los daquela forma. Essa influência foi fundamental para a validação desse movimento artístico, mas deixámos isso para trás para nos concentrarmos na importância da personagem do Howell.
Quais foram os maiores obstáculos à produção de um filme cuja ação tem lugar em Londres na segunda metade do séc. XIX, e que não foi rodado na capital britânica?
Dir-lhe-ia para já que o que íamos fazer de exteriores também não seria em Londres. Era na Holanda, na verdade. Também vivíamos um período pandémico difícil de gerir, o filme foi adiado várias vezes até que fosse possível filmar, e o que decidi fazer foi filmá-lo perto. Num sítio em que pudesse controlar as coisas de alguma forma. O filme foi rodado integralmente em Portugal. Aquilo que interessante nesse processo foi descobrir que existem comunidades de ingleses, maioritariamente no Porto, onde o cemitério é inglês, o padre da igreja nem português fala, e as pessoas que nos abriam a porta, umas falavam português e outras não. É todo um submundo de upper class, das famílias do Vinho do Porto que mantêm costumes seculares. Fomos tendo algum acesso a palacetes ingleses e a casas vitorianas que existem em Portugal. Mas depois todo o papel de parede foi desenhado de propósito para o filme. O trabalho de guarda-roupa e de cenografia foi substancial e muito sério.
Já teve oportunidade de mostrar O Pior Homem de Londres a um historiador deste período? Preocupa-o o grau de verossimilhança que existe no filme?
Ainda não pensei nisso, mas irá inevitavelmente acontecer. O princípio da verosimilhança do filme está sempre salvaguardado: pela pesquisa que foi feita e pela forma como trabalhámos.
Considera-se acima de tudo um produtor que também realiza, ou antes um realizador que também produz?
Apesar de dedicar grande parte do meu tempo a produzir, sou um realizador que sentiu necessidade de produzir. Para viabilizar os meus próprios projetos e os de amigos, que é essencialmente o que produzo.
O que nos pode revelar sobre os seus trabalhos futuros, em concreto o filme que parte dos arquivos de William S. Burroughs e que será coproduzido por Jim Jarmusch?
O Jarmusch não é produtor, embora apareça várias vezes no filme. Ele era muito amigo do Howard Brookner, o realizador dos arquivos, que morreu de SIDA no início dos anos 1980. Eram da mesma turma na NYU, e o Jarmusch é o técnico de som de todo aquele arquivo. Esse projeto surge de um convite para eu fazer esse documentário pela produtora, a Paula Vaccaro da Pinball London, que foi quem coescreveu e coproduziu o Listen da Ana Rocha de Sousa. Aceitei o convite, mas disse que devia corealizar com o Aaron Brookner [sobrinho de Howard Brookner e marido de Paula Vaccaro], havendo assim um ponto de vista externo e um ponto de vista interno sobre o mesmo. Há um nova-iorquino dentro do processo e há um tipo de Guimarães fascinado com o processo. O filme chamar-se-á Cross Wounded Galaxies, que é uma expressão de Burroughs, como muitas que ele inventou.
O prémio Capital Europeia da Inovação, atribuído à cidade no final de 2023, vem legitimar esta pretensão. Traz também um milhão de euros que a Unicorn Factory (Fábrica de Unicórnios) pretende investir em projetos que coloquem a tecnologia ao serviço da inovação social e do combate à exclusão. Neste sector que quer mudar a cidade nem tudo é acessível, mas há lugar para todos. Damos a conhecer quatro espaços onde as ideias nascem e ganham forma.
HUB CRIATIVO DO BEATO
Rua da Manutenção, 71
hubcriativobeato.com
É uma das principais moradas da inovação em Lisboa e esse é, precisamente, o principal critério de seleção das empresas e projetos que aqui se instalam. Ocupando a área fabril da Antiga Manutenção Militar, o Hub Criativo do Beato será, quando totalmente reabilitado, um dos maiores espaços do seu género na Europa, com capacidade para 3000 postos de trabalho. Dos 18 edifícios do complexo, cinco estão recuperados e 15 estão contratualizados, diz-nos o gestor do projeto, José Mota Leal.
Aqui funcionam os escritórios da Web Summit e da Unicorn Factory estrutura que, em apenas dois anos, atraiu 54 novos centros tecnológicos para Lisboa, vindos de 23 países. Operam-se negócios de grandes multinacionais como a Sixt, desenvolvem-se tecnologias de informação (Claranet), alia-se a arte à tecnologia (Interactive TechnoIogies Institute) e transformam-se bactérias em proteína (Microharvest). A presença de serviços faz-se notar, para já, com a Praça, uma área de restauração e mercado onde os produtos nacionais têm exclusividade.
Para breve estão previstas a abertura de um museu, a instalar na antiga Fábrica de Moagem e de um espaço de coliving.
CIM – CENTRO DE INOVAÇÃO DA MOURARIA
Travessa dos Lagares, 1
facebook.com/mourariacreativehub
Foi a primeira incubadora municipal a apoiar projetos e ideias de negócio nas áreas das indústrias culturais e criativas, como o design, media, moda, música, azulejaria, joalharia, entre outras. Além de disponibilizar postos de trabalho totalmente equipados, formação e consultoria à medida, ou uma ampla rede de mentores, o CIM presta ainda apoio aos serviços de incubação ao nível da gestão, marketing, assessoria jurídica, desenvolvimento de produtos e serviços e financiamento.
De momento, o centro tem 13 projetos em desenvolvimento, sobretudo nas áreas de design de moda, design de comunicação, design para sustentabilidade, design de produto ou têxtil, que ali chegam “através de calls ou de candidaturas abertas ao longo do ano”, diz Rosário Pedrosa, coordenadora do equipamento. “Depois de feita a seleção, os projetos são incubados pelo período máximo de quatro anos, durante os quais cada projeto pode ter até quatro postos de trabalho”, acrescenta.
“O nosso principal foco é o trabalho para os residentes, com workshops, masterclasses, open days, speed datings, etc, mas também trabalhamos para os criativos em geral, assim como para a comunidade”, sublinha Rosário Pedrosa.
FABLAB LISBOA
Rua Maria da Fonte, 4 – Mercado do Forno do Tijolo
fablablisboa.pt
“Um FabLab é um sítio onde se pode fazer quase tudo. E o seu grande objetivo é a capacitação. Sempre foi e sempre será”. É André Martins, coordenador do espaço, quem o garante. “Fazemos essa capacitação através da democratização do acesso a ferramentas, nomeadamente a ferramentas de fabricação digital e prototipagem”, avança. Ali, pode fazer-se mesmo quase tudo, já que o intuito primordial deste laboratório-oficina é transformar ideias em realidade.
Aberto desde 2013, funciona no Mercado do Forno do Tijolo e disponibiliza equipamento industrial, acessível e seguro, como fresadoras de pequeno e grande porte, máquinas de corte a laser e de corte de vinil, impressora 3D, uma bancada de eletrónica, computadores e respetivas ferramentas de programação informática suportadas por software CAD e CAM.
Estando acessível ao cidadão comum, mediante marcação, o FabLab promove open days às segundas e terças-feiras, onde a utilização das máquinas é livre e gratuita, sempre sob o olhar atento da equipa responsável. Este espaço de partilha de conhecimentos e experiências quer-se, segundo André Martins, “cada vez mais um laboratório que tenha um impacto na cidade”.
BIOLAB LISBOA
Rua Maria da Fonte, 4 – Mercado do Forno do Tijolo
biolablisboa.pt
Nasceu em 2022 como um spin-off do FabLab e com a sustentabilidade no seu ADN. É um laboratório de investigação, experimentação e prototipagem, cujo funcionamento é assegurado, em parceria, pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aberto a todos os cidadãos, privilegia ideias e projetos que tragam mais valias para a cidade, como nos diz Rafael Calado, o coordenador deste espaço.
O acesso ao laboratório é feito por convite, por candidatura espontânea ou nos open days que acontecem todas as quintas-feiras. Não é preciso ser cientista ou ter conhecimentos de ciência, como refere Calado, lembrando o caso de uma frequentadora do Repair Café que pediu ajuda para criar embalagens para sabonetes a partir de cascas de amêndoa. No entanto, são muitos os investigadores de várias áreas de conhecimento, que procuram o BioLab para desenvolver os seus projetos.
Atualmente, e por proposta da equipa que dirige este espaço, um grupo de designers faz experiências com algas em protótipos de objetos utilitários. O laboratório tem 3 níveis de segurança biológica e uma carta de ética que define os limites daquilo que aqui pode e não pode ser feito.
[* reportagem em parceria com Ana Rita Vaz]

Glossário
Ecossistema de Inovação – Sistema constituído por vários elementos – organismos públicos, universidades, hubs de inovação, incubadoras, parques tecnológicos – que criam um ambiente propício ao aparecimento de novas ideias, talentos e negócios.
Hub – Polo onde se promove a interação entre diferentes agentes de inovação para partilha de experiências, cocriação e fortalecimento de uma área de negócio.
Coliving – Espaços habitacionais destinados a pessoas ou grupos com afinidades de interesses. Normalmente não habitações permanentes.
Cowork – Espaços de trabalho partilhados que fomentam a partilha de informação e experiências.
Incubadora – Organismos públicos ou privados que disponibilizam apoio estruturado e personalizado a start-ups num estágio inicial.
Spin-off – Empresa ou estrutura criada a partir de uma outra organização já existente que a apoia no seu desenvolvimento.
Start Up – Empresa emergente, normalmente do segmento tecnológico, que aposta em ideias inovadoras.
Unicórnio – Empresa tecnológica que atinge o valor de mil milhões de dólares sem estar cotada na Bolsa.
Nikos Kazantzakis
A Última Tentação
O grande escritor grego Nikos Kazantzakis (1883-1957) considerava a sequela moderna da Odisseia de Homero, epopeia de 33.333 versos, como a sua mais importante obra. No estrangeiro, porém, foram dois romances que lhe trouxeram a notoriedade: Vida e Andanças de Alexis Zorbás (Edições 70) e A Última Tentação, ora reeditado. Escreve o autor: “Este livro não é uma biografia, é a confissão do homem que luta”. E descreve esse conflito como “a luta incessante e impiedosa entre o espírito e a carne”. Kazantzakis dá-nos um Cristo atormentado pela dúvida, o medo e o desejo, dividido entre os anseios de uma existência normal, com os prazeres da vida familiar e da relação conjugal, e o chamamento divino que o conduz à via do sofrimento e da renúncia. Jovem carpinteiro, é odiado na sua aldeia por construir as cruzes com que os romanos crucificam os judeus rebeldes ao seu domínio. Só, parte para o deserto procurando iludir um destino inescapável. Esta obra profunda e notável valeu ao autor a excomunhão da Igreja Ortodoxa Grega e foi inscrita no Index da Igreja Católica. Aquando da sua morte, foi sepultado na muralha de Heraklion (na ilha de Creta, onde nasceu), pois a Igreja Ortodoxa não autorizou o seu enterro num cemitério. Lê-se no seu epitáfio: “Nada espero, nada temo. Sou livre.” Edições 70
João de Melo
Longos Versos Longos
“Sou dado às prosas, não às musas”, confessa o escritor João de Melo. Todavia, Longos Versos Longos assinala o regresso de João de Melo à poesia, quatro décadas após a publicação do seu primeiro e, até agora, único livro de poemas: Navegação da Terra (1980). A coletânea, dividida em cinco partes, reúne poemas de exaltação do tempo e da vida, derivas sobre a angústia e a metafísica, um roteiro sentimental de viagens e uma inevitável revisitação apaixonada das tão amadas ilhas dos Açores (“A ilha mãe com a amada / se confunde / carregada de incenso e louro”). Estamos perante uma “poética meditada sobre a escrita e a literatura, a efemeridade do ser, a espiritualidade da fé e a perda de Deus”. No final, as “Últimas Elegias” apresentam alguns poemas trágicos sobre o quotidiano coletivo, um deles em prosa, Poema às Portas de Bagdade, que reporta os horrores constantes das guerras. Num belo soneto sobre a própria “arte poética” (Soneto Absinto) lê-se: “Frustrou-se em mim o poeta, a voz que desdenha / a grosso o canto e bebe o verso com seu absinto. / Restam-me a areia, o cio, a raiz da criação islenha. / E cantar o fogo em brasa, mesmo se já extinto”. Dom Quixote
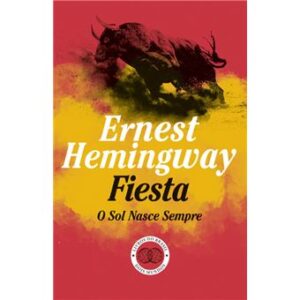
Ernest Hemingway
Fiesta – O Sol Nasce Sempre
“Toda a minha vida olhei para as palavras como se as estivesse a ver pela primeira vez”. Ernest Hemingway (1899/1961), alterou, provavelmente, mais do que qualquer outro romancista do século XX a forma como os escritores usam as palavras. Profundamente imitada, a sua prosa permanece, no entanto, inconfundível. Assenta numa escrita substantiva, económica e concisa, de aparente simplicidade mas de grande subtileza experimental, dotada de uma musicalidade poética de ritmos percutidos, apta a captar os diversos cambiantes da linguagem coloquial. A sua obra, longa autobiografia ficcionada, pontuada por descrições de extraordinário poder evocativo e encantatório, reflete de modo heroico a experiência íntima da derrota, da fugacidade da felicidade e da certeza da morte. O romance Fiesta – O Sol Nasce Sempre, uma das obras-primas do autor, narra a história de um americano, emasculado na I Guerra Mundial, que vive em Paris com um grupo internacional de expatriados. Um grupo exuberante, mas sem objetivos, arrancado ao sentido normal da vida pela experiência traumática da guerra. Foi este, justamente, o livro que tornou famosa a “geração perdida”, termo cunhado por Gertrude Stein em conversa com Hemingway. A obra evolui sem aparente finalidade num movimento circular que evoca o perpétuo nascimento do sol referido no título, numa citação de Eclesiastes. Livros do Brasil

Marguerite Duras
Hiroshima, Meu Amor
A vida e obra de Marguerite Duras (1914-1996) estão intimamente ligadas aos principais eventos do século XX: a dissolução do colonialismo, o genocídio nazi, a criação do Bloco de Leste, a revolução sexual e a predominância do cinema. O desejo ocupa o centro da sua reflexão sobre o fracasso das relações pessoais e políticas, primeiro na literatura, depois no cinema que mais tarde abraçou. Hiroshima, Meu Amor, filme realizado por Alain Resnais com um argumento muito literário de Marguerite Duras (que agora se publica) abalou, em 1959, todas as regras estéticas que regiam o cinema. A obra cruza a aventura passional entre uma jovem francesa e um arquiteto japonês com um intenso requisitório antinuclear. Hiroshima, coberta por cinzas e “pela morte atómica”, é “o terreno comum onde os dados universais do erotismo, do amor e da infelicidade” reúnem estes dois seres. Os amantes verbalizam a sua paixão física com uma audácia inusitada: “Como havia eu de imaginar que eras feito à medida do meu próprio corpo? (…) Devora-me. Devora-me até à fealdade.” Concebido como um amplo poema lírico, nos antípodas do realismo habitual, constituído por complexas memórias e justaposições, elíptico e não linear, o filme veio reclamar um novo espectador de cinema. Quetzal
Honoré de Balzac
Eugénie Grandet
Honoré de Balzac (1799/1850) concebeu uma obra monumental com perto de uma centena de volumes. A sua quase totalidade forma um conjunto a que deu o título de A Comédia Humana, através do qual cria um extraordinário retrato da sociedade francesa da primeira metade do séc. XIX. Visionário poderoso, dotado de uma imaginação e sentido de observação invulgares, debruça-se sobre as problemáticas da paixão e da tomada do poder pela burguesia endinheirada. Eugénie Grandet foi escrito em 1833 como parte do colossal projeto A Comédia Humana e é considerado a obra fundadora do romance balzaquiano. Eugénie vive com os pais em Saumur, nas margens do rio Loire, filha de um vinhateiro rico e avarento. A mão da jovem é disputada pelas famílias mais importantes da região, mas ela apaixona-se pelo seu elegante, indolente e arruinado primo. O livro narra a história de um amor não correspondido no seio de uma sociedade materialista. Brilhante descrição de costumes, protagonistas e espaços da vida provinciana, promove uma profunda reflexão sobre a futilidade pequeno-burguesa, o poder que o dinheiro exerce sobre a vida e o caráter das pessoas, a frustração amorosa e a natureza humana. Relógio D’Água
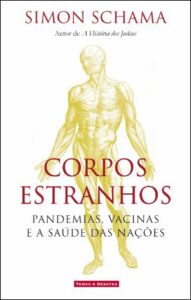
Simon Schama
Corpos Estranhos – Pandemias, vacinas e a saúde das nações
Corpos Estranhos recorda os negros tempos em que a varíola atacou Londres, a cólera atingiu Paris e a peste chegou à Índia nos séculos XVIII e XIX. Lembra, igualmente, que história das pandemias é frequente a atribuição de culpas pelos novos focos de infeção aos “outros estranhos”. No período vitoriano a cólera era designada como “perigo amarelo”; Donald Trump referiu-se ao coronavirus como “Kung-Flu” ou “virús chinês”. Um dos grupos historicamente mais afetados por tais calunias foram os judeus. Desde o seculo XIV, entre muitos outros casos, que se viram responsabilizados pela peste negra. Talvez, por esse facto, se tenham dedicado ao estudo da microbiologia e da vacinologia. Sir Simon Schama, nascido em Londres em 1945, professor universitário de História da Arte e de História na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, dedica a sua atenção a dois deles: Élie Metchnikoff, pioneiro do estudo da imunologia, e ao seu pupilo Waldemar Haffkine, um revoltado estudante judeu de Odessa que se tornou microbiólogo no Instituto Pasteur. Louvado em Inglaterra como “o salvador da humanidade” por ter vacinado milhões de pessoas contra a cólera e a peste bubónica na Índia britânica, apesar de menosprezado pelas autoridades médicas do Raj. Corpos Estranhos, cruza as fronteiras entre Este e Oeste, Ásia e Europa, os mundos de ricos e pobres, da política e da ciência. O livro reafirma a crença do autor na inseparabilidade dos seres humanos, afirmando que, ao enfrentarmos juntos os desafios do nosso tempo, “não há estranhos, mas apenas familiares.” Temas e Debates

Joseph Roth
Hotel Savoy
Joseph Roth (1894-1939) nasceu em Brody, cidade dominada pela cultura judaica no extremo do Império Austro-Húngaro (atual Ucrânia). Em 1920 dedica-se ao jornalismo em Berlim e torna-se num dos grandes cronistas da República de Weimar. Assiste à crise da velha capital prussiana e ao advento do nazismo, manifestando na sua obra de ficção uma crescente nostalgia pela vida e valores do antigo Império Austríaco. Um tema torna-se recorrente na sua obra a partir dos anos 20: as personagens são sobreviventes, soldados como ele que regressam da I Grande Mundial para se confrontarem com o facto de que já não existe lugar para voltar. Personagens imbuídos de um profundo sentido de desenraizamento. Hotel Savoy não é exceção: um jovem judeu vienense, prisioneiro de guerra num campo siberiano, regressa a casa no fim da guerra. No caminho, numa das paragens, fica hospedado no Hotel Savoy, microcosmos do mundo: “nos andares de baixo moram, em quartos amplos e bonitos, os ricos (…) e nos andares de cima os pobres diabos que não tem dinheiro para pagar os quartos”. É a partir de um andar de cima, que o protagonista assiste ao caos, à desigualdade social e ruína económica que a I Guerra Mundial provocou e ao desfecho apocalíptico que se avizinha. Dom Quixote
São artistas que permanecem sob as luzes da ribalta há décadas. Alguns nunca pararam de produzir; outros regressaram recentemente aos palcos. Em comum têm o facto de continuarem a inspirar gerações. Aqui, recordamos a boa música que se fez no passado, mas tendo os olhos postos no futuro.

Ala dos Namorados
Loucos de Lisboa, Solta-se o beijo, A história do Zé Passarinho ou Fim do mundo são alguns dos temas mais célebres da Ala dos Namorados. Formada em 1992 por João Monge e João Gil – a quem mais tarde se juntaram Manuel Paulo e Nuno Guerreiro -, a banda veio “romper as normas estabelecidas de alguma música cinzenta, formal e séria que se fazia na altura”. Quem o afirma é João Gil, que regressou recentemente ao grupo depois de, em 2006, ter decidido “explorar outros caminhos. Não escondo que sempre desejei voltar à Ala, essa porta nunca se fechou”. Durante esse tempo, o músico sentiu que o público o continuava a identificar como parte da banda, ”o que me dava uma certa paz”, confessa.
A Ala dos Namorados conta com oito álbuns de originais, a que se junta o mais recente Brilhará: “um disco de reencontro com a velha Ala, mas que inclui novas ideias. Está muito menos pop e mais parecida com os velhos tempos”, diz Gil. Brilhará conta com “grandes poemas de Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Zeca Baleiro, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira e ainda uma composição minha”. Para Nuno Guerreiro, este “é um disco charmoso. A Ala de hoje tem um brilho diferente através desta nova sonoridade”, constata.
Com João Gil e Nuno Guerreiro ao leme, a Ala dos Namorados conta com Rúben Alves no piano, Alexandre Frazão na bateria, Nelson Cascais no contrabaixo e Luís Cunha no trompete.
 Delfins
Delfins
Qualquer semelhança entre a foto que aqui vê e a capa do disco Saber A Mar não é pura coincidência. Estávamos em 1996 e os Delfins lançavam o seu sexto álbum de originais. Nesse ano, já a banda vivia uma onda de sucesso: “de repente, as pessoas descobriram as nossas canções, que já tinham saído alguns anos antes, o que foi um fenómeno engraçado”. Porque é que, nessa altura, houve uma loucura à volta dos Delfins? “As canções foram descobertas graças à Resistência, aos canais privados de televisão, e graças a nós, porque não dizê-lo?”, conta-nos o carismático vocalista Miguel Ângelo.
O grupo de amigos que, na década anterior, se tinha juntado em Cascais com o sonho de formar uma banda, passava a ser um fenómeno de popularidade inscrevendo, no cancioneiro nacional, êxitos como Lugar ao sol, Aquele inverno, Bandeira, Nasce selvagem, 1 só céu ou Sou como um rio, entre muitos outros.
Apesar do sucesso, a banda não vive agarrada ao passado: “estamos sempre preocupados em fazer algo novo”, afirma o cantor. Em 2009, os Delfins despediam-se dos palcos para que os seus membros pudessem dedicar-se a outros projetos. Uma década depois, aceitaram o desafio de atuar com a Orquestra Sinfónica de Cascais nas Festas do Mar [Cascais] e os convites nunca mais pararam. A 6 de abril dão um grande espetáculo na Altice Arena para celebrar os maiores clássicos até 1997, que inclui “muitas surpresas e uma enorme produção”.

Luís Represas
Miragem é o mais recente disco de Luís Represas, com lançamento previsto para este mês. O músico, que ficou conhecido como a voz dos Trovante – banda que fundou em 1976 e onde esteve até 1992 – lançou-se numa carreira a solo a partir de então, e nunca mais parou de somar sucessos. Feiticeira (com Pablo Milanés), Fora de Tempo, Timor, Da próxima vez, ou Ao canto da noite são apenas alguns dos seus clássicos mais populares.
Com uma carreira de 47 anos, nem por isso se considera saudosista: “olho para trás com a mesma nostalgia com que olho para a infância e para a adolescência, com plena consciência de que o presente é fruto de tudo isso. Sempre tive essa atitude de ir construindo, acrescentando tijolos novos em cima de tijolos antigos, construindo o edifício com equilíbrio estético e temporal”, diz-nos. O novo disco contou com a colaboração do músico brasileiro Ricardo Leão, com quem tinha trabalhado na canção Miragem uns anos antes: “reencontrei o ficheiro esquecido, falei com o Ricardo e achámos que era uma boa oportunidade para a por cá fora, e decidimos que ele seria o produtor e arranjador deste álbum”.
Dia 15 de março, Represas apresenta-o no Coliseu: “o trabalho de apresentação de um disco novo requer um equilíbrio muito sensível entre as músicas novas e os clássicos que toda a gente gosta, para que estejamos todos a passar um bom bocado.”

Entre Aspas
Em 1993, os algarvios Entre Aspas faziam explodir as rádios nacionais com Criatura da Noite. A canção, retirada do primeiro disco Entre S.F.F., conquistou o país. “Costumamos dizer que já não nos pertence. Há variadíssimas versões desta música”, refere o guitarrista Tó Viegas.
Passaram mais de 30 anos desde que formaram o grupo em Faro. “Foram tempos felizes, mas não olhamos para trás com nostalgia nem saudade, até porque parece que foi há pouco tempo que tudo começou”, confessa-nos Viviane. Ao longo da carreira, o grupo lançou quatro álbuns de originais, de onde saíram os icónicos Voltas, Perfume ou Uma pequena flor, para citar alguns.
Em 2004 anunciavam o fim da banda, mas nunca deixaram de tocar porque os convites continuaram a surgir. O ano passado, Tó Viegas, Nuno Filhó e Viviane regressaram aos discos com Agora, que esteve quase para ser editado quando suspenderam atividade: “acabou por ficar na gaveta porque estávamos a precisar de uma pausa. Em 2023, celebrámos os 30 anos da saída do primeiro álbum e lembrámo-nos de pegar naquele disco esquecido”.
No dia 3 de fevereiro, o novo trabalho é apresentado no B.leza, num concerto que também celebra “os grandes clássicos que continuam a passar nas rádios”. Em relação ao futuro, a banda não fecha portas: “enquanto as pessoas nos quiserem ouvir e desde que tenhamos força para andar na estrada, cá estaremos.”

Táxi
Na era dos Uber, nunca os Táxi estiveram em tão boa forma. Atualmente, a banda do Porto (que, da formação original, mantém João Grande e Rui Taborda) está a viver a sua melhor fase, como assegura o vocalista: “tem sido uma experiência incrível, estamos com uma formação absolutamente espetacular. Damo-nos muito bem, o que é importante porque passamos muito tempo juntos na estrada, e isso, depois, reflete-se no palco.”
Pouco dado a saudosismos, João Grande recorda que, quando o grupo apareceu nos anos 1980, “pouco ou nada de música portuguesa passava na rádio e nós contribuímos muito para alterar isso. De um momento para o outro, toda a gente começou a consumir música portuguesa, e foi absolutamente fantástico”.
A melhor parte de ter uma banda, garante, “é a magia e a dinâmica de estarem várias pessoas numa sala a partilhar histórias”, coisa rara nos dias que correm, segundo o artista: “hoje, fazer música é um ato muito isolado. Há muito poucas bandas que ainda vão para uma sala de ensaios a olharem-se nos olhos e a tocar”.
A abrir este ano, os Táxi atuaram no Casino Estoril, e, em março, atuam na Casa da Música, no Porto. Mas nem só de grandes êxitos como Cairo, Chiclete, Sozinho ou Vida de cão vive a banda. João Grande e Rui Taborda todos os dias trabalham em material original, e há a promessa de novo disco a ser lançado em 2024.

Peste & Sida
Corria o ano de 1986 quando João San Payo (na foto), Luís Varatojo, Eduardo Dias e João Pedro Almendra faziam nascer a banda punk mais marcante da música portuguesa. Quem não se lembra de Sol da Caparica, Paulinha ou Chuta Cavalo (e morrerás)? “Na altura era bastante imaturo”, recorda João San Payo. “Queria tocar, curtir, fumar ganzas, beber copos e baldar-me às aulas.”
Com 37 anos de atividade, e depois de várias mudanças na formação, os Peste & Sida lançaram, em 2022, o disco Não há Pão. “Temos algum cuidado em manter uma certa coerência com o som do princípio”, garante o baixista. “Continuamos a ter uma matriz punk/rock e o ecletismo característico da banda. Em termos de mensagem, mantemos uma linguagem acessível, sarcástica e irónica”. Este lado genuíno só é possível, segundo San Payo, por nenhum dos atuais membros viver disto, o que lhes permite “liberdade criativa total.”
Passados quase 40 anos, os Peste & Sida continuam a ser uma banda de culto. Segundo o atual vocalista, o segredo prende-se com dois fatores: “há um espírito de banda e uma união que nos faz levar as coisas para a frente, e um grupo de fãs que se identifica connosco e que é a verdadeira razão de ainda continuarmos por cá.”
Maria Lamas (1893–1983) terá sido, porventura, uma das mais notáveis mulheres portuguesas no século XX. Apesar de perdurar uma certa memória da sua afirmação e ação políticas enquanto militante comunista durante o Estado Novo e do seu “autoexílio” em Paris, a verdade é que a sua obra literária e jornalística se encontra praticamente esquecida, com muito poucos dos seus livros disponíveis no mercado. Ainda menos lembrada, a sua faceta de fotógrafa, impressionante mesmo, como refere Jorge Calado, “pela tão grande quantidade de obras-primas” num espólio tão curto.
“Extraordinariamente modernas”, as fotografias de Maria Lamas nunca haviam sido expostas em Portugal, sendo agora o foco desta exposição. As Mulheres de Maria Lamas reúne uma seleção de 65 das fotografias que captou, essencialmente, nos meios rurais da zona centro do país.

Testemunhos exemplares da condição das mulheres portuguesas durante a ditadura salazarista, maioritariamente provas vintage (da época), de pequenas dimensões, mas também algumas ampliações, a exposição exibe ainda provas da época de outros fotógrafos, como Adelino Lyon de Castro, Artur Pastor ou Maria T. Mendonça, incluídas, a par das de Lamas, em As Mulheres do Meu País, obra publicada pela primeira vez em fascículos entre 1948 e 1950.
Apesar do elenco de ilustres fotógrafos que figuram no livro, as fotografias de Lamas destacam-se pela sua verdade e vivacidade, constituindo por si só uma obra absolutamente singular na história de fotografia portuguesa. Surpreendentemente, ela tornou-se fotógrafa de um modo quase acidental, imbuída do seu espírito de lutadora militante e opositora ao regime. “Nunca tinha fotografado e usa a máquina mais elementar que existia, o modelo caixote da Kodak, que não dava possibilidade de focar”, lembra Calado a esse propósito.

Além das imagens, expõem-se ainda objetos pessoais de Maria Lamas, bem como o seu retrato pintado por Júlio Pomar, em 1954, e o busto em gesso esculpido, em 1929, por Júlio de Sousa. A secção destinada à obra literária e jornalística inclui exemplares de primeiras edições de obras fundamentais da autora, nomeadamente no campo da literatura infantil, da poesia e da ficção, traduções de clássicos da literatura juvenil e algum jornalismo.
Embora aqui esteja no papel de curador, o professor Jorge Calado não esconde o lado emocional com que projetou esta exposição. Para si, Maria Lamas é uma “heroína”, “a mais notável mulher portuguesa do século XX”, jamais deixando de sublinhar “a genialidade” na obra e na vida. “Desde menino que a admiro. E, à medida que fui crescendo, ela tornou-se numa heroína ainda maior, muito devido à sua oposição à ditadura”, diz, acrescentando que, “por outro lado, também a admiro muito por ter sido uma mulher generosa e amorosa nas suas relações, não só com a família como com os amigos. Ela era uma pessoa admirável, sempre pronta a ajudar os outros.”
Por isso, a exposição procura “revelar uma faceta relativamente desconhecida de Lamas, bem como homenagear a mulher que foi”. “Maria Lamas lutou por libertar as mulheres, não como mulheres, mas como cidadãs e como seres humanos. Não se tratava dos direitos da mulher, mas dos direitos humanos”, acrescenta.
As Mulheres de Maria Lamas está patente ao público até 28 de maio.
“Portugal não é um país racista”. O filme abre com esta frase, que ouvimos frequentemente. Foi o ponto de partida para o filme?
O crescendo, o começar a ouvir mais e mais esta frase foi o que me levou a avançar, a perceber que tinha de ser agora, mas não foi o ponto de partida. O ponto de partida surgiu de outros filmes que fiz sobre o Estado Novo e a Guerra Colonial, a invisibilidade da mulher, a perseguição da polícia política, toda essa temática onde encontro coisas escondidas, que não se conhecem e que vão servindo de mote de um filme para outro. Depois houve duas coisas que me influenciaram diretamente a fazer este documentário: o filme Vénus Negra (2010), de Abdellatif Kechiche, sobre uma mulher negra que veio para a Europa no século XIX e que foi exposta em circos e espetáculos de aberrações; e, em 2014, um pequeno artigo da [investigadora do Instituto de Ciências Sociais] Filipa Lowndes Vicente, no jornal Público, que falava sobre a primeira Exposição Colonial do ponto de vista da mulher. Foi quando comecei a ouvir com mais frequência um certo tipo de ideias ligadas ao racismo – o luso-tropicalismo, que erámos mais suaves, que não tratávamos mal as pessoas, que não eramos como os ingleses, que violentos eram os belgas, etc… Ou seja, o mesmo contexto onde surge a tal afirmação que “Portugal não é um país racista.”. Senti que este era o momento de fazer o filme.
No início do documentário, a Marta questiona-se sobre qual será a melhor forma de começar, a partir de quando e de que evento. Foi difícil escolher o acontecimento específico e uma época para começar a contar esta história?
A Exposição Colonial de 1934 esteve sempre no centro do filme. No início, a ideia era fazer um travelling sobre o Império, a começar no século XIX. A partir do momento em que descubro esta exposição, e percebo que muito pouca gente a conhece apesar de ter sido um acontecimento de uma extrema violência, começo a questionar o porquê desse desconhecimento. Eu sei o porquê. Apesar de ter nascido em 1974, ainda fui ensinada com base na narrativa dos Descobrimentos, dos nossos heróis, de quem está acima, de quem está abaixo, dos superiores e dos inferiores. Tenho a convicção de que nos ensinaram a ser racistas, ensinaram-nos com base nessa ideia de Império. Depois de ter visto tantas imagens da Exposição, falei com a Rita Palma [coargumentista e montadora do filme] sobre cada acontecimento, sobre cada discurso com que nos deparávamos e que eram de uma enorme violência. Percebemos que o filme tinha de ser um diálogo entre mim e a Rita, pois era a melhor forma para se perceber a história.

O discurso e as intenções da Exposição Colonial, as imagens das pessoas que foram expostas e que estavam a cargo de um “curador” dos indígenas, são chocantes. De facto, não se compreende porque não se fala disto nas escolas…
Tenho a certeza de que devíamos ser ensinados de outra forma. Uma das atrizes no filme relata que, quando veio estudar para Portugal, os colegas não sabiam quem era Amílcar Cabral. Para mim, é chocante que pessoas com cerca de 20 anos não saibam quem ele era. A importância que teve para a independência da Guiné e de Cabo-Verde e mesmo para história de outros movimentos de libertação de África. Não saber isto demonstra o afunilar de ideias. O saber enriquece, por isso não consigo compreender este desconhecimento. A Exposição também me interessou porque há muita material disponível sobre o evento. Esse tal curador dos indígenas foi algo que descobri no jornal Comércio do Porto Colonial, está relatado e alguém escreveu sobre isso. Como os discursos, nomeadamente o do diretor da exposição, Henrique Galvão, está tudo documentado. Há quem afirme que aquilo não foi bem assim. Não! Aquilo foi mesmo assim. Está escrito e está disponível para quem quiser consultar. Toda aquela ideologia está ali plasmada. No Comércio do Porto Colonial que dá um lado mais quotidiano, percebe-se, sem dúvida nenhuma, que aquelas pessoas eram tratadas como se não fossem pessoas. Percebe-se a violência…
Rosinha, uma das raparigas africanas que vivia numa das aldeias da Exposição, foi, inconscientemente, a imagem do evento. Ela é, também, a principal protagonista do documentário. Foi intencional?
Sim, foi intencional. Era impossível que não fosse assim. Há tantas, mas tantas imagens da Rosinha… Ela, inclusive, foi coroada rainha da exposição. Transmitia aquela ideia da mulher disponível, uma metáfora da exploração imperial colonista, o corpo disponível para ser olhado e explorado. No caso dela isso foi levado até ao extremo. Muitas das fotografias foram tiradas antes da Exposição pelo fotógrafo oficial Domingues Alvão. Podemos pensar que eram espontâneas, mas não, havia um propósito de passar uma mensagem que rebaixava aquelas pessoas. Domingues Alvão já o tinha feito anteriormente em 1910, 1920, com fotografias que caracterizam e tipificavam as mulheres portuguesas.

O livro Raças do Império catalogava as raças dos portugueses, tanto os das colónias como os da “metrópole”. “Um império multirracial idílico, do Minho a Timor”. A normalização de um discurso racista, como afirma no filme, moldou e enraizou-se na cultura e sociedade portuguesas, com ecos na atualidade. Concorda?
Estes regimes funcionam a pôr pessoas no seu lugar. Um lugar que é sempre de obediência. Controlar as pessoas era essencial. Os portugueses precisavam de aprender quem eram e como deviam olhar para os outros. Por exemplo, havia a necessidade de haver um modelo para a mulher: devia ser recatada, bonita, modesta de atitude. Quem melhor para servir esta ideia eram as minhotas, que representavam a cultura e a tradição. Viana do Castelo era o exemplo da tradição. É óbvio que, hoje, ainda há ecos dessa mensagem, dessa ideia de identidade, de tradição, de todos os chavões que vêm de regimes passados.
O filme coloca em espelho a Exposição de 1934 com um grupo de pessoas de hoje, jovens portugueses de origens diversas. Mas, também, com mulheres minhotas do Grupo Etnográfico de Areosa. Qual o objetivo de escolher estas pessoas?
O racismo é uma questão de agora. Quando questionamos sobre quem são as pessoas mais agredidas, penso sempre nos jovens. Como é que se vive, qual o futuro de um país que não assume esta herança, que não ensina na escola? Interessou-me perceber qual seria o olhar destes adolescentes ao terem conhecimento do zoo humano que existia na Exposição de 1934. Isto foi trabalhado em conjunto com a coreógrafa Joana Bergano, que era professora de dança destes jovens. A proposta era eles olharem para as muitas imagens e escolherem aquelas que mais lhes diziam, aquelas que os interpelavam a vários níveis. E, uma vez que pertencem a um grupo de dança, que os interpelavam ao nível gestual e da encenação. Tivemos também conversas e percebi que estes jovens continuam a ser vítimas de um outro olhar, a ser considerados o outro, a sofrer agressões diárias, que há quem desconfie e veja o diferente em pessoas iguais… Isso tudo ainda existe, ainda está presente.


A Marta trabalha sempre temas de grande relevância social e histórica. Para si o cinema é uma forma de mostrar aquilo de que não se fala? Dar a conhecer aqueles que ninguém vê?
Sim, mas não é intencional, foi acontecendo. Um filme tem levado a outro e surge muitas vezes da pergunta: porque é que não damos valor a isto, porque é desconhecido? Então decido que vou fazer alguma coisa, que vou expor o tema. De certo modo são o choque e a indignação que me impulsionam. E apesar de serem filmes sobre temas do passado, acabam sempre por ter ecos no presente. Gosto, especialmente, de fazer filmes onde posso ouvir e dar voz a outras pessoas. Embora use muito imagens de arquivo, gosto de ter o contraponto do diálogo com outras pessoas.
“Não quisemos entrar numa lógica de festival nem de best of sobre em qual ópera se morre mais ou se jorra mais sangue”, esclarece o encenador Jorge Andrade. O mote para It’s not over until the soprano dies foi olhar para “esta coisa algo perversa de, no final de tantas óperas, quando as mulheres morrem, o momento ser dos mais belos, quer ao nível do virtuosismo das intérpretes, quer da composição musical.”
A sustentar esse momento pleno da sedução operática, capaz de arrancar fortes emoções e continuados aplausos das plateias há séculos, está um estudo da filósofa feminista Catherine Clément, citado na folha de sala do espetáculo, que sublinha a violência e a crueldade a que são sujeitas as protagonistas femininas para que esse “momento” de beleza aconteça. Segundo um levantamento de Clément sobre o reportório clássico da ópera, “os modos como estas mulheres encontram a morte” são: “nove à facada, das quais duas por suicídio; três queimadas; duas atiram-se; duas por doença; três afogadas; três envenenadas; duas de medo; e algumas de causa desconhecida.”
O que a Mala Voadora faz neste espetáculo é compilar 30 árias de 27 óperas para “partilhar com o espectador o dilema de ter, por um lado, o tratamento a que estas mulheres são votadas nestas histórias, nestes libretos baseados em mitos clássicos ou em romances – sempre refletindo o modo como os homens imaginam as mulheres a acabar – e, por outro lado, o momento que elas proporcionam ao morrer”. Contudo, alerta o encenador, se é legítimo questionarmos como é que ainda hoje “aplaudimos esta violência, jamais foi nosso objetivo estar aqui a sugerir o cancelamento destas óperas.”

Recusando, assim, qualquer “visão panfletária”, até porque o reportório operático se fundamenta em contextos históricos, Jorge Andrade explica que, no espetáculo, “essas árias surgem descontextualizadas da sua narrativa, para tornar ainda mais evidente o sofrimento das mulheres perante a violência da morte”. Ao mesmo tempo, as óperas “saem também do contexto temporal” da sua ação, já que o elenco de cantores e atores se move numa casa dos dias de hoje, onde se preparam refeições, se encetam rotinas quotidianas, como tomar banho, vestir e despir, ou conviver à mesa entre amigos e familiares.
Com arranjos e direção musical de Nuno Côrte-Real, It´s not over until the soprano dies percorre vários séculos de ópera, desde a mais antiga Dido and Aeneas (Purcell, 1688/89) a Lulu (Alban Berg, 1937), dando particular ênfase, naturalmente, ao século XIX. A interpretar as grandes e mortais heroínas estão as soprano Bárbara Barradas, Eduarda Melo, Inês Simões e Joana Seara, e as meio-soprano Cátia Moreso e Patrícia Quinta, acompanhadas pelas vozes masculinas do tenor Marco Alves dos Santos e do barítono Tiago Matos.
Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e as participações dos atores António MV, Carlota Lagido, Cecília Matos Manuel, Danilo da Matta, Francisco Rolo, Jorge Andrade, Mariana Magalhães, Pedro Tavares, Tânia Alves e Vítor d’Andrade, It´s not over until the soprano dies estreia a 12 de janeiro no Teatro São Luiz, estando agendadas récitas no Coliseu do Porto, a 5 de julho, e na cidade de Dresden, na Alemanha, em setembro.
São 80 minutos que proporcionam uma súmula do enorme talento de Luísa Costa Gomes para escrever comédia. “É uma comédia de texto, é teatro com qualidade, com um vocabulário rico e cuidado. Não são improvisos, nem um conjunto de personagens a dizer umas graças”, enfatiza o encenador António Pires, lamentando que “a Luísa não escreva mais comédia”, muito embora seja a autora de textos tão relevantes como Lar Doce Lar, escrito a partir de uma ideia de Joaquim Monchique, ou Nunca Nada de Ninguém, “uma referência” no teatro cómico português das últimas décadas.
De Passagem, peça nascida de uma opereta que Costa Gomes escreveu em 1985 em língua inglesa com o título Just passing through, é, na opinião de Pires, uma comédia onde a autora coloca mesmo muito de si através do “humor, do sarcasmo, da maneira como distorce e ao mesmo tempo encontra a sua própria lógica de ver o mundo. Acho que, para quem conhece outros textos dela, esta peça é imediatamente identificável com a Luísa Costa Gomes.”

Anunciada como “uma comédia sobre economia”, onde “dar e receber, amar, comprar e vender, roubar e burlar, trocar coisas por coisas e ideias de coisas e essas por outras” espelham a sociedade capitalista na qual vivemos, De Passagem tem como protagonista o jovem Roberto (Francisco Vistas), num episódio daquilo que a autora define como uma “viagem iniciática, naquela tradição perdida do Grand Tour romântico.” Ao longo de um ano, o aspirante a artista viaja de comboio, parando nos locais que o atraem e explorando-os a bordo de uma bicicleta.
Certo dia, chegado ao “fim da linha”, Roberto vê-se no cimo de uma montanha onde encontra António (João Barbosa), um homem solitário, “desesperado, farto da vida e em permanente conflito com a natureza que o rodeia.”
Ao cair da noite, o rapaz apercebe-se que não tem o saco de viagem – apesar de pouco, lamenta Roberto, “é a carteira, os documentos, os cartões bancários, o dinheiro, o telemóvel, a roupa, os meus desenhos”. Perante a dúvida se o perdeu ou se foi roubado, muito provavelmente por um grupo de saltimbancos que o abordou na estrada, o rapaz é convidado por António para dormir em sua casa. Porém, o homem tem em mente um plano que envolverá Roberto num problema ainda mais grave do que a perda dos bens.

Entretanto, no dia seguinte, surgem no caminho de Roberto os desconcertantes cavalheiros Domingos (Ricardo Aibéo) e Augusto (Marcello Urgeghe), “dois snobs”, como os classifica Pires, que, “lembrando personagens de Beckett”, são eloquentes praticantes de uma competição pela dádiva, envolvendo particularidades como um pôr do sol inesquecível ou um prado verdejante. Se, por um lado, procuram ajudar Roberto, por outro, vão-se tornar um novo problema para o rapaz.
Chegado à aldeia, surge uma quarta personagem que, no final, se revelará essencial para o desenlace do mistério que, entretanto, se adensou (e, como bem pede o encenador, aqui não revelamos para não frustrar a curiosidade do espectador). Trata-se de Maria Rita (Sandra Santos), uma mãe aterrorizada por ter permitido que o filho de dez anos tenha ido, sozinho, comprar um gelado. O que Roberto ainda não sabe quando a encontra é que, apesar de pouco convicta nesse encalço, Maria Rita anda por aquelas bandas à procura do pai desaparecido.
Em cena no Teatro do Bairro a partir de 10 de janeiro, De Passagem faz temporada em Lisboa até dia 4 do próximo mês, seguindo depois para Alcochete (8 de fevereiro), Braga (15 e 16 de fevereiro) e Amadora (25 de fevereiro).
A vossa amizade já é antiga. Como é que se transformou numa parceria musical?
Ed Rocha Gonçalves: Tive a oportunidade de fazer um concerto que era uma noite temática. Para isso, precisava de uma diva, e na Catarina encontrei a minha diva. Quem diria que iria ser para a vida… Já éramos amigos e gostávamos os dois de música.
Catarina Salinas: Tínhamos esse gosto partilhado. Uma coisa levou à outra e, por força das circunstâncias, o Ed ia tocar nessa noite de divas e precisava de uma vocalista e nenhum dos nossos amigos quis assumir esse papel, por isso, coube-me a mim tentar a sorte.
O vosso som mistura eletrónica com indie pop, mas há um lado muito retro, muito anos 80 (especialmente no Cherry Domino). Como chegaram a esta sonoridade?
ERG: Sempre que nos juntamos para trabalhar, queremos fazer música que apele a nós. Em primeiro lugar, emocionalmente; depois, se tudo correr bem, a mais algumas pessoas [risos]. Eu e a Kate temos influências musicais assumidamente diferentes, mas temos uma característica comum: gostamos do lado nostálgico que a música tem capacidade para transmitir. Seja por serem músicas que ouvimos em certas alturas das nossas vidas, ou por causa da sonoridade do que ouvíamos quando éramos mais novos, ou até, por causa da própria instrumentação. Na nossa procura de encontrar uma sonoridade, esses elementos foram determinantes. Está no nosso ADN. Nascemos os dois nos anos 80, a música dessa altura esteve sempre presente nas nossas vidas e temos muitas memórias associadas a isso.
CS: Não só dessa altura, também de outras épocas. O álbum que sai este mês também vai buscar nostalgias de outros tempos.
ERG: Somos uma banda independente e autoproduzida e parte da nossa viagem como produtores tem a ver com investigação, experimentação, ter curiosidade de perceber porque é que as coisas soam de determinada forma… No Cheery Domino usamos uma drum machine que foi usada nos grandes hits dos anos 80. O que é este som, porque é que isto soa assim? Fomos investigar o que era. Usámos esse elemento na nossa música e sentimos que conseguimos também trazer um bocadinho dessa nostalgia porque o instrumento usado era este. O som usado era este.
Pode dizer-se que criam a música que gostariam de ouvir?
CS: Acho que fazemos música que tenha, inevitavelmente, uma memória imprimida. No nosso caso, são as nossas memórias que estão impressas nessa abordagem, quer na instrumentalização, quer na abordagem rítmica, quer nas interpretações. Essa questão é aquilo que nós queremos ver na nossa música. Depois, as pessoas também associam as suas memórias àquilo que lhes está a ser apresentado. A premissa é precisamente essa. Ficamos mesmo felizes quando as pessoas nos dizem que a nossa música é nostálgica, que lhes traz determinadas memórias. Obviamente que isso é transversal na arte e principalmente na música, mas nós temos esse objetivo concreto quando estamos a conceber as canções.
ERG: Já tinha ouvido isso em relação a filmes. Um conselho para os realizadores, que é: “faz o filme que querias ver no cinema”. E acho que é verdade. Acho que, de certa forma, nós fazemos ou tentamos fazer o disco que queremos ouvir.
E nesse processo não se chegam a cansar? Se estiver a dar uma música vossa no rádio, ficam a ouvir?
CS: Eu fico. Mas passo por esse processo de enjoo. Quando acabamos um disco, a última coisa que quero é ouvir o raio do disco [risos]. Quero é estar a milhas dele, até mesmo para ganhar perspetiva. Fazer um álbum a dois e não com uma banda é literalmente uma experiência imersiva. No fim do processo de gravação, o que mais queremos é sair dessa imersividade, voltar à realidade, para depois percebermos como é que o vamos apresentar ao público.
ERG: É uma espécie de teste do algodão também, porque nós demoramos bastante tempo a fazer canções e a estar satisfeitos com elas e depois, por causa disso, vivemos muito tempo com elas e depois temos de as ensaiar e preparar para os concertos. É um processo muito longo. Claro que há essa fase de estarmos fartos, já ouvimos as músicas centenas de vezes e ainda nem sequer chegaram ao público, mas a verdade é que há momentos espontâneos em que as ouvimos e ainda conseguimos gostar bastante delas. Há dias, pus-me a ouvir uma das músicas do nosso disco novo que não ouvia para aí há duas semanas e consegui apreciá-la, o que quer dizer que alguma coisa fizemos bem.
Ainda se conseguem surpreender, é isso?
ERG: Sim, só que isso depois começa a elevar a fasquia para todas as músicas que fazemos: isto aguenta cinco mil audições? É que, se não aguentar, se calhar não é interessante o suficiente.
CS: Podemos não conseguir fazê-lo, mas tentamos que as nossas músicas sejam intemporais.
Como é que trabalham juntos o processo de composição?
ERG: Nós somos um bocadinho banda operária, vamos todos os dias para o estúdio trabalhar juntos. A parte instrumental da percussão propriamente dita sou mais eu que faço, mas estamos sempre os dois. Ou seja, eu sou o operacional em campo, mas estamos juntos a fazer o trabalho.
CS: Normalmente vamos fazendo melodias e criamos um dialeto fonético. Nesse processo, conseguimos perceber que há palavras e sons que vamos querer transmitir em termos de letra. Ou seja, há coisas que se conseguem ir delineando a partir da questão melódica. Há alturas em que isso é partilhado, outras alturas em que é mais o Ed a fazer as letras. Noutros álbuns já aconteceu ser eu a fazer umas letras e o Ed a fazer outras. Funcionamos muito com base na necessidade do momento. Não há uma receita, não é uma coisa estanque. E acho que isso é uma mais-valia… À medida que vamos evoluindo, vamos tendo outras formas de pensar e outras formas de reagir. Nesse sentido, gostei muito do processo imersivo deste álbum.
Qual a ideia por trás do novo single, Back With A Bang?
ERG: Às vezes há uma espécie de cansaço e de marasmo que se instala. Sinto que há uma espécie de inércia, por diversos motivos, mesmo para coisas tão simples como ir sair com amigos. E de repente sinto um impulso, uma espécie de raiva que me diz “Sai do lugar, faz alguma coisa, mexe-te!” Tentámos passar esta ideia para a música.
E a ideia do vídeo, com os dois a jogarem o mítico ‘jogo das cadeiras’?
ERG: Gostamos muito de trabalhar com o André [Tentúgal, realizador] porque somos cúmplices há muitos anos, juntamo-nos para atirar ideias para cima da mesa. Sem querer partimos de um sítio e, de repente, fomos parar ao ‘jogo das cadeiras’…
CS: A música é muito imediata, muito curta, muito incisiva. É esta ideia que o Ed estava a dizer de “acorda para a vida! Não esperes mais! É agora!” O jogo das cadeiras também é muito imediato, acaba o tempo e tens de te sentar, não podes pensar, só agir. É a ideia de ação/reação.
ERG: Essa questão da letra, nós passamo-la como uma espécie de confronto interno entre nós, com a atividade ou a passividade. Quisemos também ilustrar a parte do confronto e essa parte somos nós a competir. Quem é que ganha?

Têm feito algumas parcerias com outros músicos, como em New Love, com The Legendary Tigerman. Como surgiu essa colaboração?
ERG: Já tínhamos feito algumas colaborações com o Paulo [Furtado]. Há uns anos convidámo-lo para tocar num concerto no Lux. Era um concerto com convidados, que é uma coisa rara, não fizemos muitos assim. Fizemos o concerto com ele e com o Moullinex. Na altura já tínhamos alguma afinidade e começámos a criar uma relação. Gostamos muito do trabalho do Tigerman. Tem algumas ligações com o nosso, seja a nível estético ou de referências. Há uma parte dos nossos universos que é completamente partilhada. Para além disso, felizmente, também existe uma afinidade pessoal. É uma pessoa impecável. Neste disco que fez, lembrou-se de nos convidar.
CS: Este disco também tem uma particularidade, é que é um disco extremamente cinematográfico, e se há coisa que nós também gostamos muito e que faz parte da nossa cultura e do nosso processo musical é cinema. Gostamos muito da questão da banda sonora e da ideia de descontextualizar um momento com determinados sons e o disco dele foi muito nesse sentido. Fez sentido fazermos esta canção juntos.
Com que outro artista (nacional ou internacional) gostariam muito de colaborar?
ERG: Gostava muito de trabalhar com o Nigel Godrich, é o meu produtor fetiche.
CS: Eu tenho dois: Jack Antonoff e Rick Rubbin. Se pudéssemos trabalhar com os três seria perfeito.
Em 2019, fizeram uma versão de Primavera, da Amália. Isso não vos deu vontade de compor em português?
ERG: É uma porta que nunca esteve fechada. Quando começámos a fazer música não houve uma reunião para decidir em que língua é que íamos cantar. Foi uma coisa instintiva. Aprendemos inglês desde muito cedo, para nós foi uma coisa natural e imediata. Nessa canção em concreto havia um contexto que fazia sentido, e provavelmente haverá outros… Agora, se será um disco, um EP ou um single não sabemos.
CS: Acho que tem crescido em nós o desejo de nos expressarmos na nossa própria língua, até porque já temos alguns anos de abordagem no inglês e a dada altura, como em qualquer coisa, queremos mudar um bocado. E porque não abordar a nossa língua, que é lindíssima?
Estiveram recentemente nas Maldivas, a participar no Chefs on Fire. Como correu essa experiência?
CS: Já tínhamos participado antes no Chefs on Fire, mas nunca tínhamos estado nas Maldivas e se não fosse esta experiência provavelmente nunca iríamos fazer esta viagem. Foi uma experiência sui generis, no bom sentido da palavra…
ERG: Fomos passar uns dias num hotel com um estilo de vida muito alto digamos assim [risos]. Somos fãs do festival, já participámos várias vezes. O conceito é muito giro, a ilha é muito pequenina, dá-se a volta em cinco minutos. Foi muito engraçada a experiência de irmos com uma equipa de Portugal, pessoas determinadas a dar uma boa impressão num festival com condições logísticas difíceis.
CS: Tivemos um concerto exterior e de repente começou a chover. Sim, estivemos de férias [risos], mas estávamos preocupados em saber se iria ou não resultar, ou se alguém ia apanhar um choque elétrico [risos]… O saldo foi altamente positivo. Ninguém apanhou um choque, ninguém faleceu [risos].
Everywhen será o vosso terceiro álbum, sucessor de Cherry Domino (2018) e Highway Moon (2015). O que sentem que mudou na vossa sonoridade ao longo destes anos?
ERG: No primeiro disco, estávamos muito verdes. Tivemos o privilégio de trabalhar com profissionais e músicos muito bons, e fomos montando o nosso projeto da forma que era possível. Nos primeiros concertos atuámos praticamente de improviso. Lançámos um EP e duas semanas depois já tínhamos uma tournée marcada e não tínhamos músicas ainda. Depois passámos para configurações de três, quatro e cinco pessoas e fomos saltando assim até percebermos que a banda somos só nós dois. Isso obrigou-nos, de certa forma, a depurar, tanto em disco como em concerto, uma banda e um projeto com os objetivos sónicos que nós tivemos nos últimos discos, mas só com duas pessoas. Sem querer, isso revelou-se um desafio espetacular. Este terceiro disco é uma espécie de culminar desse processo em que finalmente sabemos mais ou menos o que estamos a fazer. Até agora estivemos, de certa forma, a lutar um bocadinho entre os nossos objetivos e as capacidades que tínhamos para os concretizar. O processo de terminar este disco deu-nos a capacidade de dizer que finalmente estamos num momento em que conseguimos imaginar uma coisa e concretizá-la a 100% como queremos.
E agora uma pergunta politicamente incorreta: quais são as maiores diferenças entre o público do Porto e de Lisboa?
CS: Em Lisboa, o público é muito mais recetivo na sua expansividade. Em casa, acho que é a síndrome de sermos uma banda de lá… o público nortenho tem uma mentalidade relativamente diferente do público a sul. Lá em cima gostamos de avaliar e vamos cedendo aos poucos. Cá não é assim, essa cedência é muito mais livre. É tudo mais explosivo e é muito bom ter esses dois lados diferentes porque a forma como nos apresentamos nos concertos e como trabalhamos o público é diferente. Isso dá-nos experiência e outra forma de vermos a nossa própria música.
ERG: Ou seja, quando vimos tocar a Lisboa somos os Best Youth, quando tocamos no Porto somos o Ed e a Kate.
Em janeiro, o que é que o público lisboeta pode esperar do concerto no Teatro Maria Matos?
ERG: Estamos a tentar preparar o melhor concerto do mundo só com duas pessoas em palco. É esse o nosso compromisso [risos].
paginations here