Para Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues, atores que assinam a quatro mãos a encenação de Adam, teria sido possível a ambos acumular o trabalho de encenar com o de interpretar a multiplicidade de personagens que compõem o espetáculo. Mas, “dada a temática da peça, achámos que o ideal seria ter em palco atores da comunidade trans”, e, desse modo, “promover a representatividade de uma comunidade que ainda se depara com situações de exclusão e de extrema violência”, refere Andreia Bento.
Escrita por Frances Poet, Adam estreou no Festival de Edimburgo em 2017, interpretada pelo próprio Adam Kashmiry, um ator trans nascido no Egito que, anos antes, procurara asilo na Escócia de modo a conseguir “encontrar um lugar onde pudesse existir”. Um lugar que, como afirma o ator Tomás de Almeida, que interpreta na peça o Adam masculino, não é somente geográfico, “mas identitário”.
Identificado à nascença com o género feminino, Adam Kashmiry depressa se apercebe que estava a crescer no corpo errado. Perante a sua própria incompreensão, que se revelará insustentável no futuro, e a intolerância com que sistematicamente se confronta da parte da família e da sociedade, chegado à adolescência Adam decide rumar à Europa em busca de um lugar onde se possa cumprir como pessoa.
Depois de múltiplas atribulações e angústias, entra no Reino Unido e fixa-se na cidade escocesa de Glasgow. Mas, outra batalha se lhe impõe: para requerer asilo, há barreiras burocráticas a vencer de modo a garantir os cuidados médicos que lhe permitam provar que é um homem trans. Será a agonia vivida por Adam ao longo dos cerca de 700 dias em que se manteve confinado num pequeno quarto em Glasgow, enquanto espera pelas decisões das autoridades, que servirá de cenário ao texto de Frances Poet.
Esse espaço de confinamento é como que um mergulho na cabeça de Adam e nas suas conflitualidades latentes. Por um lado, aquelas que esgrime com as vozes do passado, repletas de incompreensão e de falta de compaixão, que ecoam do Egito natal. Por outro, aquelas que se escutam num presente que lhe traz a frustração e a desilusão com o país onde pretende encontrar o seu lugar.
Contudo, o epicentro do drama está no conflito identitário entre o Adam feminino (que aqui é interpretado por Eduarda Arryaga) e o Adam masculino. Uma dualidade que Poet estrutura com particular engenho e que, nas palavras da co-encenadora Andreia Bento, justificam este namoro antigo com um texto que descobriu em 2019 e que, desde logo, revelou “um enorme potencial artístico e emocional.”
Foram as qualidades do texto e “a visão sobre o tema da identidade” que acabaram também por seduzir Nuno Gonçalo Rodrigues, que não só co-encena como assina a tradução. “Enquanto lia o texto comecei a traduzir mentalmente e quando dei conta tinha umas 20 páginas prontas.”
O palco inclusivo dos Artistas Unidos
Ao longo de um processo de criação “muito fluído”, os Artistas Unidos decidiram que seria importante contar com pessoas da comunidade trans na criação do espetáculo. “Até aqui, os Artistas Unidos foram sempre um palco cisgénero. Daí Adam ser um espetáculo histórico para a companhia”, sublinham os encenadores, lembrando que, para lá dos atores, Adam conta com trabalho em vídeo da artista dominicana não binária Marie Jiménez e a consultoria do próprio Kashmiry e da ativista trans Dani Bento, da Associação GRIT e da ILGA Portugal.
De um open call aberto a artistas trans, os encenadores selecionaram Eduarda Arryaga e Tomás de Almeida, ambos atores formados pela Escola Superior de Teatro e Cinema, que sublinham a relevância “pessoal e para a comunidade trans de serem protagonistas num espetáculo de uma das mais importantes companhias de teatro portuguesas.”
Quanto à peça, embora exista um caráter biográfico explícito (sem comprometer as afirmações da autora e do próprio Adam Kashmiry a assumirem que Adam vai para além de um percurso exclusivamente pessoal), os atores sublinham “a importância de estas histórias começarem a ganhar palco”. Eduarda Arryaga, que fez o “percurso” inverso ao da personagem da peça, enfatiza que, por mais díspar que tenha sido a sua experiência, “é impossível a uma pessoa trans não se identificar” com muito daquilo que está na peça. “Partilhamos muita daquela dor, daquela angústia de saber que é preciso transformar o nosso corpo para que nos aceitemos, para que nos amemos e, consequentemente, para que os outros nos aceitem e possam amar também”.
Com estreia marcada para 8 de junho (numa sessão de entrada livre, sujeita à lotação da sala e a confirmação prévia), Adam está em cena até 24 de junho, de terça a sábado, no Teatro da Politécnica.
O seu percurso académico é ligado ao design. Como surgiu a vontade de ser músico?
Tirei um curso profissional de multimédia e estudei artes plásticas na faculdade, mas sempre tive uma paixão secreta pela música. Não acreditava que um dia pudesse seguir esse caminho, mas era um sonho que tinha desde criança. À medida que o tempo foi passando fui aprendendo por minha conta, fui ganhando confiança. Juntava-me com amigos, escrevíamos letras, cantávamos uns para os outros… Quando saí da faculdade acabei por perceber que era esse o caminho que ia seguir.
Esse lado visual permite-lhe saber bem o que quer da estética musical?
Sem dúvida que influencia a forma como apresento a minha música. O lado visual quase que faz parte da música em si. Aquilo que proponho não é só uma canção. Quero ter impacto cultural e mexer com as mentalidades.
A sua sonoridade é uma mistura de estilos. Como a caracteriza?
É música popular portuguesa. Gosto do limite entre popular e pop. O que é que é pop e o que é que é música popular? Se pensarmos bem, não é muito fácil separar estes dois universos. Rock’n’roll também é música popular americana. Temos tendência a olhar para a música popular portuguesa como folclórica e tradicional, mas isso é muito redutor. Por exemplo, neste disco – que tem inspirações diferentes do disco anterior – fui buscar sonoridades como a música de baile, as marchas ou as rumbas portuguesas. São géneros que estão muito presentes. As marchas são criadas todos os anos e vividas intensamente. Os géneros que abordo podem parecer tradicionais, mas são bastante contemporâneos e estão bem vivos.
O primeiro disco, Por este Rio Abaixo, saiu em 2021. Grande parte dele foi escrito durante a pandemia. É por isso que tem um tom melancólico?
As canções já existiam antes, mas foram muito trabalhadas durante a pandemia. Em termos de letras e de conceito não foi muito influenciado pela pandemia, mas mais pela fase que eu estava a viver a nível pessoal. É um disco mais melancólico, mais trágico, de coração partido, mais fadista. O disco novo – Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente – é totalmente diferente. As inspirações musicais são completamente diferentes, apesar de continuarmos na música popular portuguesa. O estado de espírito é totalmente o oposto, é um disco 100% alegre.
Isso está relacionado com a fase pessoal e profissional que está a viver?
Quando fiz este disco estava a entrar numa nova fase da vida, muito mais feliz, o que me transportou para um sítio completamente diferente. É interessante observar como em três anos tudo mudou, e o impacto que isso teve no meu trabalho. No início, quando comecei a trabalhar neste disco, estava um bocado inseguro. Achava que o disco era alegre demais, que lhe faltava profundidade. Mas pensei que tinha de aproveitar este bom momento e marcá-lo no tempo. Agora é avançar e ver o que vem a seguir.

O disco inclui bailes, rumbas e marchas. A ideia foi homenagear estes géneros musicais?
As marchas e a música de baile fazem parte das minhas memórias de infância. A música de baile é transversal, transporta-nos para as festas na aldeia. Aliás, basta ligarmos a televisão ao domingo e temos essa realidade. Acho que é uma realidade linda, com elementos musicais muito interessantes. É o tipo de música que oiço quando estou a celebrar com amigos: à segunda cerveja já estou a pôr uma rumba portuguesa ou uma música de baile [risos]. São géneros musicais que me ajudaram a encontrar a minha postura musical feliz. Há muito esta ideia – que para mim era verdade até há pouco tempo – de que a música feliz é bastante desinteressante. Por norma, as melodias que mais me interessam caem muito para as escalas menores, são melodias tristes. A música de baile e as marchas têm uma grande personalidade melódica. Encontrei aqui uma fórmula musical feliz – que transmite o meu estado de espírito – e que me permite explorar algo que nunca tinha explorado antes.
O primeiro single deste novo trabalho, Estrada, conta com a participação dos Mineiros de Aljustrel. Como surgiu a ideia para esta parceria?
Andava a trabalhar numa rumba portuguesa há algum tempo. Numa das vezes que estava a trabalhar esta música, subi o tom e comecei a ouvir o hino dos mineiros dentro da minha cabeça. Tive uma epifania e quis muito que esta ideia resultasse. “Samplei” o hino dos mineiros e percebi que casava perfeitamente com a canção. Achei muito curioso, isto diz muito sobre o hino dos mineiros e sobre o cante alentejano. O hino dos mineiros encaixa perfeitamente na escala da música cigana. Havia uma proximidade musical entre as duas coisas que me interessava explorar. Essa é uma das mensagens da música: unir o universo musical alentejano ao universo cigano português. Como sabemos, são dois mundos que, infelizmente, têm estado em tensão nos últimos tempos. A música não resolve problemas, mas cria um espaço onde estes dois mundos diferentes se aproximam. Acho isso bonito e com potencial para mudar mentalidades.
Qual é a história por trás da canção Preço Certo (que conta com uma pequena participação do ator e apresentador Fernando Mendes)?
Para mim, o Fernando Mendes é um símbolo de otimismo e de celebração, de generosidade e de união. Representa o sentimento que eu queria transmitir com esta música. O nome da música está relacionado com a minha experiência pessoal: estou feliz, tenho pessoas lindas ao meu lado. Sinto-me como se tivesse ganho a montra final do Preço Certo.
Produziu e participou no álbum da sua companheira, Ana Moura, e ela também participa no seu disco. Gerir o lado emocional e profissional é pacífico para os dois?
A Ana ajuda-me muito com a sua opinião, sobretudo com as melodias. Todos temos um “ouvido” que nos dá opiniões e eu tenho a sorte de ter um ótimo ouvido para me dar opiniões [risos]. Encorajamo-nos muito nos nossos trabalhos, e também nos ajudamos participando nos discos um do outro.
Em junho, apresenta este disco no arraial do Centro Cultural Magalhães Lima, em Alfama. Vai ser uma festa ou um lançamento do disco?
Vão ser as duas coisas na verdade. Este ano tenho estado muito próximo da marcha de Alfama: muitos dos coros femininos do meu álbum são de marchantes da marcha de Alfama e também da ensaiadora das marchas. O disco também conta com participação do cavalinho (banda filarmónica) que trabalha com a marcha de Alfama. Estou extremamente entusiasmado por mostrar ao bairro de Alfama o que tenho estado a fazer. Temo-nos ajudado mutuamente, por isso quero muito mostrar-lhes o fruto disso tudo. Também estou perto da Graça, que foi o sítio onde cresci. Vai ser bonito poder apresentar à cidade uma música que tem tanto dela.
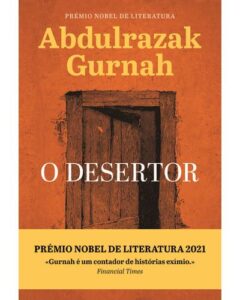
Abdulrazak Gurnah
O Desertor
Abdulrazak Gurnah, escritor nascido em Zanzibar em 1948, que vive no Reino Unido desde 1960, foi considerado pela Academia Sueca, ao atribuir-lhe o Prémio Nobel de Literatura 2021, “um dos autores pós-coloniais mais proeminentes do mundo”. O Desertor, o seu quarto título editado em Portugal, é uma obra admirável sobre duas histórias proibidas de amor inter-racial, separadas por duas gerações. De forma inesperada, essas histórias são quase elididas, ficando o leitor a saber apenas que existiram factualmente. O que interessa ao autor são as circunstâncias em que ocorrem: o complexo ambiente cultural, político, social e religioso da África Oriental na época colonial. O mundo imperial inflexível de 1899, “que se tornara uma extensão da respeitabilidade britânica”, e os finais de década de 1950, nas vésperas da independência, asfixiados “pelo servilismo colonial, religiosidade medieval e mentiras sobre o decurso da história”. No final da obra, o narrador, tomando conhecimento de um antigo diário, consegue estabelecer o traço de união entre as duas histórias de amor, projetando-as no futuro. Um livro fascinante que une a tradição narrativa da Africa Oriental com uma estrutura de romance herdeira do modernismo literário europeu. Cavalo de Ferro
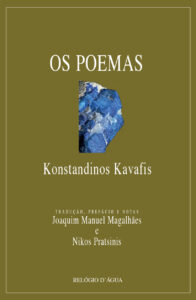
Konstandinos Kavafis
Os Poemas
Esta magnífica edição bilingue, traduzida por Joaquim Manuel Magalhães e Nikos Pratsinis, reúne a obra poética completa de Konstandinos Kavafis. Poeta grego (1863/1933), nasce e vive praticamente toda a sua vida em Alexandria, no Egipto. Concilia, na sua obra, duas formas de expressão opostas: a coloquial e a erudita, por vezes arcaizante. Os seus poemas, sem recurso à metáfora ou a efeitos de retórica, reportam-se, essencialmente, à Alexandria do período Helenístico e Greco-Romano (de 325 aC a 400 dC). Através deles, procura estabelecer um paralelo entre a cidade dessa época e o mundo moderno, deixando prevalecer um sentimento de decadência de culturas. Temas mitológicos e históricos (Pois O Deus Abandona Marco António), elementos eróticos de natureza homossexual – entre eles o culto da beleza física e a obsessão do desejo (Dias de 1908) -, e alusões à decadência e à mudança (À Espera dos Bárbaros) conjugam-se para definir o tom de ironia, mas também de profundo lamento pela transitoriedade das coisas que caracteriza a obra deste grande poeta. Relógio d’Água

Itamar Vieira Junior
Salvar o Fogo
O vencedor do prémio Leya 2018 está de regresso com um novo romance onde, uma vez mais, as mulheres têm um papel preponderante. Em Tapera do Paguaçu, uma pequena localidade da Bahia dominada pelos poderes da igreja, vivem Luzia, o seu irmão Moisés e o pai Mundinho. A mãe morreu, os irmãos “caíram no mundo” e Luzia viu-se obrigada a tomar conta deles. Desprezada pelo povo, vista por muitos como uma feiticeira que consegue controlar o fogo, Luzia passa a trabalhar como lavadeira do mosteiro, educando o ‘Menino’ de forma a que ele possa estudar na escola dos padres e assim seguir um caminho diferente do dos irmãos. Mas a vida no mosteiro, em cujas “entranhas vive a história da aldeia”, e a convivência com Dom Tomás marcam Moisés de tal maneira que resolve abandonar a aldeia e ir para a capital. Anos mais tarde, com o pai à beira da morte os irmãos voltam a reunir-se, “contidos, com tantas contas por ajustar, com tanto por dizer, se é que algum dia seria possível perdoarmos em silêncio uns aos outros as mágoas que nos provocamos”. Arrependida pelos silêncios e magoada pelas mentiras, Luzia ganha novo fôlego e luta como nunca contra as injustiças. “Seu nome é coragem, e já não teme a morte.” Sara Simões Dom Quixote

George Orwell
Dias da Birmânia
Um sinal de nascença deformante no rosto de Flory, negociante inglês de madeiras, fá-lo sentir-se condenado à solidão e à inadequação social. Quando se estabelece na Birmânia não consegue adaptar-se a um regime colonial desumano que fomenta o servilismo dos nativos e compactua com a insídia e a corrupção. Ao escolher como único amigo um médico birmanês hostiliza irremediavelmente a comunidade britânica a que pertence. A experiência de George Orwell (1903-1950) como agente da polícia na Birmânia inspirou este seu primeiro romance que traça um retrato sem concessões do domínio colonial britânico. O autor de 1984 elege o clube britânico local, exclusivo para membros brancos, como símbolo e último reduto do Império, lugar de culto das suas tradições e costumes (o ténis e o bridge, o whisky e o gin, a leitura de jornais, revistas e livros ingleses) e, simultaneamente, de afirmação dos valores da superioridade, elitismo e intolerância: “Nada de nativos neste clube!” Guerra & Paz

Vivant Denon
Sem Amanhã
Nobre francês, Vivant Denon (1747–1825) escapou à guilhotina durante a Revolução Francesa. Mais tarde, veio a cair nas graças de Napoleão, que acompanhou durante a campanha militar, munido de material de desenho, tendo depois recebido do imperador a nomeação para primeiro diretor do Museu do Louvre, que mantém hoje o seu nome numa das galerias. Sem Amanhã foi um dos poucos textos que deixou: 40 páginas que tiveram existência atribulada na sua fixação original, e que geraram um culto, impulsionado por gente como Anatole France, Honoré de Balzac, Milan Kundera e Louis Malle (cuja adaptação e atualização do texto de Denon por Louise de Vilmorin, deu origem ao filme de 1958, Les Amants). Narrado na primeira pessoa, por um jovem de 20 anos (que poderá corresponder a um relato autobiográfico do próprio autor), ingénuo nas coisas do amor, conta-nos a sua experiência de uma noite com uma aristocrata que, vem a saber, mantinha várias relações amorosas (mais ou menos breves) fora do casamento, estagnado com um marido indiferente. Estamos em território da libertinagem no feminino, extremamente bem contextualizado pela apresentação e pelo apêndice final da autoria do tradutor, Aníbal Fernandes. Ricardo Gross VS. Editor

Miguel Torga
Teatro
Adolfo Correia da Rocha, conhecido pelo pseudónimo Miguel Torga (1907/1995), distinguiu-se como poeta, contista e memorialista. Paralelemente, exerceu também uma importante e reconhecida atividade de dramaturgo. Este volume reúne as peças de teatro mais significativas de Miguel Torga: Terra Firme (1941), Mar (1941) e O Paraíso (1949). Várias vezes levadas à cena em Portugal e no estrangeiro, tiveram algumas representações marcantes, como a de Terra Firme pelo TEUC (com encenação de Paulo Quintela), e as de Mar pelo Teatro Moderno da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por um grupo de estudantes do King’s College de Londres (sob a direcção de Ruben A., que fez também uma adaptação da peça para a BBC), pelo Teatro Experimental do Porto (com encenação de António Pedro), pelo CITAC (Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra) e pelo Teatro Experimental de Cascais (com encenação de Carlos Avilez e cenário de Almada Negreiros). Peças representativas do carácter humanista da obra de Miguel Torga. O autor escreve em O Paraíso: “O homem fabrica sem querer as suas próprias fatalidades. E é nelas que realiza, positiva ou negativamente, a grandeza de que é capaz.” Dom Quixote

Mascarada Política – O Carnaval na obra de Rafael Bordalo Pinheiro
Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), homem da imprensa, desenhador, caricaturista, ceramista, assume-se como uma figura incontornável da segunda metade do século XIX. Figura do seu tempo, não poderia deixar de retratar o Entrudo enquanto festa pública repleta de múltiplos significados. O catálogo da exposição Mascarada Política – O Carnaval na Obra de Rafael bordalo Pinheiro, patente no Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras até ao próximo dia 30 de junho, com edição bilingue português/inglês, profusamente ilustrado, inclui alguns originais nunca antes mostrados. A publicação mergulha na obra artística bordaliana, olhando para o Carnaval, não apenas como um momento de inversão da ordem social estabelecida – característica intemporal da folia carnavalesca –, mas como um fenómeno histórico e sociológico que contempla inúmeros significados e objetivos sociais, políticos, económicos e religiosos. O catálogo e a exposição são produto de uma primeira investigação sobre a forma como Rafael Bordalo Pinheiro retratou o Carnaval, data importante nos divertimentos públicos de Lisboa, e a relevância dos ritos e das práticas carnavalescas na sua abundante produção jornalística, caricaturista e decorativa. Câmara Municipal de Torres Vedras / Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras
Pode ter passado mais de um século sobre os tempos de Isadora Duncan (1877-1927), mas a memória da mulher e o seu pensamento permanecem absolutamente atuais. Essa é a convicção de Rita Lello que, com a cumplicidade de Eugénia Vasques, traçou as coordenadas para uma viagem “a partir do itinerário proposto na poesia de Graça Pires”, no livro Jogo Sensual no Chão do Peito, e “na prosa da própria Isadora recolhida de várias fontes.”
De Duncan poderíamos dizer que é a precursora da dança contemporânea. Nascida americana, mas cidadã soviética nos últimos anos de vida, era a bailarina que não queria ser assim chamada porque, tal como um escritor usa as palavras, Isadora usava o corpo. Um uso vincado pelo “seu caráter destemperado, pela sua crença inabalável na liberdade – a liberdade das mulheres, a liberdade das pessoas, a liberdade criativa”, enfatiza Rita Lello, lembrando que ela foi mais do que “a criadora revolucionária” a quem chamavam “dançarina dos pés descalços”. Duncan foi uma feminista implicada, “uma pensadora com enorme lucidez crítica, que lutou pela emancipação das mulheres e pelo direito a terem o seu próprio espaço.”
Indissociável do seu pensamento, está uma vida aventurosa e invulgar, repleta de contornos trágicos – como o afogamento no rio Sena de dois dos seus filhos, ou até o violento acidente de carro que lhe causou a morte na Riviera francesa – e de amores ardentes – entre eles, as relações que manteve com o cenógrafo Gordon Craig, pai dos seus primeiros dois filhos, ou com o poeta russo Sergei Yesenin, seu único casamento; no campo da especulação mantem-se o caráter do relacionamento com a atriz italiana Eleonora Duce após a morte dos filhos.

Todos estes episódios da vida de Isadora Duncan vão compondo a viagem que Rita Lello faz a solo ao longo de pouco mais de uma hora. “Quis que o espetáculo tivesse algo de onírico e diáfano, mas sem que necessitasse de o colocar na representação”, explica. Para isso, é essencial o desenho de luz de Vasco Letria a acentuar a leveza e a transparência dos tules suspensos por onde a atriz se move. “Todos os elementos que aqui estão fazem parte do universo de Isadora: os tules que remetem para os cenários de Gordon Craig ou o vestido vermelho [figurino de Dino Alves] que era uma das suas marcas. Ela era uma vanguardista”, salienta Rita Lello.
Mas o que leva uma atriz de teatro a arriscar vestir a pele de uma personalidade que marcou a história da dança? “Quando li aquela frase da Isadora a pedir que não lhe chamassem bailarina achei que eu, que não sou uma atleta nem nunca dancei senão ballet em criança, poderia ser Isadora”, conta com um sorriso. “Para isso, devo muito à Amélia Bentes [coreógrafa] que me pôs a mexer e esteve constantemente a meu lado para que chegasse aqui sem que o meu corpo sentisse restrições.”
Quanto à urgência de recuperar o percurso e o pensamento desta mulher excecional, Rita Lello deixa a resposta no último parágrafo do texto que escreveu para a Folha de Sala de Isadora, fala!, nele reivindicando “um espaço de memória e um espaço de intervenção onde se estabelece o diálogo entre o discurso em defesa da liberdade de ontem, de hoje e de sempre.”
O filme é uma adaptação da peça homónima da atriz, cantora e compositora Laura Castro, uma peça onde a Maria participou como atriz. Como surgiu a ideia de adaptar esta obra para cinema?
Recebi o convite da Laura, que não conhecia, e achei a peça extremamente interessante. Para mim, foi a descoberta de todo um mundo, todo o processo do que significa ter filhos num casal homo afetivo. A todos os níveis: administrativo, saúde, familiar, de amizades. É um processo muito complexo e é preciso desejar mesmo muito ter a criança. Achei que a peça tinha essa dimensão de verdade e tinha de facto, porque a Laura tem três filhos com a Marta, a sua companheira da altura. Achei também o diálogo entre as gerações presentes na peça muito interessante. Fui para o Brasil onde estivemos em vários palcos, em muitas cidades, durante três anos. Rapidamente, não sei se é defeito de realizadora, vi o filme. A peça é uma longa conversa, de uma noite, entre mãe e filha. Então pensei: vamos desenvolver todas as temáticas que são abordadas na peça e que surgem só como pistas. Tinha o desejo de ver as personagens das quais falávamos, mas que não se viam. Queria ir mais longe e escrever a narrativa, sempre com essa ideia de verdade, acompanhando a atualidade de tudo o que se estava a passar no Brasil.

Como reagiu a autora?
A Laura disse logo que sim ao filme, gostou muito da ideia e rapidamente começámos a adaptar. A peça foi escrita num momento bastante solar, de confiança, um momento feliz do Brasil, em que o país estava em plena democracia e adiantado em questões homo afetivas. Foi nesse contexto de liberdade que se desenvolveu a peça, já o filme foi integrando o obscurecimento do Brasil e os retrocessos que foram acontecendo. Nesse sentido o filme encheu-se, muito mais, de elementos de angústia.
Esta é uma história sobre o poder que os traumas do passado têm no decurso da vida. Neste caso em particular as consequências da ditadura brasileira. Fez algum tipo de pesquisa sobre o tema? Falou com vítimas da ditadura?
Antes deste filme tinha feito um documentário, que é uma longa-metragem. Foi uma incrível coincidência porque eu tinha já pesquisado este momento histórico durante anos. O documentário foi-me proposto, por volta de 2010, pela Comissão de Amnistia e Reparação do Brasil que estava a fazer um trabalho fantástico no sentido da reparação e ajuda às vítimas da ditadura militar. Nesse documentário, que se chama Repare Bem, eu já seguia uma mãe, a Denise Crispim, e a filha, que tiveram um itinerário terrível. A filha de Denise, a Eduarda, nasceu numa prisão rodeada por soldados armados. O pai foi morto brutalmente depois de 109 dias de tortura. Após essa a morte deixaram a Denise em liberdade condicional. Ela acabou por ir para o Chile onde o Allende estava a ajudar brasileiros. No Chile, vive o golpe de estado do Pinochet e foge para a embaixada italiana e acaba por ficar 40 anos em Itália. Nesse documentário pude observar como os traumas, o sofrimento da geração da mãe se transmitiram à filha, apesar da sua tentativa de a proteger dessas dores. Com agravante que a segunda geração não viveu a situação, tem apenas relatos, ideias… Observei isso e foi algo que pude desenvolver nesta ficção. Além disso fui lendo muitos testemunhos das vítimas da repressão e da ditadura.
A peça parte da experiência pessoal de Laura Castro. Em palco a Maria interpreta o papel central, a mãe. Essa proximidade à história também influenciou a realização do filme?
Com certeza. Na verdade a peça foi escrita para a atriz Marieta Severo que na altura não a podia fazer. A Laura estava à procura de uma atriz, e foi todo um conjunto de coincidências incríveis. A Laura escreveu a peça a ouvir a canção do Ivan Lins, Aos Nossos Filhos, e o título da peça ficou o da canção. Essa música guiou-a sempre ao longo do tempo de escrita. Quando estava à procura de uma atriz, ouviu-me a cantar a canção. Cantei-a no contexto do documentário Repare Bem. Foi assim, através da canção, que nos conhecemos. Depois quando pensámos fazer o filme, era para mim evidente que o papel da mãe tinha que ser interpretado pela Marieta. Em França, quando o filme estreou, foi editado um DVD duplo, onde está a peça e o filme. É muito interessante, porque deparamo-nos com duas Veras completamente diferentes: a da peça, como referi anteriormente, é mais solar, mais excêntrica, e a do filme, muito mais sofrida. Poder comparar as duas obras é um exercício fascinante.

A escolha da Marieta Severo foi óbvia. Como foi feito o restante casting?
A personagem Tânia, filha de Vera, e a sua companheira, são as próprias Laura Castro [atriz e autora da peça] e Marta Nóbrega que foi companheira na vida real de Laura e de quem já estava divorciada quando fizemos o filme. Foram as duas muito valentes ao aceitarem interpretar estes papéis. Foi um desafio que assumiram com muita coragem.
Esta é também uma história que reflete sobre a vida moderna. De certa forma mãe e filha são ambas revolucionárias, mas em épocas diferentes. Concorda?
Sim, tudo foi pensado para que as situações se possam espelhar. Há ainda a intenção de mostrar que cada geração tem as suas prioridades, mas também os seus preconceitos. Há coisas que podem chocar a geração das mães, mas algo que eu também observei no documentário, é que a nova geração é, em certos aspetos, mais conservadora do que a das mães. No texto original, a mãe não é nada conservadora, no entanto, quando a filha lhe diz que está à espera de um bebé que cresce na barriga da companheira, atinge o limite de abertura de espírito. Depois o neoliberalismo da filha, ao aceitar, sem nenhum problema, que tudo tem um valor monetário, choca terrivelmente a mãe. O filme retrata também como as duas gerações têm questões que entram mutuamente em choque.

Podemos afirmar que este é um filme feminista?
Absolutamente! Considero que todos os meus filmes são feministas. Fazer os Capitães de Abril foi uma luta feminista, muita gente tentou dissuadir-me e questionavam-me porque não fazia uma coisa mais feminina. Para mim foi uma reivindicação feminista poder fazer um filme de guerra. Mas os Capitães de Abril era um filme onde a maioria das personagens são masculinas. Acredito que foram precisos todos estes anos para que eu sentisse que tinha a maturidade necessária para abordar um tema principalmente feminino.
O cinema é para si sinónimo de interpretação e realização. Sente-se melhor em frente às câmaras ou atrás delas?
Onde me sinto melhor é na transição. No passar de uma coisa para a outra. Acho que uma atividade alimenta a outra, enriquece a outra. Aliás, foi exatamente o que aconteceu. Foi do meu trabalho como atriz no teatro que surgiu a vontade de fazer o filme. Entretanto voltei para o teatro, onde recentemente terminei, em Paris, uma peça de Jean Cocteau [Les Parents Terribles]. É nesse vai e vem que me sinto melhor, não estar estagnada numa só atividade.
França é a sua casa, Portugal o país de origem, tem trabalhado em diversos países. Há novos projetos?
Sim, estou a preparar um novo projeto que está ligado a Portugal. Mas acho que ainda é um bocadinho cedo para falar sobre isso. Posso dizer que é uma nova longa-metragem.
O encenador David Pereira Bastos assume que poderia ser um espetáculo de homenagem a Fernanda Lapa, a fundadora da Escola de Mulheres, desaparecida em 2020. Na seleção de textos das grandes tragédias gregas que se combinam em dirty shoes don’t go to heaven estão trechos de As Troianas, Hécuba e As Bacantes, todas elas peças de Eurípedes que Fernanda Lapa trabalhou em vários momentos da sua extensa carreira.
Mas, “mais do que uma homenagem à Fernanda”, Pereira Bastos procurou fazer “uma homenagem ao teatro da palavra que tanto lhe agradava”, e livremente, “sem recorrer às anotações ou ao pensamento por ela produzido à volta das tragédias gregas que encenou”, criar um objeto assente numa “dramaturgia intertextual, com atores a lidar com materiais descarnados”, num espetáculo de “espaço vazio, de liberdade espacial.”

Embora fosse “abordar a tragédia como disciplina do teatro e do trabalho do ator em específico” aquilo que mais interessou a Pereira Bastos, em dirty shoes don”t go to heaven ecoa, mesmo que à distância, o olhar crítico de Fernanda Lapa sobre a figura feminina no teatro clássico. A ressonância trágica das heroínas de Eurípedes, como Hécuba, Polixena ou Cassandra, surgem como arquétipos da visão que os gregos reservavam à mulher, “tanto na sociedade como no próprio teatro”, e embora o encenador gostasse que o espetáculo tivesse “um discurso de superação”, o papel da mulher “está definido”, espelhando, independentemente da condição humana ou divina, o olhar patriarcal, que quase sempre lhe reservou um caráter sacrificial no cânone da tragédia.
Esse “papel muito limitado da mulher na tragédia clássica” é, contudo, como que transgredido na Antígona de Sófocles. “Trouxe essa peça devido à confrontação que oferece entre o feminino e o masculino”, explica. A insubmissa “Antígona é a única figura feminina que desafia abertamente o poder instituído.”

À parte de protagonistas femininas trágicas, a perplexidade surge quanto ao título em Inglês – literalmente, “sapatos sujos não vão para o céu”. Pereira Bastos percebe a estranheza, referindo a sua intenção de “prestar homenagem” ao amigo de infância Daniel Silvestre, “autor da sapatilha de ténis que está reproduzida no cartaz”. Ao mesmo tempo, “o titulo em inglês é sugestivo, é sexy e acaba por estabelecer uma ligação à moral ocidental das almas limpas que chegam ao céu”, salienta com um toque de ironia, sublinhando o cenário branco e os figurinos de cores neutras idealizados por Bruno Simão.
Com interpretações de Bruno Soares Nogueira, Catarina Pacheco, Joana Campelo, Leonor Cabral, Sílvia Figueiredo, Tomás Barroso e Wagner Borges, dirty shoes don’t go to heaven é 74.ª produção da companhia Escola de Mulheres, fundada em 1995, e que teve como primeiro espetáculo As Bacantes, numa encenação de Fernanda Lapa.
Canções de uma Noite de Verão (1 de junho, Terreiro do Paço, às 22 horas) e Miguel Araújo – Dança de um dia de Verão (30 de junho, jardim da Torre de Belém, à mesma hora) são os concertos especiais à beira-Tejo, de entrada livre, que assinalam o início e o fim da edição de 2023 das Festas de Lisboa, evento anual que é, com toda a certeza, a maior celebração anual da cidade.
Antes de revelarmos mais pormenores sobre estes dois grandes momentos, as Festas têm, como habitualmente, os principais atrativos nos 16 arraiais oficiais que animam os bairros da cidade e no grande desfile das Marchas Populares, com cerca de dois mil marchantes a descer a Avenida da Liberdade. Este ano, a inspiração é o Parque Mayer, tema da Grande Marcha, e as marchas mostram pela primeira vez os seus figurinos e coreografias nas sempre concorridas exibições de pavilhão (de 2 a 4 de junho, na Altice Arena), seguindo-se o desfile na avenida na noite de Santo António (dia 12).
Como o santo de eleição da cidade é Santo António, e de fama de casamenteiro tanto goza, como não poderia deixar de ser, nesse mesmo dia celebram-se os Casamentos de Santo António na Sé de Lisboa e no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Fado e outras “canções”
O Fado no Castelo é já uma tradição da Festas e, este ano, promete duas noites surpreendentes. Sob o cenário da magnífica Praça de Armas do Castelo de São Jorge, estão marcados novos encontros artísticos inesperados em palco, tendo desta vez como protagonistas Sara Correia e Stereossauro (dia 16), e Katia Guerreiro e o rapper Jaca (dia 17).
Outro grande concerto é o que se realiza quase no final, a 29, com a música clássica a tomar conta do jardim da Torre de Belém, com o Concerto Sinfónico de Verão. Em palco, cem vozes do Coro do Festival de Verão e a Sinfonietta de Lisboa, sob a direção dos maestros Paulo Lourenço e Cesário Costa, com vários solistas convidados, interpretam a Missa de Coroação, de Mozart, excertos da Oratória de Páscoa, de Bach, e o Salmo 150, de Eurico Carrapatoso.

Mas, voltando ao início, é no Terreiro do Paço que tudo começa, na noite de dia 1, com Canções de uma Noite de Verão, um concerto que dará uma nova sonoridade a alguns êxitos da música pop/rock portuguesa. As vozes de Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osiris e Marta Ren são protagonistas, acompanhadas pela Orquestra Pop Portuguesa, sob a direção do Maestro Jan Wierzba. O espetáculo conta com direção artística de Luís Varatojo.
A terminar, Miguel Araújo oferece a Dança de um dia de Verão. O autor de alguns dos recentes sucessos da música portuguesa, como Anda comigo ver os aviões ou Quem és tu miúda apresenta-se ora a solo, ora acompanhado pela sua banda. É com ela que vem ao encerramento das Festas de Lisboa, convidando Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka para se juntarem à festa que vai ser de arromba.
Nas Festas de Lisboa cabem muitas mais propostas imperdíveis nos diferentes espaços culturais municipais, como a celebração do quinto aniversário do LU.CA, os 135 anos do nascimento de Fernando Pessoa ou o espetáculo de música teatral 100 Amália no Teatro São Luiz. O cinema, a literatura, o teatro e outros projetos artísticos ocupam vários locais um pouco por toda a cidade, na sua maioria com entrada gratuita. Na agenda, há ainda outras festas que passam pela gastronomia e cultura popular, pela dança, pintura, fotografia, DJs e atividades para famílias.
Toda as novidades são acompanhadas no nosso site e a programação integral pode ser consultada aqui.
Depois de Jardim Zoológico de Cristal, em 1998, e Um Elétrico chamado Desejo, em 2010, Diogo Infante volta a Tennessee Williams com uma peça menos convencional do ponto de vista da obra do autor. Embora contenha muitos dos temas tidos como recorrentes ao longo das dezenas de peças que escreveu, nomeadamente a evocação autobiográfica, A peça para dois atores parece filiar-se numa tentativa de Williams para reinventar a forma e a linguagem do seu teatro, embora isso não tenha tido particular sucesso à época, levando mesmo o autor a escrever várias versões da peça.
Para este espetáculo, Infante optou pela derradeira versão (publicada em 1975), “a mais compacta e mais ‘simples’,” mas fazer A Peça para Dois Atores no atual momento foi, para o encenador, “conseguir concretizar três desejos num só.”
Primeiro, levar a cena um texto que “ressoa intimamente desde os tempos do Conservatório, há uns 30 anos”. “A ideia de que a casa do ator é um teatro sempre teve em mim um grande eco,” explicita o encenador, lembrando a tragédia de Felice e Claire, irmãos e atores, considerados loucos e abandonados pela sua trupe num velho teatro. Como que aprisionados naquele cenário, ambos parecem condenados a interpretar para o público uma peça em que são as próprias personagens. “É curioso como quando ainda só sonhava ser ator me conseguia projetar no futuro e encontrar afinidades com estes dois irmãos”, acrescenta.

O segundo desejo concretizado foi o de juntar no mesmo palco “dois atores admiráveis com quem nunca tinha trabalhado: Luísa Cruz e Miguel Guilherme.”
Pouco antes da pandemia, “o Miguel Guilherme desafiou-me para trabalharmos juntos,” lembra o encenador. “Embora não fosse peça para contracenarmos, seria perfeita para o dirigir, ainda mais porque o Miguel nunca tinha feito Tennessee Williams.”
Acaba por ser Miguel Guilherme que, após se confrontar com “um texto complexo e forte”, sugere Luísa Cruz para o papel de Claire. “O Miguel e a Luísa, para além de serem muito amigos, trabalharam vários anos juntos na Cornucópia,” o que lhe permite um raro sentimento de cumplicidade que engrandece ainda mais o espetáculo.
Além do mais, para Diogo Infante trabalhar com Luísa Cruz foi mais uma estreia. E, “estes dois pesos pesados tinham as características perfeitas para as personagens”. Mais uma razão, portanto, para ter valido a pena esperar 30 anos para fazer esta peça.
Por último, Infante conta como “sempre que lia a peça, a imaginava ser feita no palco da sala grande do Trindade”. O vetusto teatro do Chiado parece perfeito para a solidão em que estão cativos Felice e Claire, muito embora a carga dramática emprestada pelos companheiros criativos do Teatro Meridional – a luz de Miguel Seabra, a sonoplastia de Rui Rebelo e o cenário de Marta Carreiras – sejam fundamentais para, como pretende o encenador, A Peça para Dois Atores projete na “desconstrução do próprio teatro” inquietações suficientes para interpelar e tocar cada espectador. Nem que seja porque, tal como na vida, “nem sempre o teatro tem finais felizes.”
Como nasceu a ideia de um díptico? Porque considerou que tinha que fazer dois filmes que fossem como que o espelho um do outro?
Aconteceu um bocadinho como uma fatalidade do destino. O Mal Viver podia ser um filme passado num hotel sem clientes. Com clientes seria mais interessante, logicamente. Mas só podia ter clientes se houvesse financiamento para isso. O financiamento aconteceu e, como havia esse plano B e as coisas estavam preparadas, percebi quase imediatamente que podiam ser dois filmes. Dois filmes em que um mostrava o que o outro escondia. Era uma ideia já antiga ter dois pontos de vista sobre o mesmo tempo e o mesmo espaço.
Quando pensou no espaço onde decorre a narrativa soube desde o início que seria um hotel?
Sim, sempre pensei que seria um hotel, mais ou menos decadente, mais ou menos abandonado, mais ou menos com poucos clientes. Tinha que ser um hotel porque é um sítio de sobrevivência económica, um sítio onde as personagens estão porque não têm outra solução. Estão forçosamente presas. Não estão presas numa casa de onde eventualmente podiam sair, mas sim num sítio que é também o seu modo de vida.

Existe alguma razão em particular para ter escolhido o Hotel Parque do Rio, em Ofir?
Houve uma razão particularíssima: este hotel faz parte da minha infância. Quando era miúdo, nos anos de 1960, havia poucas piscinas públicas em Portugal. Muitos fins-de-semana, os meus pais levavam-me a mim e ao meu irmão para este hotel, para brincarmos na piscina. Vimos cerca de 80 hotéis em Portugal, de Norte a Sul. Eu sabia que este existia, mas deixámo-lo para o fim, porque tinha medo que já não fosse como o imaginava. Mas era! Mal chegámos ficou decidido que seria aquele. O dono do hotel é arquiteto e filho do mesmo arquiteto que fez o hotel, portanto mantem-no como uma joia preciosa. Também o escolhemos por ser um hotel sazonal e no inverno estar vazio, o que facilitou as filmagens.
Porque gosta de contar histórias que refletem realidades dolorosas, o sofrimento e o conflito? É mais fácil para si filmar o lado mais negro?
Viver Mal não é assim tão triste! Sei lá, se calhar o Freud explicava… Os dois filmes são sobre a ansiedade de ser mãe. Algo que pode ser tão belo e tão trágico. São as coisas que me interessam e me dizem profundamente respeito. Quanto mais velho, mais vou percebendo que se deve falar sobre aquilo que nos interessa e nos diz respeito. Isto levou-me também à grande redescoberta do [Ingmar] Bergman, que fazia exatamente isso.

Viver Mal inspira-se em três obras do dramaturgo August Strindberg. Porquê a escolha deste autor?
Tem, precisamente, a ver com a minha reaproximação ao Bergman. Na verdade nunca estive longe do Bergman, mas com a idade fui percebendo melhor as coisas. O mestre espiritual dele era o Strindberg. O projeto, para além das atrizes, teve como semente o Strindberg, que reli todo. Mesmo o Mal Viver começou com uma peça do Strindberg chamada Os Credores, influência que depois desapareceu. Quando surgiram os clientes fazia todo o sentido que estes fossem inspirados em peças do Strindberg. No fim, a que se manteve mais parecida com o original é a segunda das três histórias de Viver Mal, baseada na peça O Pelicano. As outras são todas muito diferentes.
Nos dois filmes volta a trabalhar com as atrizes de sempre…
Sim, são sempre as mesmas. Com novas contratações, neste caso a Madalena Almeida.
As personagens centrais dos seus filmes são sempre mulheres. O foco é a visão que elas têm do mundo, no caso em particular de Mal Viver e Viver Mal da maternidade. Porquê este fascínio pelas mulheres?
É mais um fascínio pelas atrizes. Na minha vida, que já não é assim tão curta, fui sempre encontrando atrizes disponíveis para se entregarem e para me darem coisas interessantes. Muito mais do que atores. É fundamentalmente isso. Começo sempre os projetos a pensar que papéis é que elas podem ter, onde se vão encaixar. Por isso é que as atrizes são sempre as mesmas. Só quando aparecem personagens muito jovens é que faço contratações através de casting. Shakespeare também escrevia sempre para a mesma companhia. O John Cassavetes e o Mike Leight também o faziam.

O papel das atrizes e dos atores na construção da narrativa faz parte do seu método de trabalho. Porquê a necessidade deste trabalho de equipa?
A estrutura do argumento é definida por mim. Os atores participam na escrita dos diálogos e da ação das cenas. É uma coisa que faço há muito tempo e que venho destilando. Sozinho não consigo ter tão boas ideias como com eles. Nas sessões de ensaios, que são gravadas, vou roubando tudo o que eles me vão dando. Depois, evidentemente, seleciono eu, manipulo eu. Não é nada de novo, voltando ao Shakespeare, já ele fazia a mesma coisa. Há neste método, um problema filosófico à partida: é que a interpretação da realidade é individual. Não há verdade, só há realidade. A verdade é individual. Logo, tentar impor uma versão da realidade a outra pessoa é um contrassenso. Mais vale descobrir a interpretação da realidade em conjunto, ou uma interpretação da realidade que faça sentido para os atores. O que me interessa é filmar a verdade deles, não a minha.
Mal Viver recebeu o Urso de Prata em Berlim. O que representa para si este prémio?
Mais vale tarde que nunca [risos]. É fundamental para mim, é um grande conforto e um grande consolo.
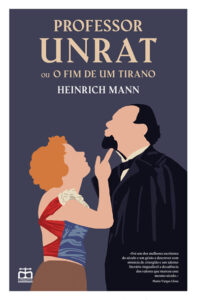
Heinrich Mann
Professor Unrat
Anjo Azul (1930) foi a primeira das sete obras-primas que Josef Von Sternbeg dirigiu com Marlene Dietrich, tornando uma atriz quase desconhecida num dos ícones mais fascinantes da sétima arte. Na base do filme está o romance Professor Unrat de Heinrich Mann. As duas obras apresentam, contudo, profundas diferenças. Desde logo, a estrutura do livro é definida por um nome e o seu reverso, Raat/Unrat (lixo, porcaria, esterco) enquanto no filme é centrada num lugar, o cabaret Anjo Azul, verdadeiro antro de perdição. Também ao protagonista, o professor Raat, é reservado um tratamento distinto. Na versão cinematográfica é apresentado como vítima de uma “mulher fatal” que, no final, procura desesperadamente a respeitabilidade perdida. Na obra original, o professor é um déspota adepto da autoridade e da ordem vigente, paradoxalmente, imbuído de um ódio e de uma sede de destruição, quase anarquista, face à arrogância das classes superiores. Aliado ao poder de sedução da cantora Rosa Fröhlich, vai corromper, uma a uma, todas as figuras gratas da cidade. O romance antecipa admiravelmente a decadência de valores que se consumou com a ascensão do nazismo, razão pela qual foi um dos livros mais perseguidos durante o III Reich. E-Primatur

Filipa Martins
O Dever de Deslumbrar
Natália Correia marcou o século XX português pela personalidade desassombrada e pela extraordinária qualidade da sua obra que tocou todos os géneros literários: do barroco fulgurante do seu teatro, revisitação dos principais mitos da cultura portuguesa, ao lirismo místico da sua poesia, da profundidade dos seus ensaios sobre a questão da Identidade à adaptação dos mitos clássicos gregos ao Portugal contemporâneo. Produto de seis anos de estudo, esta biografia coteja a vida da escritora com os momentos determinantes da sua obra: a infância e o abandono do pai, a profunda ligação à mãe e a relação com uma irmã que “ama mais à distância”, os quatro casamentos (três com homens muito mais velhos e o último, considerado a “união casta com um irmão”), a oposição à ditadura salazarista e, depois, ao gonçalvismo, a experiência como deputada, as tertúlias que promoveu, primeiro em casa, depois no bar Botequim, o paganismo e o culto do Espírito Santo, o iberismo (a defesa de uma comunidade cultural “ibérica euro-afro-americana”). Um valioso contributo que ajudará a cumprir o famoso vaticínio da grande poetisa: “Vai ser preciso passar uma década sobre a minha morte, para começarem a compreender o que escrevi.” Contraponto
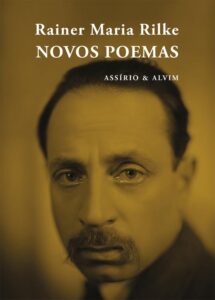
Rainer Maria Rilke
Novos Poemas
Poeta austríaco (1875/1926), autor das Elegias de Duíno, Rainer Maria Rilke expressava um conceito da arte como vocação quase religiosa. Definia o seu processo de escrita como uma “reversão” através da qual os poemas lhe eram ditados por uma suposta “consciência universal”. Os seus temas são o amor, a morte, os terrores da infância, a angústia existencial e a questão de “Deus”, que via mais como uma “tendência do coração” do que como um ser supremo identificável. Os Novos Poemas, construídos em duas partes, são uma das obras de maturidade do poeta a par de As Elegias de Duíno e Sonetos a Orfeu. Escreveu-os “não para retirar do mundo a arte como uma selecção, mas para elevar a sua incessante transformação à magnificência”. Inspirados pela escultura de Rodin e pela obra pictórica de Cezanne que despertam no autor a “total entrega do eu à arte” refletem, segundo Maria Teresa Dia Furtado, tradutora e prefaciadora da obra, “um fenómeno da ‘transformação’, como transformação do que olha demoradamente a coisa, e a transformação da coisa pelo facto de ser olhada demoradamente. E por fim a transformação da coisa e do poeta na palavra poética”. Diz Rilke em Viragem: “A obra do olhar fez a sua criação / faz tu agora a obra do coração”. Assírio & Alvim

António Jorge Gonçalves
Welcome to Paradise
O “paraíso” deste diário gráfico é a cidade de Lisboa para os turistas que em torrentes humanas a visitam. Para os habitantes da cidade, a sensação é bem diferente, entre o olhar irónico mais ou menos tolerante, a estranheza e a exaustão. A visão do autor, Prémio Nacional de Ilustração 2013 pelo livro Uma Escuridão Bonita, com texto de Ondjaki, que transparece nesta obra, reproduz de perto essa atitude. Com uma boa dose de ironia e com um traço caricatural num expressivo preto e branco, regista o quotidiano de uma verdadeira Babilónia reinventada. O familiar turista equipado com os seus inevitáveis óculos escuros e calções, e munido do indispensável selfie stick, percorre as ruas da capital fixando para a eternidade os momentos junto ao rio, no túmulo de Camões ou em trânsito no elétrico 28. De pé nas filas, sentados nos tuk-tuks, montados nas trotinetas, ei-los a desfrutar da cidade de Ulisses, à beira da Sé, pendurados no Elevador de Santa Justa ou em romaria ao bairro de Alfama. Porém, o amor floresce em todas as esquinas e os pares enlaçam-se nos relvados e nos bancos de jardim, ou não fosse Lisboa, como escreveu Manuel Alegre, “A cidade que tem / Teu nome escrito no cais.” Orfeu Negro

Manuel S. Fonseca
Crónica de África
As qualidades que invejamos num bom escritor incluem invariavelmente a memória, o estilo, e a imaginação. O estilo é fundamental; quanto às outras duas podem existir em diferentes autores, separadamente. Manuel S. Fonseca, editor e crítico de cinema, é um felizardo pois possui as três. O seu estilo é enérgico e a linguagem colorida, miscigenando o português com palavras dos dialetos angolanos (vocábulos só dominados pelos que viveram naquele país). A memória é prodigiosa, reproduzindo ao pormenor cenas da infância e da adolescência, intensificadas pelo sentimento de felicidade e pela capacidade de recriá-las com uma câmara a filmar (os episódios descritos pelo autor parecem estar a acontecer no momento em que os lemos). A imaginação reflete-se no modo de contar, quando as referências trazidas da música ou do cinema não são meras citações culturais, mas uma espécie de moldura que amplifica as situações de quem revê o filme da vida que o fez ser quem é. Por outro lado, Manuel S. Fonseca parecia destinado a Angola, como se um país pudesse reclamar alguém que por engano tinha nascido longe dali. [texto: Ricardo Gross] Guerra & Paz

Luísa Beltrão
Pela Graça de Deus – o mistério da Torre de Belém
Acessível apenas por mar, e aparentemente inexpugnável do exterior, em pleno século XVI, a Torre de Belém é palco de uma série de crimes insólitos. António Cardoso de Mello, Ouvidor da Casa do Cível, tinha como trabalho coadjuvar o desembargador na recolha de dados necessários ao julgamento dos crimes praticados por homens, exceto no campo da feitiçaria, aí executados por mulheres, e sentia uma mórbida curiosidade, por um lado, no contacto com a perversidade das gentes, e, por outro, no desejo de restabelecer a justiça na defesa dos fracos e no castigo dos ofensores. António de Mello vê-se então a braços com uma série de homicídios hediondos, cujas datas são escolhidas com intuitos pré-definidos, tal como as próprias vítimas, colocadas, uma a uma, em cada piso da Torre: “o primeiro cientista, o segundo académico, o terceiro cortesão, e agora Mateus Sobreiro, astrólogo.” Enigmas, história, ciências ocultas, astrologia, é o que vai encontrar neste romance ao qual Luísa Beltrão dedicou cinco anos de investigação. Terminada a sua leitura, vai concluir que “há pontas soltas, sim senhor, mas se se começa a puxar queimam-se as mãos. E comprovar as infrações? Não há maneira! Tu falas de um labirinto, eu falo de uma conjura gigantesca!” [texto: Sara Simões] Casa das Letras

José António Barreiros
O Piloto de Casablanca
José António Barreiros, advogado criminalista de referência, publicou vários livros sobre essa área jurídica. Tem estudado a guerra secreta em Portugal no período 1939-1945, sendo autor do site 24Land. Sobre esse tema editou, O Espião Alemão em Goa e também Traição a Salazar, entre outros livros hoje esgotados. Na sua mais recente obra, traça a biografia José Cabral, um herói esquecido que se distinguiu na Aviação Naval. Perito em acrobacia aérea, as suas façanhas conheceram fama. Colocado em São Jacinto, Lisboa e Macau, levou a cabo, neste território, missões de salvamento de pilotos caídos na China, tendo sido por isso condecorado com a Legião de Mérito. Durante a Segunda Guerra Mundial foi o único piloto da Aero Portuguesa a assegurar a linha Lisboa-Tânger-Casablanca. Portugal, país neutral, era a única potência autorizada a assegurar essa rota. Devido às missões secretas que levou a cabo em prol da causa aliada, recebeu a Legião de Mérito norte americana, o mais alto galardão que pode ser concedido a militares estrangeiros. Um dos aviões que tripulou foi adjudicado por intervenção direta do General Dwight Eisenhower, que então assegurava o comando supremo da vitoriosa operação de desembarque no Norte de África, que marcou o início do fim do III Reich. À realidade, o autor acrescenta o mito conjeturando: “o avião da cena final do filme Casablanca, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, poderia ter sido o seu avião, um Lockeed Loadstar, 18.” Oficina do Livro
paginations here