Composto pelo bitânico Andrew Lloyd Webber, que se inspirou em 14 poemas do seu livro infantil favorito Old Possum’s Book of Practical Cats, de T.S. Eliot, Cats estreou-se no West End, em Londres em 1981, onde esteve em cena durante 21 anos. Em 1982, a produção atravessou o oceano e, durante 18 anos, atraiu milhões de espetadores à Broadway, em Nova Iorque, onde ganhou sete Tony Awards, incluindo o de “Melhor Musical”.
A história começa no silêncio da noite. De repente, irrompe música e luz revelando um beco onde o lixo se amontoa. Por momentos, vislumbra-se um furtivo gato a correr. Aos poucos, um por um, os gatos vão aparecendo na sua noite anual de celebração, demonstrando as suas habilidades numa fusão de música, poesia e dança.

A tribo de gatos – os Jellicle Cats – está agora reunida para comemorar o Jellicle Ball, onde o seu líder, o sábio Deuteronomy, vai escolher o felino que vai viajar até The Heaviside Layer e renascer numa nova vida. É a partir daqui que cada um dos gatos conta a sua história, esperando ser o escolhido para tão especial desígnio.
Cats, um dos mais icónicos e emblemáticos musicais do mundo, tem como principais mensagens o perdão, a aceitação e amor. Para Hal Fowler, que dá a vida a Gus, Bustopher Jones e Rumpus Cat, este espetáculo “tem toda a diversidade de emoções do ser humano”, conseguindo assim surpreender, pois “há momentos de serenidade maravilhosos, onde se consegue mesmo ir ao detalhe”.
O elenco é composto por 29 artistas, entre os quais Jacinta Whyte, como Grizabell, e que dá voz ao tema mais famoso deste musical, Memory; Martin Callahgan, no papel de Velho Deuteronomy (o líder dos gatos Jellicle) e Russell Dickson, que se veste de Munkustrap (narrador do musical). Destaque também para a caracterização e para os figurinos, que tornam o espetáculo visualmente fascinante.

Incomum no que respeita à sua construção – não existe guião e apenas usa os poemas originais como texto -, este musical é totalmente cantado e não apresenta praticamente nenhum diálogo falado entre as músicas. Os géneros musicais presentes no espetáculo, que variam do clássico ao pop, music hall, jazz, rock e música eletroacústica, são prova do ecletismo de Lloyd Webber. A dança é, também, um elemento-chave no espetáculo.
Tendo sido já apresentado em mais de 40 países e traduzido em 15 idiomas, Cats foi visto por mais de 73 milhões pessoas em todo o mundo. Recorde-se que o musical passou pelas salas de espetáculo portuguesas em 2004, 2006 e 2014.
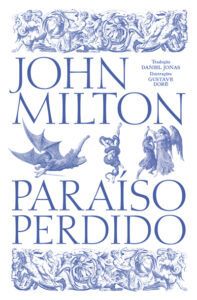
John Milton
Paraíso Perdido
John Milton (1608-1674) terá escrito o poema épico Paraíso Perdido, publicado originalmente em 1667, durante toda a vida, interrompendo-o devido à Guerra Civil (apoiou a causa republicana, incluindo a ditadura de Cromwell), à morte prematura da segunda mulher e à cegueira que se declarou totalmente em 1652. Sobre o texto, em verso branco, escreveu: “A medida é a do verso heroico sem rima, tal como o de Homero ou o de Virgílio, (…) como exemplo, o primeiro em inglês, da liberdade devolvida ao poema heroico da penosa escravatura moderna dos versejos”. A obra relata a queda do Homem: a tentação de Adão e Eva e a consequente expulsão do Paraíso. Dryden, poeta contemporâneo de Milton, salientou a “particularidade constrangedora” de Satanás ser o herói do poema. De facto, o Satanás de Milton é um personagem inteiramente novo na poesia épica, oposto à figura monstruosa tradicionalmente retratada na literatura medieval e renascentista. Para o poeta e artista William Blake, ilustrador da obra, o Satanás de Paraíso Perdido representa o símbolo do desejo, da energia e das forças criadoras vitais que permitem à humanidade desfrutar da vida em plenitude. Tradução de Daniel Jonas e ilustrações de Gustave Doré. E-Primatur

Annie Ernaux
Um Lugar ao Sol seguido de Uma Mulher
Este volume assinala a primeira reação do meio editorial português à atribuição do Prémio Nobel à autora francesa Annie Ernaux. A mesma casa que publicara Os Anos, Uma Paixão Simples e O Acontecimento, reúne agora duas narrativas de menos de 100 páginas no mesmo livro: Um Lugar ao Sol, sobre o pai de Ernaux, publicado em 1984 e vencedor do Prémio Renaudot, e Uma Mulher, sobre a sua mãe, lançado em 1988. A autora dá nestas obras as melhores formulações sobre o seu trabalho de escrita. Escolhemos duas: “Esta maneira de escrever, que me parece desenrolar-se no sentido da verdade, ajuda-me a emergir da solidão e da obscuridade da recordação individual, a fim de descobrir uma significação mais geral”. “A escrita neutra acode-me com naturalidade, a mesma que utilizava quando escrevia aos meus pais para lhes comunicar as novidades essenciais”. São frases que podem caracterizar todos os livros de Annie Ernaux, que vem compondo o mosaico da sua história individual, cruzando-a com a da sua família e a da França contemporânea. O testemunho desta escritora faz-se por camadas de objetividade compassiva sendo esse o seu compromisso. RG Livros do Brasil
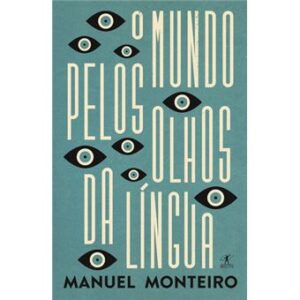
Manuel Monteiro
O Mundo pelos Olhos da Língua
“Ver o mundo pelos olhos da língua é encontrar a razoabilidade no modo de viver que Alexandre Herculano decidiu imputar a Almeida Garrett: ser capaz de todas as porcarias, mas nunca, a troco de todo o ouro do mundo, de uma frase mal escrita. A integridade linguística é prova de carácter”. Manuel Monteiro, jornalista, autor, revisor linguístico e formador profissional de Revisão de Textos, aborda neste seu livro “os erros frequentes de quem tem a língua portuguesa como materna, a importância da clareza no discurso escrito ou oral, a forma como transmitimos uma mensagem, a vitalidade de bem escrever e bem falar“. Autor de obras como Dicionário de Erros Frequentes da Língua (2015) ou Por amor à Língua (2018), luta contra a forma como grande parte dos portugueses maltrata a língua e defende a sua complexidade e a beleza. Como escreveu Orwell, citado em epígrafe neste livro, “Um homem pode virar-se para a bebida, porque se sente um falhado, e depois falhar mais completamente por beber. Acontece o mesmo com a língua (…). Torna-se feia e imprecisa, porque os nossos pensamentos são tolos, mas a incúria da nossa língua favorece esses mesmos pensamentos tolos”. Porque pensamento e linguagem são indissociáveis. Objectiva

Branquinho da Fonseca
O Barão
Branquinho da Fonseca (1905-1974) escreveu novelas, romances, poesia e teatro. Contudo, segundo Óscar Lopes e José António Saraiva, o melhor da sua obra reside nos contos. Neles “consegue sugerir um halo de mistério, de medo ou de pesadelo indiferenciado, de constante surpresa na perseguição a um imprevisto ideal, sem todavia nos desprender de um senso de verossimilhança, antes como que acordando nesse halo misterioso os ecos emotivos da realidade”. O Barão, sua obra-prima, narra a viagem de um inspetor das escolas de instrução primária à serra do Barroso. Aí conhece a figura excecional do Barão, homem solitário de especto brutal, “um senhor medieval sobrevivendo à sua época, completamente inadaptado, como um animal de outro clima”. O Barão apodera-se do inspetor e força-o a partilhar o seu mundo delirante e contraditório durante uma noite alucinante marcada por confidências íntimas e acidentes imprevistos. David Mourão-Ferreira ressalta, no prefácio à presente edição, “o significado a um tempo local e universal da figura do Barão, o sortilégio da atmosfera em que ele se move, a possibilidade de interpretação da sua índole e dos seus atos a vários níveis (psicológico, sociológico, mítico, histórico).” Relógio D’Água
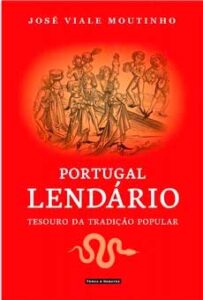
José Viale Moutinho
Portugal Lendário
“Um país sem lendas é um aborrecimento, é capaz de nem existir. (…) Portugal não é, nem por sombras, um desses raros países. Nós podemos não nadar em metal sonante, mas temos lendas a rodos por toda a parte, como aqui se prova, que poderão entreter o nosso imaginário durante uns bons séculos, até à eternidade!”. José Viale Moutinho apresenta centenas de lendas do norte ao sul do país, entre o continente e as ilhas, no livro Portugal Lendário – Tesouro da Tradição Popular, uma obra que homenageia as tradições populares portuguesas, percorrendo Portugal ao ritmo das lendas e narrativas. Uma redescoberta do maravilhoso popular entre as histórias que foram passando de boca em boca, de avós para netos, vindas de tempos imemoriais, mas que permanecem atuais e sábias. José Viale Moutinho nasceu no Funchal, em 1945. Jornalista e escritor, autor de livros nas áreas de investigação de Literatura Popular, da Guerra Civil de Espanha e da deportação espanhola nos campos de concentração nazis, bem como de estudos sobre Camilo e Trindade Coelho. Ficcionista e poeta, recebeu, entre outros, o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco/ APE e o Prémio Edmundo de Bettencourt de Conto e de Poesia. Temas e Debates
Charles Bukowsky
Os Cães Ladram Facas
A personalidade de Charles Bukowsky (1920-1994) foi marcada pela experiência de uma infância violenta e infeliz e o seu rosto pelas marcas profundas da acne, dando origem a um sentimento constante de rejeição. O poeta e romancista incarnou o mito do autor marginal, que desprezava as convenções sociais e se identificava com os loucos, alienados e alcoólicos, procurando, como salienta Valério Romão, selecionador e prefaciador da presente antologia poética, “uma forma de estar no mundo sem o estar”. Na sua poesia, Bukowski recorre aos seus temas habituais; o sexo e a mulher, a infância e o álcool, os hipódromos e as apostas, a escrita e os outros escritores. O estilo, inspirado por Hemingway, é direto e recusa a complexificação geralmente associada à prática poética. A radical honestidade dos seus versos, nos quais não hesita em descrever-se nos termos menos lisonjeiros, contamina-os de uma profunda e impressiva humanidade: “demorei 15 anos a humanizar a poesia / mas vai ser preciso mais do que eu / para se humanizar a humanidade”. A tradução é de Rosalina Marshall. Alfaguara

Maggie Nelson
Argonautas
Argonautas, de Maggie Nelson, foi distinguido com o National Book Critics Circle Award na categoria de crítica em 2015. O título da obra inspirou-se numa citação de Roland Barthes que descreve o sujeito que pronuncia a expressão “amo-te”, assemelhando-se ao “argonauta que renova o seu barco durante a viagem sem lhe alterar o nome”. A ideia das declarações de amor como renovada viagem ilustra na perfeição um livro que centra no seu fluxo de pensamento a relação amorosa da autora com o artista Harry Dodge, a família configurada por esta união e a viagem que empreendem os seus corpos em permanente devir: Harry submetendo-se às alterações físicas e hormonais de uma transição de género, Maggie engravidando e vivendo as transformação da gravidez e da maternidade. Num registo híbrido e num relato íntimo e fragmentário, Maggie Nelson incorpora nas suas experiências perspetivas teóricas de autores como Roland Barthes, Judith Butler, Gilles Deleuze ou Ludwig Wittgenstein, esbatendo os limites entre o ensaio, a memória, o político, o filosófico o estético e o pessoal. Orfeu Negro

Luís Castro, Vel Z e outros
PERFINST
Obra singular de cuidado grafismo sobre o conceito matricial que os fundadores da Karnart forjam e perseguem desde 1996, o perfinst. Livro dúplice, conceptualmente supervisionado por Luís Castro e Vel Z, diretores artísticos da Karnart, apresenta-se dividido nas duas partes que constituem o neologismo perfinst, PERF e INST, e que ancoram nos conceitos de PERFormance (artes performativas, lato sensu) e INSTalação (artes plásticas e digitais). O livro PERF centra-se na pessoa, no intérprete do perfinst, e integra textos de carácter especializado por Luís Castro, testemunhos das intérpretes Gisela Cañamero e Mónica Garcez, um texto científico da responsabilidade de Maria João Brilhante, e reflexões de Emília Tavares, Nuno Carinhas e Claudia Galhós. O livro INST foca o objeto enquanto protagonista, as coleções do Gabinete Curiosidades Karnart, e alia a textos específicos de Luís Castro, testemunhos das intérpretes Bibi Perestrelo e Sara Carinhas, textos científicos de Maria Helena Serôdio e Daniela Salazar, e reflexões de Gil Mendo, João Carneiro e Jorge Martins Rosa. Os livros estão ligados por um caderno de imagens central, que se constitui enquanto ensaio visual da autoria de Vel Z. Karnart / Centro de Estudos de Teatro da FLUL
Para muitos, o país rural mostrado no mais recente trabalho de Cucha Carvalheiro é distante, porém, ainda muito presente nas memórias de quem viveu os tempos sombrios da ditadura. Para os mais jovens, o que se conta no espetáculo poderá parecer saído de um país demasiado longínquo para parecer real. Contudo, passaram pouco mais de seis décadas sobre aquele ano de 1962 em que a atriz e encenadora situou a ação de Fonte da Raiva, peça onde “enxerta” Danças a um Deus Pagão, texto do dramaturgo irlandês Brian Friel, às suas próprias memórias pessoais e familiares.
Como em tantas aldeias isoladas nas serras do interior, vivia-se num profundo obscurantismo, alimentado por crendices de toda a ordem e um reverencial temor a Deus, às autoridades e ao olhar e apreciação dos outros. Esse Portugal, tutelado pela figura do ditador Salazar, surge aqui enquadrado pela “memória infantil” de Amélia, que vinda deste nosso presente como que regressa à velha casa na aldeia de Fonte da Raiva, onde pelos seus oito anos vivia com a mãe, Ana, e as suas quatro irmãs.

O espetáculo começa com a euforia que surte a chegada de um rádio a pilhas à casa das irmãs Paiva. Como que por magia, o aparelho parece quebrar o isolamento a que aquelas mulheres estão votadas, agravado pelo modo como são encaradas pelos outros aldeões.
Em causa estão episódios que pairam sobre a família, os quais, como enfatiza a mais velha das irmãs, professora e principal sustento da casa, mereceram a reprovação da aldeia. Entre eles, há a suspeita de que uma das irmãs é “fissureira” (ou seja, lésbica); está o regresso abrupto do irmão Afonso, missionário em África, que terá sido expulso pelas autoridades por defender a independência das colónias e se ter convertido ao paganismo; e a condição de mãe solteira de Ana, mais ainda por ter ficado grávida de Zé “Café”, um estudante negro de Coimbra, pai de Amélia.

À primeira vista, Fonte da Raiva pode ser entendido com um espetáculo autobiográfico. Cucha Carvalheiro esclarece: “esta não é de todo a minha história, mas sim a de Amélia, uma personagem ficcional na qual plantei memórias da minha infância.”
A autora e encenadora explica: “sendo o meu pai natural de uma aldeia da Beira Alta, passei várias vezes férias na casa da minha avó, tendo testemunhado muitas das situações que se passam na peça, nomeadamente aquela do Entrudo, em que a aldeia lavava publicamente a roupa suja, e que inspirou a revelação da homossexualidade de uma das tias de Amélia.”
Por outro lado, “há as minhas memórias africanas, já que vivi parte da infância em África, no Huambo, recordando num período mais tardio, a tomada de consciência das injustiças e do racismo.”
Sendo filha de um colono “muito especial” pró-independência, e de uma mãe africana, filha de uma negra, Cucha Carvalheiro colocou na personagem do padre dissidente muitas frases que ouviu da boca de seu pai. Outra inspiração foi um dos seus primos direitos, que tal como Zé “Café” era um negro nascido e criado na “metrópole”, com o seu quê de hedonista e de bom dançarino.

Quantos às tias de Amélia, provindas diretamente das cinco irmãs da peça de Friel, a autora deu a cada uma delas traços que reconhecia nas suas primas beirãs e em muitas outras mulheres de aldeia daquele tempo. “O Friel situa a ação na sua Irlanda do Norte, em 1936, e eu no interior de Portugal, em 1962, segundo ano da guerra colonial. Isso porque aquilo que verdadeiramente me interessava em Danças a um Deus Pagão era a estrutura da peça. Pretendi mesmo foi falar dos meus dois lados, o africano e o beirão, e da guerra colonial que marcou profundamente a minha adolescência”, sublinha a autora.
“No fundo, procuro através do teatro mostrar aos meus sobrinhos um pouco da história da nossa família e a todas as outras pessoas, sobretudo às mais jovens, que não foi assim há tanto tempo que vivemos estes tempos sombrios aos quais não podemos de modo nenhum voltar”, conclui. E é com ironia, humor, lágrimas, mas também muita alegria que, “sem dogmatismos”, a autora coloca em Fonte da Raiva uma ampla reflexão sobre a condição da mulher, sobre o preconceito e a discriminação, sobre o racismo e a guerra.
Para além da própria Cucha Carvalheiro, que interpreta Amélia, a narradora desta história, o espetáculo conta com interpretações de Sandra Faleiro, Inês Rosado, Júlia Valente, Joana Campelo e Leonor Buescu, nos papéis das irmãs Paiva, Luís Gaspar, como padre Afonso, e Bruno Huca, no papel de Zé “Café”. O espetáculo está em cena na sala principal do Teatro São Luiz, até 12 de fevereiro.
Tiveste contacto com o universo do hip-hop muito novo. De que forma é que isso moldou a tua consciência política e social?
Comecei a fazer rap por causa do Gabriel O Pensador. Foi o primeiro rapper que ouvi em português. Tinha 12/13 anos e ele formou-me política e ideologicamente. A partir daí, 70% a 80% de tudo aquilo que me influenciava era rap. Alguns rappers foram os meus professores, meus filósofos, meus pais…
Sendo um dos maiores nomes do rap nacional, sentes a responsabilidade de educar as novas gerações de rappers?
Tento tirar algumas mochilas das costas até porque isso não me faz bem. Houve uma altura em que sentia mais esse peso, hoje já não sinto tanto. Era algo que me fazia mal, sofria com isso. A certa altura percebi que não tinha capacidade para representar nada porque sou muito indisciplinado e irregular, tenho muitas contradições…
Esse papel pode ser um fardo então?
Para a minha maneira de ser, sem dúvida que sim.
O rapper é um contador de histórias, um filósofo, um ativista… Qual é, para ti, o papel do rapper?
Tento, cada vez mais, descrever o rapper como alguém que não deve ser unidimensional. O rapper é um artista. Deve expressar-se da forma que ele quiser. Depois há a cultura hip-hop, que tem as suas fronteiras e balizas. Creio que nesta altura o hip-hop pode ser tudo, menos de extrema-direita. O hip-hop aceita tudo, mas não deve aceitar a extrema-direita.
Com a atual ascensão da extrema-direita um pouco por todo o mundo, essa mensagem é ainda mais urgente?
Creio que sim, até porque há muita gente a ouvir rap que é de extrema-direita e também há rappers de extrema-direita.
Isso não é uma contradição para aquilo que o hip-hop e o rap deviam representar?
Sim, mas há muita gente que entra neste meio porque gosta da estética. Gosta da música, do beat. O rap está tão ramificado, há tantos subgéneros que não é fácil descrevê-lo, é muito difícil.
Como se combate isso?
Não tem de ser um combate ao rap de extrema-direita, mas sim a toda a extrema-direita. Acho que os rappers mais militantes têm de ter esse papel.
Quando escreves sentes-te um poeta?
95% das vezes não, mas creio que já tive momentos de elevação literária, poética. O rapper tem mais dificuldade em chegar à poesia porque está limitado, tem de escrever em compassos musicais. Isso é uma limitação brutal. É muito difícil um rapper comparar-se a um Pablo Neruda ou a um Fernando Pessoa, por exemplo, porque os poetas têm escrita livre. Tudo o que pensam podem transcrever para o papel. Se compararmos com outros estilos musicais, é muito mais fácil dizer as coisas em rap, porque eu posso pôr 12 palavras numa frase. Um cantor pop põe quatro ou cinco. Mas um poeta, se quiser, põe 30. Além disso, no rap temos quase sempre a obrigação de rimar, tem mais limitações, mas creio que há rappers que têm momentos poéticos importantes.

A era digital trouxe uma grande pressão aos artistas?
É uma altura muito violenta, principalmente para os novos artistas. A internet está sobrecarregada, é muito difícil chegar às pessoas. Não sei como estão os números agora, mas o ano passado saíam 80 músicas portuguesas por semana. Ninguém tem capacidade para ouvir 80 músicas por semana. Há coisas boas que estão a passar o lado, as editoras só apostam em artistas que já estão lançados, que têm músicas com bons números e uma base de fãs considerável. As editoras não apostam no talento bruto. Acho que é o momento mais crítico para novos artistas e é o momento mais crítico para a música portuguesa.
Isso compromete a qualidade da música que é lançada?
Completamente. Hoje há poucos grupos/projetos destacados que não sejam música comercial genérica. Antigamente havia bandas de rock importantes com grandes legiões de fãs. Hoje quase não há. Com as bandas de reggae sucede o mesmo: não há bandas de reggae a conseguir impactar como os Kussondulola nos anos 90, por exemplo. Praticamente temos música pop genérica, mas os artistas não conseguem fazer carreira. Creio que a música nunca sofreu tanto como agora e acho que a tendência é piorar. Hoje em dia, as pessoas têm uma relação muito frívola com a música. A música é descartável. A quantidade é tanta que as pessoas não se apaixonam por nada. No entanto, creio que ainda há espaço para a excelência.
Tens vindo a adiar sucessivamente o lançamento do terceiro disco. Algum motivo para isso?
A certa altura achei que não tinha capacidade. Fiz dois discos bonitos. Era um miúdo que gostava de fazer rap e que fazia tudo muito na base do improviso e da espontaneidade, o que tem a sua beleza. Na ingenuidade também se descobrem coisas bonitas. Há coisas que fazemos mal, mas que acabam por funcionar. Os meus discos têm isso. Há coisas que estão todas tortas, mas como ninguém tinha ouvido nada feito daquela forma, acabou por funcionar e por ser original (embora estivesse mal feito). Se fosse hoje faria muita coisa de forma diferente, mas percebo a beleza dos discos e a importância que tiveram na história do hip-hop, que era muito virgem na altura. Com o tempo, fui percebendo que não tinha capacidade para cuidar da parte musical. Precisava de estudar, de encontrar as pessoas certas, de aprender com elas. A esse nível acabei por ter professores muito importantes e hoje já me sinto capacitado para fazer peças musicais com competência.
Isso significa que o terceiro disco vai mesmo sair?
Vai acontecer, sim. Também tive de me preparar financeiramente, o que levou algum tempo, e nesta altura sinto que já tenho reunidas as condições para avançar. Já me sinto um músico. Entretanto vou começar a lançar músicas, vai ser um ano de muita produção. Para além de me sentir preparado, sinto também que tenho tudo o que preciso. Tenho um engenheiro de som de grande qualidade, masterizo com pessoas que são das melhores do mundo no seu ofício, tenho o Dino d’Santiago que me ajuda a produzir as canções, tenho amigos que são dos melhores músicos do país: Slow J, Sam the Kid… se alguma coisa falhar a culpa é minha, porque tenho as ferramentas todas que preciso [risos].
Este ano celebras 20 anos de carreira. Que importância tem este marco para ti?
É um grande marco. O maior orgulho que tenho tem a ver com o facto de nunca ter havido cedências da minha parte. Toda a minha vida ouvi coisas do género: “tens de fazer música comercial” e nunca cedi a essas pressões. Esta é, para mim, a parte mais bela destes 20 anos. Nunca fiz cedências, passei por dificuldades de todo o tipo, mas a parte mais bonita é esta: sinto-me um herói porque resisti a muita coisa e ainda aqui estou. Houve muitos que cederam e que entretanto desapareceram.
Dia 3 de fevereiro há um concerto de celebração no Coliseu dos Recreios. Vai ser uma grande festa?
Vai ser muito bonito. Há coisas que não posso revelar já, mas não quero que seja só um espetáculo musical. A cultura hip-hop deu a conhecer ao país alguns dos melhores artistas plásticos, pessoal do graffiti, alguns dos melhores DJs e eu queria dar esse carácter multidimensional ao concerto, trazendo essas artes todas para cima do palco. Gostava de fazer isso sem parecer pretensioso: com humildade mas com bom gosto. Não tenho o orçamento da Beyoncé [risos], mas dentro das limitações orçamentais vou tentar fazer uma coisa bonita.
A Noite de Reis, peça escrita por Shakespeare em 1601, supostamente para ser um entretenimento representado noite de Epifania (no original, Twelfth Night como menção à “décima segunda noite”, ou seja, aquela que encerra o ciclo festivo do Natal, a 6 de janeiro) chamou Jorge de Sena “comédia de enganos e travestis”.
Senão, atentemos à intriga principal (porque de outros enganos, está a peça cheia): um naufrágio deixa Violeta à deriva nas costas do imaginário reino de Ilíria, governado pelo duque de Orsino. Disfarçando-se de homem, Violeta torna-se Cesário, e encontra trabalho enquanto pajem de Orsino. Por ele, intercede junto de Olívia com propósitos matrimoniais, mas a donzela acaba por apaixonar-se por Violeta/Cesário e não por Orsino, como suposto. Para instalar a “tempestade amorosa”, Violeta cai de amores por Orsino; mas, como ser correspondida se o duque a julga Cesário?

Desafiado por Diogo Infante, diretor do Teatro da Trindade INATEL, Ricardo Neves-Neves volta ao repertório clássico, após ter dirigido recentemente a ópera Cortes de Júpiter de Gil Vicente, no Centro Cultural de Belém. “Este é um clássico perfeitamente ajustado ao trabalho que tenho vindo a desenvolver, já que se trata não só de uma comédia, como de um texto que tem muito presente a relação com a música”, sublinha o encenador, enfatizando mesmo que existe na peça “um pensamento sobre a música e a sua relação com as cenas e as personagens.”
Para além disso, Neves-Neves encontra neste Shakespeare o território perfeito para explorar os traços mais fulgurantes do seu próprio teatro, nomeadamente a relação entre a cultura popular e clássica ou o absurdo e o non sense. Exemplo disso surge, a exemplo, nos contrastes feitos entre “um figurino de época e uma maquilhagem à anos 80”, ou na interpretação e adaptação à ação de temas da música pop, como I Will Survive de Gloria Gaynor ou Eternal Flame das Bangles, que surgem inesperadamente entre peças “de influência italiana” que remetem para a identidade siciliana da imaginária Ilíria shakespeariana, com Nino Rota a evidenciar-se.

Para esta apropriação criativa e surpreendente que Neves-Neves faz do texto original, muito terá contribuído o recurso às traduções para português de Noite de Reis feitas por António M. Feijó, Beatriz Viégas-Faria (em português do Brasil) e Henrique Braga. “Não me quis limitar apenas a uma, porque as traduções são para mim material de estudo. Através delas percebe-se o que cada tradutor procura imprimir ao texto e, aqui particularmente, à comédia”, explica. “Eu próprio traduzi algumas partes, e tudo isso foi primordial para o processo criativo.”

Mas a Noite de Reis de Neves-Neves e Shakespeare traz consigo “uma provocação”: todos os papéis são entregues a um elenco inteiramente masculino, tal como se fazia no teatro isabelino “que considerava o palco lugar de pecado, impuro para as mulheres, seres geradores de vida”. A opção talvez possa ser vista como controversa nos dias que correm, mas Neves-Neves lembra que ela surgiu em contraponto ao trabalho que anteriormente fizera em Banda Sonora, espetáculo onde “o elenco e todas as personagens eram femininas.”
Ao mesmo tempo, a principal das três personagens femininas da peça (Violeta) debate-se com a questão de género para sobreviver no reino de Ilíria, fazendo-se passar por homem, sem que imaginasse poder vir a conquistar o coração de uma mulher. Ora, este “engano”, como refere o encenador, é uma demonstração de que “o amor, a paixão ou a atração sexual não correspondem necessariamente ao género, mas àquilo que somos. É uma temática que permanece atual, mais de 400 anos depois, esta de abordar questões de mulheres que sentem atração por mulheres e homens por homens, para lá de todos os códigos e convenções”. No fundo, nesta comédia, todos os enganos de amor são os equívocos que tudo revelam e devem continuar a ser alvo de reflexão e discussão.
Noite de Reis estreia a 26 de janeiro na Sala Carmen Dolores do Teatro da Trindade. O espetáculo conta com interpretações de Adriano Luz, António Ignês, Cristóvão Campos, Dennis Correia, Filipe Vargas, João Tempera, José Leite, Luís Aleluia, Manuel Marques, Marco Delgado, Rafael Gomes, Renato Godinho e Ruben Madureira, e do ensemble composto por Ana Cláudia Santos (flauta), Eliana Lima (trompa e acordeão), Filipa Portela (soprano e alaúde), Helena Silva (violino), Isabel Cruz Fernandes/Beatriz Ventura (soprano), Juliana Campos (fagote e canto), Madalena Rato (percussão), Rita Nunes/Nádia Anjos (saxofone), Sofia Gomes/Teresa Soares (violoncelo), Rita Carolina Silva (mezzo), dirigido pela compositora e teclista de origem kosovar Mrika Sefa.
Para além do ensemble de músicas, e longe de estarmos perante um clube de homens, é também no feminino que se conjugam o cenário de Ana Paula Rocha, os figurinos de Rafaela Mapril e a luz de Cristina Piedade.
Nascido em Lisboa, em 1922, no seio de uma família da alta burguesia, Nuno Teotónio Pereira foi um arquiteto visionário para a sua época, revelando desde muito cedo o desejo de se libertar do meio conservador em que crescera e de transformar o mundo que o rodeava – aos 16 anos é admitido na Escola de Belas-Artes de Lisboa, no curso de Arquitetura, e aos 20 deixa de assinar Theotónio com “h”, rompendo assim a tradição familiar.
Católico progressista, Teotónio Pereira foi um dos cofundadores e dirigentes do MRAR – Movimento de Renovação da Arte Religiosa. Um grupo, composto sobretudo por arquitetos e artistas plásticos, que pretendia promover a modernidade e uma maior qualidade plástica na arte e edifícios religiosos em Portugal, em oposição aos modelos tradicionalistas promovidos pelo Estado Novo.

Homem de paz, Teotónio Pereira foi um dos mentores da Vigília da Capela do Rato, um protesto contra a Guerra Colonial levado a cabo na noite de 31 de dezembro de 1972 para 1 de janeiro de 73, que abalou a ditadura do Estado Novo.
Do Bloco das Águas Livres ao Franjinhas
e à nova conceção de templo religioso
Obra ímpar da arquitetura moderna portuguesa, classificada como Monumento de Interesse Público desde 2012, o Bloco das Águas Livres, situado na Praça das Águas Livres e Rua Gorgel do Amaral, surgiu da vontade da Companhia de Seguros Fidelidade querer apostar num edifício de qualidade para um público de “alto standard”. Projetado em conjunto com Bartolomeu da Costa Cabral, e inspirado nas ideias de Le Corbusier, os arquitetos decidiram fazer uma unidade de habitação em altura, cuja construção decorreu entre 1953 e 1957.
Uma arquitetura moderna, de linhas simples e depuradas, em que a escultura, a pintura e a própria arquitetura cooperam para um mesmo fim. Com oito pisos de habitação e quatro ateliês no topo, possui ainda um andar preenchido por escritórios. A união da sala de estar com a sala de jantar, à qual acrescentaram uma varanda com uma vista soberba sobre a cidade, a existência de uma lavandaria (entretanto caída em desuso), de uma sala de condomínio/convívio e condutas de lixo, foram algumas das inovações presentes.

Para compensar o despojamento do Movimento Moderno, e a diversidade de materiais como a pedra, o betão, a cortiça e o ferro, entre outros, os arquitetos acrescentam à construção do Bloco de Águas Livres obras de arte de cinco artistas: dois painéis de mosaico vidrado de Almada Negreiros, um vitral de Manuel Cargaleiro, um painel de Frederico George, baixos-relevos de Jorge Vieira e um painel de betão esgrafitado de José Escada.

Construído entre 1966 e 1969, o edifício Franjinhas é outra das obras emblemáticas de Teotónio Pereira, tendo sido projetada com João Braula Reis. Prémio Valmor em 1971, o edifício situa-se entre a Rua Braamcamp e a Rua Castilho, chamando a atenção pela extravagância da fachada recortada, pela rudimentaridade do acabamento e pela forma como o piso térreo se relaciona com o exterior. Também aqui se encontram algumas obras de arte para compensar a fealdade dos materiais à vista, nomeadamente um mural de Eduardo Nery.

Construída na década de 60 do século XX, em substituição de outra com a mesma invocação, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus faz parte de um complexo paroquial que apresenta, para além dos espaços dedicados ao culto, uma secretaria, umas cafetaria, capelas mortuárias, um auditório e ainda outros espaços para atividades socioculturais, ou não fossem estas algumas das características dos trabalhos do arquiteto lisboeta, que neste caso partilhou o projeto com Nuno Portas.
Também distinguida com Prémio Valmor (1975), esta obra destaca-se não só pelo uso exclusivo de materiais nacionais como pelo cuidado que houve em relação aos espaços de circulação, nomeadamente, no exterior, com a ligação entre a Rua Camilo Castelo Branco e a Rua de Santa Marta.

Organizada por pisos, em representação das várias fases da vida humana, a igreja apresenta uma ampla nave trapezoidal de altura considerável; por baixo desta, a cripta, onde podemos apreciar uma imagem de São Miguel Arcanjo, atribuída ao escultor Machado de Castro, e o cartório; e, na base, o salão paroquial e a capela mortuária. A igreja possui ainda um belo órgão, atualmente a necessitar de manutenção.

Nuno Teotónio Pereira deixou-nos ainda a Torre dos Olivais, o Quarteirão Rosa no Restelo, a Igreja de Nossa Sr.ª da Assunção em Almada, ou a renovada estação de metro e fluvial do Cais do Sodré, entre tantas outras obras.
Paralelamente à arquitetura, durante a ditadura foi por diversas vezes detido por criticar publicamente as políticas do Estado Novo, sendo um dos cofundadores do MES – Movimento de Esquerda Socialista. Juntamente com a sua segunda mulher, Irene Buarque de Gusmão, fez um importante levantamento sobre os “Pátios e Vilas de Lisboa”. Faleceu em 2016, deixando um conjunto de obras marcantes por toda a cidade.
Incluído no programa municipal Itinerários de Lisboa, promovido pela Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Teotónio Pereira – um arquiteto de Lisboa tem agendado próximas datas a 2 e 24 de fevereiro, 31 de março, 20 de abril, 5 de maio, 15 de junho e 7 de julho. Outras informações e inscrições podem ser feitas através do email itinerarios.culturais@cm-lisboa.pt.
O último disco, Uma Palavra Começada por N, saiu há dois anos. O que significa este título?
Se Noiserv não começasse por ‘N’, eventualmente o título não seria este. O que mais gosto é o facto de poderem ser várias coisas. Cria, em que lê, uma certa criatividade, pode ser qualquer palavra começada por ‘N’. Muita gente se pergunta a que palavra me estou a referir, e todo esse jogo dá alguma dimensão ao disco e transmite a ideia de que tudo é um bocadinho mais de quem ouve. Parece que o título não se fechou naquilo que fiz, fica aberto à criatividade de cada um.
Este disco foi sendo revelado aos poucos, como vários capítulos de uma história. A ideia era que as pessoas o fossem saboreando devagar?
Quando se lança um disco há muito a tendência para escolher dois ou três singles, que serão passados pelas rádios. Há muitos discos dos quais as pessoas apenas conhecem duas ou três músicas, o resto só conhece quem o ouvir a fundo e isso normalmente é um número muito reduzido de pessoas. Achei que era interessante dar a cada música o mesmo tempo para ser ouvida. A isto juntou-se o conceito de criar um vídeo para cada música. Foi uma ideia em cima de outra que acabou por resultar nesses vídeos todos, que saíam um por mês. Vivemos numa altura em que, no dia a seguir a um disco sair, parece que já é antigo. Assim, cada música seria antiga de cada vez, mas com um bocadinho mais de tempo.
Perdemos o ritual de desfrutar de um disco em toda a sua plenitude, das canções ao livrinho com as letras?
Esta era digital tem grandes vantagens: há muitos mais artistas a chegar às pessoas, o que é bom. Antigamente havia uma ditadura das grandes editoras, só chegava ao público quem tinha uma estrutura fortíssima, não só para gravar o disco, mas também para o divulgar. É bom que já não seja assim, mas por outro lado perdeu-se esse hábito. Quando saía um disco de uma banda que eu gostava, ficava duas ou três semanas a ouvi-lo intensamente, nem sabia quais eram os singles. O primeiro disco dos Pearl Jam, por exemplo, conheço as músicas todas da mesma maneira, porque ouvia o disco inteiro centenas de vezes. Isso mudou.
No trabalho anterior, 00:00:00:00, já havia algumas canções com uma ou outra frase em português, mas eram sobretudo músicas instrumentais. Este disco é cantado integralmente em português. Porquê essa mudança?
Gosto de fazer coisas diferentes, assusta-me quando sinto que estou a fazer a mesma coisa. A cada disco que faço, gosto de explorar instrumentos e sonoridades novas. Esta questão da língua foi também por isso. Na altura em que lancei o Almost Visible Orchestra (A.V.O.), em 2013, comecei a trabalhar em ideias novas, mas achei que estava muito no mesmo sítio. Pensei em formas de contrariar isto para não fazer um disco igual e a ideia de fugir às diversas camadas e dedicar-me mais ao piano, que é um instrumento de que gosto muito e que nem sempre tem muito espaço nos meus discos, foi o que me deu alguma leveza. Depois de fazer essa experiência no 00:00:00:00 (2016), no disco seguinte (Uma Palavra Começada por N) quis voltar à complexidade das várias camadas, mas cantando integralmente em português. Quis aceitar o desafio de fazer um disco em português só para experimentar, até porque a métrica das palavras em português é realmente diferente. O desafio foi esse: um disco com várias camadas e cantado em português.

Gostas mais de te ouvir cantar em que língua?
Gosto de cantar nas duas línguas. Talvez em português possa parecer que estou a falar mais diretamente para as pessoas. Sei o que estou a dizer quando canto em inglês, mas em português é como se as palavras tivessem uma carga maior, é tudo mais direto, parece que estou a falar diretamente para as pessoas. Cantando em inglês não sinto exatamente a mesma coisa. Também pode ser porque as letras deste disco são mais densas do que as do disco de 2013. Num disco inteiro em português as pessoas ficam mais atentas às palavras. Tenho mais dúvidas na escolha das palavras quando escrevo em português.
As letras falam sobre os teus dilemas e pensamentos de forma quase filosófica. Consideras-te uma pessoa introspetiva?
Penso muito sobre determinados assuntos e as letras refletem isso. Cantar sobre o amor – falhado ou bem-sucedido – é algo que já foi tão bem feito por outros que isso sempre me disse muito pouco. Faz-me mais sentido cantar sobre questões como: o que é que andamos cá a fazer; porque é que agimos de determinada maneira; os nossos medos e inquietações – isso é o que me faz sentido cantar. Quando estou a escrever estou a conversar comigo, as minhas letras nunca são sobre coisas hipotéticas que me podem ter acontecido. São sentimentos – bons ou maus – que estou a ter naquela altura.
O ano passado editaste o teu primeiro livro, três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo. Era um desejo antigo?
Desde que iniciei a minha vida artística que gosto de tudo o que puxe pela minha imaginação ou que seja um desafio. Fazer um disco, um livro ou um filme são tudo momentos em que a tua criatividade, imaginação e perfecionismo ganham um destaque maior. Dá-me muito gozo fazer uma coisa que nunca fiz, dedicar-me de forma muito intensa a descobrir como é que a posso executar. O livro iria, inevitavelmente, acabar por acontecer. A base para esta ideia começou há uns seis anos, quando uma amiga me pediu para fazer um conto para uma compilação de contos. Quando surgiu este desafio comecei a experimentar e isso deu-me um prazer grande. Na altura, fiz uma versão resumida ou muito pouco explorada deste livro. Comecei a escrever uma história que eu próprio não sabia para onde é que ia, fui descobrindo à medida que ia escrevendo. Fiquei sempre com a ideia de que eu próprio não tinha percebido a história toda, ou que não a tinha terminado. Pensei que dava para desenvolver mais e que, fora da compilação de contos, ia conseguir explorar melhor não só a própria mensagem, mas também o grafismo do livro. Aos poucos, peguei nas pontas soltas e durante dois anos dediquei-me a isso. Quando percebi que a história estava fechada, transferi tudo para o papel e transformei-a isto num livro. O que eu queria fazer era uma edição muito cara, mas tudo isto coincidiu com a pandemia, quando surgiram apoios para os profissionais da cultura. Consegui submeter o apoio para a edição do livro e deu-se uma sucessão de situações que fizeram com que o livro saísse nesta altura. Porque é que a história é esta? Não sei, porque é uma coisa em que penso com frequência: a maneira como olhamos para os outros, o que somos e não somos, e isso está tudo nesta história. Ao contrário de uma letra de uma música, em que as coisas ficam muito no ar, no livro dá para explorar muito mais a história. O livro pode ter uma narrativa muito concreta, mas é possível ir a uma dinâmica mais metafórica onde, se as pessoas se conseguirem desligar do lado concreto da história, percebem que há várias leituras possíveis. Foi um gozo muito grande perceber que podia haver ali três ou quatro histórias diferentes.
Em janeiro atuas no Teatro Taborda em seis datas. Vão ser seis concertos diferentes?
A minha ideia, até porque há pessoas que compraram bilhete para mais do que uma data, é que os concertos não sejam iguais. Gostava de fazer experiências novas, de começar com uma música que não toco há muito tempo e pegar em músicas que têm ficado de fora dos concertos mais recentes. Acredito que não haverá um conceito ligado a cada data. Esta temporada tem dois pontos principais: que a minha música fique ali instalada, a pairar durante todos aqueles dias (para contrariar a rotina normal de chegar, montar, tocar, desmontar e sair) e atuar numa sala acolhedora e bonita.
As tuas atuações são sempre criativas. O que preparaste para esta temporada?
Nos concertos de apresentação do disco novo toco dentro de um cubo, há um jogo de câmaras e isso vai-se manter. Tenho tocado em salas bastantes grandes, mas aqui as pessoas vão ter oportunidade de ver tudo isso mais de perto. A sala leva cerca de 120 pessoas por noite, mas é tão acolhedora e pequenina que a plateia está praticamente encostada a mim. Estou muito próximo das pessoas da 1ª fila, há uma unidade maior em tudo o que está a acontecer.
Para quando o novo disco?
Num canto da minha cabeça está sempre essa preocupação. Felizmente tenho feito muitos projetos na área do teatro, por isso ainda não tive tempo para começar a trabalhar no novo disco. Tendo noção do tempo que demoro a fazer as coisas, para o ano não será seguramente, talvez em 2024. As coisas demoram muito tempo a fazer, mas prefiro que assim seja. Pior do que me sentir intimidado por estar a tocar demasiado perto do público, é lançar um projeto em que não estou 100% confiante. É preciso chegar a esse lugar de satisfação total com as músicas para depois as poder mostrar, e isso demora tempo.
Mais de uma década depois de O Príncipe de Homburgo, a tradutora Luísa Costa Gomes e o encenador António Pires voltam ao teatro de Heinrich von Kleist para levar a cena aquela que, por exigências de encenação, é tida como uma das mais complexas peças do autor germânico – Goethe chegou mesmo a considerá-la irrepresentável.
Independentemente daquilo que Costa Gomes aponta como “a crueza do tratamento do tema épico e as suas particularidades técnicas”, sublinhadas sobretudo pela época em que Kleist a escreveu (entre 1806 e 1807, durante a ocupação napoleónica da Prússia), Pentesileia é “uma peça muito longa”, pejada de monólogos, “alguns dos quais que se estendem por dez páginas”, e particularmente rica “em descrições que se parecem eternizar.”
Contudo, estamos a falar de uma peça de arrasadora beleza poética que, para ser viável levar para o palco, exigiu a António Pires, já em contexto de ensaios, uma minuciosa depuração do texto, mesmo que tal signifique “correr o risco de passar por cima de coisas muito importantes”. Como observa Costa Gomes, “do ponto de vista literário é um texto muito rico e, como poucos, tem muitas verdades juntas, algo que não estamos habituados a digerir quando vamos ao teatro.” No fim de contas, “as verdades são para se dizer, mas uma de cada vez”, conclui com ironia.

São essas “verdades” que levam Costa Gomes a gostar tanto de Kleist, ou não fosse o autor “um natural intriguista”. As intrigas urdidas por ele são “sempre surpreendentes e inesperadas, tal qual a realidade”, mesmo que uma peça como Pentesileia oscile entre o sonho que se intromete no real, e vice-versa. Afinal, para o autor “nós não controlamos coisa nenhuma e tudo acontece como alucinação, como visão.” Não será surpreendente, portanto, que a tradutora veja Pentesileia como “um tratado de psicanálise, pejado de intuições em que Freud irá pegar muitos anos depois.”
Ambientada durante a guerra de Troia, em Pentesileia, Kleist oferece uma versão alternativa da morte de Aquiles, recorrendo à estrutura da tragédia clássica, mas sem nunca deixar de a considerar “uma comédia” com “heróis, cães e mulheres.”
Pentesileia, rainha das Amazonas, alia-se a Troia, conduzindo as suas guerreiras a lutar contra os gregos. No campo de batalha, as amazonas sofrem uma pesada derrota e Pentesileia acaba prisioneira de Aquiles. Mas, os misteriosos caminhos do amor acabam por levar Pentesileia e Aquiles a apaixonarem-se e, no fervor das promessas da paixão, o herói dos gregos oferece uma escapatória à cativa. Porém, a tragédia anuncia-se, e uma morte violenta e cruel despoletada pela amada espera Aquiles, que acaba literalmente devorado por amor.

Esta “peça única e extraordinária”, como a define António Pires, é por fim levada a cena em Portugal, embora em 2012, por ocasião de Guimarães Capital Europeia da Cultura, Martim Pedroso tenha partido da obra de Kleist, traduzida por Rafael Gomes Filipe, para criar Penthesilia – dança solitária para uma heroína apaixonada.
Com uma nova tradução, “completamente pensada para ser encenada”, a dita “irrepresentável” peça de Kleist sobe ao palco do Teatro do Bairro, entre 11 de janeiro e 5 de fevereiro. As interpretações estão a cargo de Rita Durão e Francisco Vista nos papéis principais, secundados por Alexandra Sargento, Carolina Serrão, Graciano Dias, Iris Tuna, Jaime Baeta, João Barbosa, Tiago Negrão e Vera Moura.
Segundo a Wikipedia, em agosto de 2022 existiam mais de 2.850.000 de podcasts disponíveis na web, com mais 135 milhões de episódios. O crescente interesse por esta forma de comunicação compreende-se de várias maneiras. Os seus criadores referem, sobretudo, a liberdade na composição e formato, a possibilidade de registo de arquivo e o facto de que, quem os consome, poder gerir tranquilamente o momento e a disponibilidade de o fazer, seja no trânsito a caminho do trabalho ou enquanto executa uma qualquer atividade física.
É claro que os meios institucionais também os utilizam como forma de prolongar e diversificar a vida dos seus conteúdos, mas muitos profissionais ou entusiastas da comunicação encontram neste meio a possibilidade de conexão com públicos sem os constrangimentos das organizações ou empresas institucionais e de um modo financeiramente mais vantajoso.
Em Portugal, o crescimento deste meio pode ser aferido pela existência do Festival PODES, dedicado aos podcasts, que teve a sua primeira edição em 2019. A redação da Agenda Cultural de Lisboa selecionou um conjunto de podcasts culturais nacionais que ilustram esta realidade.

VHS, de Daniel Louro e Paulo Fajardo
Começaram em outubro de 2012, pelo que cumpriram recentemente o 10.º aniversário. Daniel é videógrafo e Paulo é repórter de imagem. Conheceram-se na universidade, quando perceberam que partilhavam o mesmo interesse pelo cinema: “tínhamos o hábito de pesquisar e ver filmes maus, os piores possíveis, e conversar sobre eles.”
A decisão de gravar e publicar estas conversas informais foi uma consequência natural, uma decisão algo pioneira numa altura em que havia sobretudo blogs de cinema. Posteriormente, variaram o conteúdo para incluir conversas com convidados do meio: atores, produtores e outros, nacionais e estrangeiros, procurando relatar histórias que fogem aos meios de comunicação tradicionais.
Cada episódio tem um filme como tema genérico ou ponto de partida: “somos muito nostálgicos, procuramos falar dos filmes que mais nos marcaram”. Não têm a preocupação da atualidade, mas quando se trata de um remake ou da sequela de um filme que lhes interessa particularmente, falam de filmes em cartaz. Um exemplo recente é Avatar, tema do último episódio publicado. Não têm uma periodicidade fixa mas em breve atingirão os 300 episódios.

Teatra, de Mariana Oliveira
O nome Teatra não foi uma ideia de Mariana Oliveira, a jornalista e radialista cultural na Antena 3, que o realiza e que lhe dá voz. No Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) houve uma discussão de ideias e esta designação foi a escolhida: “Eu desconhecia a palavra, mas segundo me explicaram é um depreciativo usado por gente do meio para falar dele próprio. Não há consensos. Achámos piada à sua polissemia, aos vários sentidos que pode ter.”
Os episódios começaram por ser mensais, em 2019, mas depressa evoluíram para o formato quinzenal, às terças feiras. Não têm, necessariamente, ligação à programação do TNDM II, embora os temas ou entrevistados possam coincidir com algo que esteja ou venha a estar em cena. São conversas com pessoas ligadas ao Teatro, de várias maneiras, como uma família alargada. Por exemplo, o mais recente episódio que gravou foi com Cristina Vidal, a última representante da profissão de ponto no teatro em Portugal. Há também muitos atores e encenadores que participam, mas procura focar todas as profissões do teatro.
Não vê grande diferença entre fazer rádio e podcasts até porque os seus programas de rádio também são disponibilizados neste formato. “Poderia dizer que o podcast é rádio que não foi para o FM, a diferença é que não é em direto. O método e a tecnologia que uso são os mesmos.”

O Poema Ensina a Cair, de Raquel Marinho
Em 2014, a jornalista Raquel Marinho deu início a uma rubrica no Expresso digital com o mesmo nome do podcast, onde entrevistou mais de 40 poetas. O nome sui generis é oriundo de um poema de Luísa Neto Jorge de particular apreço para Raquel. Mantém hábitos de leitura muito regulares, ávida consumidora de poesia. Em 2019 retomou a rubrica no Expresso apenas por alguns meses. O salto para o podcast deu-se em 2020, inicialmente por convite de Daniel Oliveira. Partilhava a plataforma do podcast dele, Perguntar não Ofende, promovendo-se mutuamente. Hoje faz tudo sozinha, solução que lhe agrada.
Tal como muitos podcasters, não tem apoios para esta atividade, que continua a ser paralela ao seu trabalho principal, atualmente responsável pela comunicação da Casa da América Latina. O podcast mantém uma periodicidade quinzenal e tem ainda um programa de leitura de poesia na Antena 2, Antes da Mesma Página, um nome também retirado de um poema de autor que aprecia especialmente, Daniel Faria.
Faz também vídeos de leitura de poesia que publica no seu Facebook. Para O Poema Ensina a Cair, escolhe convidados de áreas muito diversas e pede-lhes que selecionem os dez poemas da sua vida, como ponto de partida: “porque falarmos de poesia é uma maneira de falar da vida deles.”

Ponto Final, Parágrafo, de Magda Cruz
O primeiro episódio do podcast de Magda Cruz foi para o ar no dia em que se cumpriam 20 anos do anúncio do Prémio Nobel da Literatura de José Saramago, em novembro de 2018. Foi uma escolha propositada, que coincidiu com o lançamento do livro Um País Levantado em Alegria, de Ricardo Viel.
Na base do seu projeto estão as entrevistas literárias com autores, principalmente, mas também com o que chama de ‘amantes de livros.’ A cada entrevistado pede três sugestões de leitura, como ponto de partida para uma conversa alargada. Começou na rádio da Escola Superior de Comunicação Social e passou a podcast um ano depois. Hoje, continua a gravar num estúdio de rádio e já leva na bagagem cerca de 60 episódios em cinco temporadas.
Sobre o universo dos podcasts, atrai-a o facto de se tratar de uma comunidade e de um público que tem maior interação e de uma forma mais descontraída. Atualmente, é jornalista na Rádio Observador e, no dia em que falámos, tinha entrevistado o distinguido com o Prémio Pessoa 2022, João Luís Barreto Guimarães. Refere ainda, orgulhosamente, que no festival português de podcasts (PODES), o Ponto Final, Parágrafo foi nomeado em três categorias.
Frente de Sala, de Ricardo Saleiro, Susana Araújo e Fernando Figueiredo
Fechamos com a prata da casa. O Frente de Sala arrancou em abril de 2021, como magazine de complemento à informação prestada pela Agenda Cultural de Lisboa e o site Agendalx.
Até à data, o podcast conta com 23 episódios e, segundo Ricardo Saleiro, “partimos quase sempre do que está a acontecer, procurando dar voz a quem faz cultura na cidade, nas várias formas de expressão artística. Por vezes damos a conhecer espaços emblemáticos da cidade, numa espécie de visita guiada em que procuramos também mostrar os bastidores, como fizemos recentemente com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.”
Os episódios têm cerca de 15 minutos, num registo dinâmico e vivo, com cuidado especial no tratamento do som, procurando aproximar as pessoas da cultura e dar a conhecer a vida da cidade. A periodicidade é quinzenal e os três responsáveis são técnicos da Câmara Municipal de Lisboa de diferentes áreas de comunicação cultural. Susana Araújo é a voz, Fernando Figueiredo é o sonoplasta e Ricardo Saleiro faz pesquisa, reportagem e edição.
O objetivo do concurso é escolher a composição (música e letra) que, através dos seus atributos literários e musicais, trace um retrato da cidade. Além de “Lisboa”, tema obrigatório, este ano a letra da composição deve igualmente inspirar-se no Parque Mayer – espaço icónico, nascido em 1922, e durante décadas o mais importante centro de diversão e de cultura da cidade, tendo completado cem anos em 2022.
A composição vencedora será apresentada e interpretada por todos os participantes das Marchas Populares de Lisboa, no âmbito das Festas de Lisboa no desfile da Avenida da Liberdade, na noite de Santo António, assim como nas exibições prévias.
Aberto a todos, individual ou coletivamente, residentes em Portugal e maiores de idade, este concurso é já uma tradição com mais de duas décadas, distinguindo anualmente a originalidade literária e musical dos autores da composição vencedora com um prémio no valor de cinco mil e quinhentos euros.
A Grande Marcha de Lisboa 2023 será selecionada por um júri composto por três personalidades (a anunciar em breve) da área cultural que farão, respetivamente, a apreciação da música, da letra e da generalidade da composição.
As propostas deverão ser enviadas por correio registado com aviso de receção, para a sede da EGEAC, até ao próximo dia 22 de fevereiro.
Regulamento disponível aqui.
paginations here
