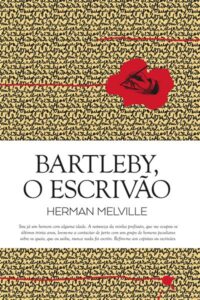Irene Flunser Pimentel
Informadores da Pide
Entre 1926 e 1974, e mais concretamente a partir de 1933, milhares de denunciantes colaboraram com a PIDE/DGS prejudicando e destruindo a vida de muitos dos seus concidadãos. Motivados pela inveja, concorrência, rivalidade ou vingança, pela frustração provocada por um regime sem mobilidade social, profundamente hierarquizado e elitista, faziam-no para receber benefícios, defender o interesse próprio e por aspirarem à partilha do poder ditatorial. O recrutador e utilizador da delação foi o próprio Estado Novo. Todas as instituições do regime levaram a cabo esse recrutamento e incentivaram o comportamento da denúncia como se de um dever se tratasse. Este livro notável estuda em pormenor este fenómeno, verdadeira tragédia portuguesa, mostrando que houve informadores em toda a sociedade portuguesa e se encontravam infiltrados em todos os domínios da vida pública e até privada. Por fim, levanta uma questão inquietante: será que o prejuízo de décadas de convivência dos portugueses com o medo, a traição e a suspeita terminaram com o 25 de Abril de 1974 ou se mantém no seu comportamento em democracia? Temas e Debates/Círculo de Leitores

Abdulrazak Gurnah
Paraíso
A Academia Sueca considerou Abdulrazak Gurnah, nascido em Zanzibar em 1948, “um dos autores pós-coloniais mais proeminentes do mundo” e atribuiu-lhe o Prémio Nobel de Literatura em 2021. A editora Cavalo de Ferro pretende publicar quatro dos seus principais romances até ao final do corrente ano, estando dois já disponíveis: Vidas Seguintes e Paraíso. Em Vidas Seguintes, o mais recente dos seus romances, o jovem Ilyas junta-se como voluntário à Schutztruppe, a feroz tropa de proteção da África Oriental Alemã na luta contra os britânicos, na guerra que estala em Tanga, em 1914. Mais tarde, na Alemanha, apoia o partido Nacional-Socialista, mas incapaz de escapar às leis raciais nazis, morre num campo de concentração. O livro denuncia a perversidade do sistema colonial que mobiliza partidários que lutam por uma causa que, em última análise, se destina a dominá-los e a destruí-los. Paraíso, o romance que projetou o autor em 1994, é dedicado a outro jovem deslocado, Yusuf, entregue pelo pai, aos 12 anos, a um rico comerciante como forma de saldar uma dívida. Com ele empreende uma longa e perigosa expedição comercial aos confins da selva hostil, descida vertiginosa aos domínios do terror onde “todas as fraquezas do homem vêm ao de cima”. Obras que revelam um consumado contador de histórias que une a tradição narrativa do seu mundo – a África Oriental – à do seu país de adoção (Gurnah vive no Reino Unido desde 1960). Cavalo de Ferro

Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa
Novas Cartas Portuguesas
Novas Cartas Portuguesas, escritas a seis mãos por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, foram publicadas em Abril de 1972. A primeira edição foi recolhida e destruída pela censura de Marcelo Caetano e instaurado um processo às autoras (o processo das “três Marias”, como ficaria conhecido) devido ao conteúdo “insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública” patente na obra. Partindo das célebres cartas seiscentistas da freira portuguesa Mariana Alcoforado, a obra constituiu um libelo contra a ideologia vigente na ditadura fascista, denunciando a guerra colonial, a emigração, a violência, o sistema judicial, a situação das mulheres, a pobreza. Cruzando contos, poemas, relatórios, textos narrativos, ensaios e citações, recorrendo à figura matricial de Mariana Alcoforado, o livro pretende, nas palavras de Ana Luís Amaral, organizadora da presente edição, “desmontar e re-montar o estereótipo da mulher abandonada, suplicante e submissa que dela emergia, estilhaçando fronteiras e limites, quer das temáticas quer da própria linguagem”. Edição anotada, comemorativa dos 50 anos de uma obra fundamental da cultura e da literatura do século XX. Dom Quixote
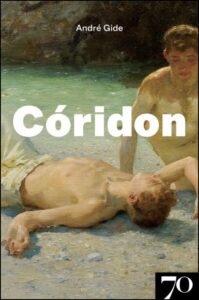
André Gide
Córidon
“A obra consiste num ensaio dialogado, em moldes socráticos, em que se defende a homossexualidade dos pontos de vista biológico, histórico-cultural e sociológico, sem descurar as suas implicações morais no contexto maioritariamente cristão e patriarcal que é o da Europa no início do século XX.” A introdução à presente edição de Córidon foi escrita por Ricardo Mangerona, também responsável pela cuidada tradução, recheada de notas que explicam certas passagens ou referências que dão prova da vasta cultura de Gide: autor de uma obra multifacetada, entre o romance, a poesia, a dramaturgia, o ensaio e a escrita diarística, que fazem dele um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea. A primeira divulgação de Córidon data de 1911 (uma dúzia de exemplares distribuídos pelos amigos). Mal recebido no círculo íntimo do escritor, a obra ficou a maturar mais de uma década, até que em 1924 sai a edição considerada revista e definitiva. Entretanto, Gide tinha já assumido de uma vez por todas a sua orientação sexual, o que confere a Córidon a mesma missão ética (o registo da verdade sobre si próprio) que é apanágio da escrita intimista do autor. Edições 70
Herman Melville
Bartleby, o Escrivão
Herman Melville (1819-1891) autor de Moby Dick, foi um grande escritor apaixonado pelas histórias de marinheiros e do mar, às quais acrescentou uma dimensão metafísica e alegórica, fascinado pelo tema do mal e pelos aspectos mais sombrios da natureza humana. Bartleby, o Escrivão é a mais famosa das suas narrativas curtas onde se incluem outras títulos célebres como Billy Budd, Benito Cereno ou As Encantadas ou Ilhas Encantadas. Bartleby é um escrivão de Wall Street, ao serviço de um escritório de advogados, que se recusa a prestar qualquer tipo de trabalho com uma espécie de demente obstinação. O advogado e os outros escrivães aceitam com surpreendente passividade a sua estranha decisão. O escritor e poeta argentino Jorge Luís Borges dirigiu A Biblioteca de Babel, prestigiada coleção de obras fantásticas, onde incluiu este conto que comparava com o romance Moby Dick, encontrando “semelhanças na loucura dos dois protagonistas e na incrível circunstância de uma tal loucura contagiar todos os que os rodeiam”. Guerra & Paz

Mário-Henrique Leiria
Obra Gráfica
Mário-Henrique Leiria (1923-1980), escritor experimentalista, distinguiu-se nos géneros de vanguarda da sua época como a ficção cientifica ou o policial psicológico que incorporou no surrealismo, movimento ao qual sempre se manteve próximo. Espírito inconformista de ironia contundente, escolheu como alvos principais da sua obra o capitalismo, a guerra, o estilo de vida da burguesia e todas as formas de violência e autoridade. A presente edição, com introdução, organização e notas de Tania Martuscelli, reúne a obra gráfica do autor, muito menos conhecida do que a sua obra literária. Particularmente relevante é a forma como através dela se adivinha a constância temática do seu universo e se percebem as interligações entre obra gráfica e literária a partir das suas múltiplas influências: os livros de aventuras, a banda desenhada, os domínios alternativos da ficção científica, os primeiros contactos determinantes com o modernismo e o surrealismo. Um testemunho eloquente da originalidade de um dos nomes de culto da cultura portuguesa do século XX. E-primatur
Tiago Rebelo
A História do Bichinho-de-conta
Tiago Rebelo, autor de vários romances históricos, como Tempo dos amores perfeitos ou A maldição do Marquês, brinda-nos agora com A história do bichinho-de-conta. Baseada em acontecimentos verídicos, a narrativa remonta a 1768, altura em que Lisboa se tenta reerguer do Terramoto, e dá-nos a conhecer o caráter manipulador e interesseiro do conde de Oeiras e ministro de D. José, Sebastião José de Carvalho e Melo. O ministro, que “tudo decidia com o beneplácito de um soberano fraco e contemporizador” e que ia liquidando os seus inimigos, fingindo que eram inimigos do rei, decide casar o seu segundo filho, José Francisco, de 14 anos, com Isabel Juliana, herdeira de uma grande fortuna. O que o ministro não esperava era que a menina de 14 anos ousasse desafiá-lo. Contra tudo e contra todos, mas consciente do caráter violento do conde de Oeiras, que já havia mandado matar os Távora, entre tantas outras famílias, Isabel Juliana viu-se obrigada a casar, mas nunca se rendeu ou consumou o casamento. Numa cidade demasiado pequena para se esconder segredos, o desprezo com que Isabel Juliana tratava o marido começou a ser comentado na corte, que destratava o ministro pelas costas e, naturalmente, se deliciava com este escândalo. ASA
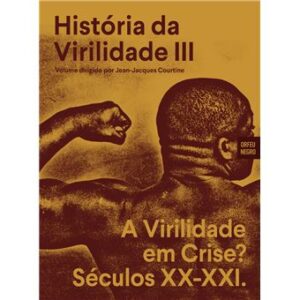
Georges Vigarello (direção)
História da Virilidade III
A virilitas romana, da qual a palavra virilidade deriva, funde as qualidades sexuais (do marido possante, procriador) com as qualidades psicológicas (do homem ponderado, vigoroso, corajoso e comedido), num ideal de força e vontade, segurança e maturidade, certeza e dominação, autoridade física e moral. Esta obra monumental reflete sobre a transformação do ideal viril nas sociedades ocidentais segundo as culturas e os tempos: os universos sociais, as subculturas, o ambiente urbano ou rural, guerreiro ou letrado. Uma questão deu origem ao presente estudo: a virilidade está em crise nas sociedades contemporâneas? Será ela própria um ideal anacrónico, fechado no passado ou estará a passar por mais um processo de metamorfose em busca de novas identidades? O último de três volumes, dirigido por Georges Vigarello, diretor na École des Hautes Études en Sciences Sociales e autor de inúmeros trabalhos sobre as representações do corpo, questiona se o mito viril se encontra em crise e acompanha as suas variações durante o século XX e XXI. Orfeu Negro
Se muitas das propostas da programação de verão da empresa municipal EGEAC são já “clássicos”, este ano estão reservadas algumas surpresas. Entre elas, a literatura de José Saramago (em ano de centenário do escritor) e a poesia de João Monge ao encontro das artes performativas ou as celebrações dos 200 anos da independência do Brasil, com um grande concerto em frente à Torre de Belém.
A programação abre com duas noites de atuações intimistas, no Castelo de São Jorge, no Festival Solo Fest, que reúne propostas de teatro, dança e música. A 19 de agosto, o ator Miguel Sermão interpreta Por Ele, uma comédia sobre a vida conjugal, e a compositora Mafalda Veiga revisita alguns dos seus temas mais conhecidos, apresenta versões de bandas como os Beatles ou David Bowie e ainda alguns inéditos; no dia 20, é a vez do espetáculo de dança Kodé Di Dona, com Mano Preto, naquela que é uma homenagem ao poeta, compositor e historiador cabo-verdiano, e ainda há um concerto da violoncelista e cantora cubana Ana Carla Maza.
A arte sonora e a magia preenchem os últimos dias de agosto através dos festivais Lisboa Mágica, com 15 artistas e 158 espetáculos, repartidos por uma dezena de locais da cidade; e Lisboa Soa que, sob o mote da Reinvenção, se divide nesta sexta edição, entre as Carpintarias de São Lázaro e o Museu de Lisboa – Teatro Romano, com instalações, performances e workshops.
Em setembro, destaque para o regresso da música clássica ao Vale do Silêncio com a Orquestra Gulbenkian sob a direção do maestro Diogo Costa, e com a participação de solistas convidados. Uma Noite no Vale acontece no dia 10, prometendo um grande espetáculo pensado para o parque verde dos Olivais, cujo repertório cruza a música sinfónica com árias favoritas de ópera, opereta e teatro musical, de compositores como Manuel de Falla, Jules Massenet, George Gershwin ou Leonard Bernstein, autor do famoso musical West Side Story.
Integradas no Lisboa na Rua estão também as atuações de mais duas orquestras: a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais que celebra o bicentenário da independência do Brasil num concerto que terá lugar nos jardins da Torre de Belém (dia 7) e a Lisbon Poetry Orchestra (dia 17), no Castelo de São Jorge, que apresenta o último trabalho intitulado Os Surrealistas.
No Museu de Lisboa – Palácio Pimenta têm lugar duas propostas diferentes, em dois sábados de setembro: no dia 3, a partir das 21h, numa parceria com o MoteLx, um cineconcerto com o filme de Manuel Luís Vieira O Fauno das Montanhas (1926), aqui apresentado em cópia digital restaurada pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, acompanhado ao vivo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. No dia 17, o fadista Hélder Moutinho e a atriz Maria João Luís protagonizam literalmente o espetáculo A Voz e a Alma, cantando, declamando e interpretando a poesia singular de João Monge.

Ainda em setembro, sobem ao palco dois livros. No Largo José Saramago (antigo Campo das Cebolas) terá lugar, no dia 3, a partir das 21h30, A Passarola, uma adaptação teatral livre, baseada no romance Memorial do Convento do escritor laureado com o Prémio Nobel de Literatura em 1998, criada pela Trigo Limpo teatro ACERT. No Jardim do Palácio das Galveias, a 18, pelas 17h, é a vez da estreia do espetáculo Mais de Cem Mil Dias, a partir do audiolivro com o mesmo título de Inês Pupo, com ilustração de Ricardo Machado e músicas de Filipe Raposo e Gonçalo Pratas.
A Dança tem lugar cativo no Lisboa na Rua. Nas tardes de domingo, sob o lema Dançar a Cidade, o convite é para ter aulas ao ar livre, de Flamenco e Sevilhanas (na Quinta das Conchas), Danças Tribais Africanas (no jardim do Palácio das Galveias), Samba e Forró (no Parque Urbano Moinhos de Santana) e Salsa e Merengue (Largo José Saramago – Campo das Cebolas), a partir das 17h.
Outras expressões artísticas têm presença assídua nesta programação como a videoarte com o festival FUSO, durante 5 dias e em diversos locais da cidade, e o Cinema com o projeto Cinema no Estendal com dois dias de sessões ao ar livre.
Programa integral aqui.
Depois de uma batalha vencida, D. Pedro, príncipe de Aragão, e os seus fiéis companheiros, os fidalgos Cláudio e Benedito, chegam à casa de Leonato, em Messina. Decidido a casar Cláudio, D. Pedro acorda com Leonato o matrimónio do amigo com a filha deste, a bela e virginal Hero. Contudo, surge o vil D. João, meio-irmão de Pedro, que, com a ajuda de um lacaio, urde um plano para pôr em causa a honradez e castidade de Hero e frustrar os intentos do irmão.
Entretanto, D. Pedro e Cláudio estão decididos a mostrar ao outro companheiro, o cético Benedito, as virtudes do amor e do desejo. Com a ajuda de Hero e de Margarida, sua dama de companhia, todos assumem o papel de Cupido, tentando que Benedito e a rebelde sobrinha de Leonato, Beatriz, se apaixonem. Mas, tal intento é bem mais árduo do que poderia parecer.
Assim se pode resumir em poucas palavras a génese da ação de Muito barulho por nada, a comédia de Shakespeare que António Pires e a companhia do Teatro do Bairro levam, a partir de 27 de julho, ao belíssimo cenário das Ruínas do Convento do Carmo, e que recupera “a bonita tradução que Sophia [de Mello Breyner Andresen] fez para o Teatro da Cornucópia em 1990.”

“Embora não tenha presente na memória muito do espetáculo, lembro sempre a beleza dessa tradução, com todo o preciosismo das palavras e a riqueza do vocabulário que a tornam muito bonita”, explica o encenador António Pires para justificar a opção. “Se Shakespeare já de si é tão bonito, nesta tradução ainda mais, mas como desejo sempre que o público saia do espetáculo percebendo tudo o que aqui se passou, suavizei alguns trechos, sobretudo no verso, para que o lado mais poético não disperse a atenção.”
E Muito barulho por nada, comédia em que as sensações desempenham um papel crucial, bem a exige para que, como alguns dos seus personagens, o mais incauto espectador não se deixe levar pelos enganos.
Talvez um deles, como lembra Pires sublinhando a complexidade do texto e das suas personagens, seja considerar a peça uma comédia sobre o amor. “Muito barulho por nada é, sobretudo, uma comédia sobre o casamento enquanto convenção social”. Basta ver como passivamente Hero aceita ser desposada por Cláudio, num acordo tácito entre D. Pedro e o pai da jovem, com a cena a conter um diálogo “profundamente misógino, bem capaz de alguns enfurecimentos nos dias que correm.”

Porém, Shakespeare depressa vai desmontar essa dose massiva de misoginia através de Beatriz, a personagem que, como observa o encenador, o Bardo pôs a anunciar “eu sou o bobo”, logo “a poder dizer, sendo mulher, tudo aquilo que só a um bobo é permitido”. Esta estratégia bem engenhosa “permite que possam ser colocadas em causa as convenções patriarcais vigentes na sociedade isabelina, através de um discurso quase revolucionário, libertário e até feminista.”
Por outro lado, Beatriz e Benedito, o par da peça sobre o qual as setas dos aprendizes de Cupido são lançadas e parecem constantemente falhar, acabam por representar a hipótese do casamento por verdeiro amor. Apesar de constantemente o negarem, de mentirem um ao outro, e da mentira fazerem arma de sedução, são eles que no final mostram como o amor pode ser revelador de todas as verdades.
Com interpretações de André Marques, Carolina Campanela, Carolina Serrão, Eduardo Frazão, Graciano Dias, Gonçalo Norton, Hugo Mestre Amaro, João Barbosa, João Sá Nogueira, João Veloso, Mariana Branco e Mário Sousa, Muito barulho por nada está em cena até 20 de agosto, de segunda a sábado, às 21h30.
Foi em jeito de balanço de oito anos em funções que Aida Tavares iniciou a apresentação da extensa, e muito rica e diversificada, temporada artística do São Luiz Teatro Municipal para os próximos meses. Como a própria considerou, esta é “uma temporada ansiada”, já que muitos dos espetáculos agora anunciados “estavam já em agenda há algum tempo, mas foram sendo adiados por culpa da pandemia.”
Quando o São Luiz reabrir em setembro, após as férias de verão, as atenções centram-se no regresso ao teatro municipal da dramaturga, encenadora e realizadora brasileira Christiane Jatahy. Revelada em Portugal, no início do século, no Festival de Almada, Jatahy tem sido presença constante no circuito teatral europeu, destacando-se o estatuto que Lisboa lhe atribuiu, em 2018, como Artista na Cidade. Notabilizada pelas suas versões dos clássicos de Strindberg (Júlia, a partir de Menina Júlia) e de Tchekhov (E se elas fossem para Moscou, a partir de As Três Irmãs), Jatahy destaca-se no modo particularmente inventivo, e até radical e subversivo, como conjuga as linguagens do teatro e do cinema.
A criadora carioca, recentemente distinguida em Veneza com o Leão de Ouro, apresenta O Agora Que Demora: Nossa Odisseia II, sucessor de Ítaca (2018), espetáculo estreado, precisamente, no teatro lisboeta, e que dá sequência ao olhar muito particular da criadora sobre A Odisseia de Homero. Este fechar do díptico é essencialmente “um filme que atinge toda a sua dimensão quando dialoga com o teatro”, proporcionando ao espectador uma inquietante viagem entre a Palestina e a Amazónia, passando por campos de refugiados no Líbano e na Grécia.

A propósito de inquietantes e criativas formas de diálogo entre teatro e cinema, a 6 e 7 de abril do próximo ano, o São Luiz apresenta, pela primeira vez, uma criação da notabilíssima Katie Mitchell. Numa coprodução com a Schaubühne de Berlim, o trepidante clássico de Virginia Woolf, Orlando, é traduzido para uma versão “live cinema” onde está plasmado todo o virtuosismo de Mitchell no domínio técnico e na cena, naquele que será, muito provavelmente, um dos momentos mais esperados da temporada teatral em Lisboa.
Ainda no plano internacional, outro regresso à capital: Pippo Delbonno. O criador italiano foi desafiado pelo Teatro São Luiz a criar um espetáculo sobre a cidade do Tejo, explorando simultaneamente a sua ligação com África, especialmente Cabo Verde e Angola. O resultado é “uma viagem musical e lírica” que enaltece “a especial ligação sentimental” do autor a Lisboa. Entre o elenco luso-italiano, Amore (8 a 12 de novembro) conta com as participações de Aline Frazão e Pedro Jóia.

“O enorme orgulho por atingirmos
a paridade entre criadores homens e mulheres”
Foi uma das prioridades da atual direção artística procurar dar, ao longo dos anos, um crescente protagonismo a criadoras femininas. Como lembrou, na cerimónia de apresentação da Temporada 2022/23, a ainda presidente da empresa municipal EGEAC, Joana Gomes Cardoso, “Aida Tavares procurou fazê-lo bem antes desta questão parecer prioritária, como é hoje”. Não será portanto nada surpreendente que a diretor artística anuncie “o enorme orgulho” em atingir nesta temporada “a paridade entre criadores homens e mulheres.”
E as protagonistas femininas são muitas, destacando-se Beatriz Batarda, que revisita uma comédia musical que dirigiu na principal sala do teatro, em 2011, com textos de Karl Valentin. Volvida mais de uma década, a encenadora apresenta, com o mesmo elenco (Bruno Nogueira e Luísa Cruz, a quem se junta agora Rita Cabaço), Outra Bizarra Salada (fevereiro de 2023), espetáculo que assim se chama “porque se os tempos mudaram, também artistas e intérpretes cozinham com novos ingredientes e temperos”. Batarda voltará ao Teatro São Luiz, em abril, com mais um espetáculo (C., Celeste e a Primeira Virtude) e uma vídeo-instalação (Corpos Celestes).

Outras criadoras em destaque são Cátia Terrinca, que apresenta dois projetos destinados aos mais jovens – Mil e Uma Noites e Invencível Armada; Sara Carinhas, de volta ao teatro onde se estreou como criadora e atriz em Última Memória; Cucha Carvalheiro, com a estreia do original de sua autoria Fonte da Raiva, que a própria protagoniza ao lado de um elenco de luxo, onde pontuam Filomena Cautela, Manuela Couto ou Sandra Faleiro; Olga Roriz, que coreografa uma peça emblemática do dramaturgo alemão Peter Handke, A hora em que não sabíamos nada uns dos outros; e Rita Lello em Isadora, Fala!, um solo dedicado à bailarina norte-americana, precursora da dança moderna, Isadora Duncan.
Outros sublinhados da temporada são o regresso da ópera à sala principal do São Luiz, com I was looking at the ceiling and then I saw the sky de John Adams, numa encenação de Miguel Loureiro e Miguel Pereira, com direção musical de Martim Sousa Tavares; e, mesmo a fechar a temporada, um novo espetáculo de Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo, apetitosamente intitulado O Livro de Pantagruel. Por sinal, uma das mais aplaudidas criações da dupla – A Reconquista de Olivenza – regressa a palco já neste próximo mês de outubro.
A programação integral pode ser consultada no site do São Luiz Teatro Municipal.
São “três décadas de projetos ao ritmo dos afetos”, lê-se no cartaz que assinala este aniversário do Teatro Meridional. Quem no meio teatral já trabalhou ou se cruzou com a companhia sabe que não se tratam de palavras de circunstância. Mesmo quem é espectador anónimo do teatro da Rua do Açúcar, também apelidado de “melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo”, tem ciente de que no Meridional se preza uma relação diferente, especial e afetuosa, com o público. Afinal, o espetáculo começa à entrada, ainda no foyer, e só termina quando se cruza a porta para a rua, havendo sempre tempo para um café ou um chá e dois dedos de conversa com os artistas. Foi, precisamente, num registo de conversa que esta entrevista decorreu.
O primeiro espetáculo do Meridional, estreado em agosto de 1992, chamava-se Ki Fatxiamu noi Kui, ou seja, qualquer coisa como “que fazemos nós aqui”. Talvez fosse interessante, 30 anos depois, começar por fazer-vos essa pergunta…
Miguel Seabra (MS): Acho que todo o projeto do Meridional está assente, precisamente, nesse título. Essa é a pergunta que permanentemente nos colocamos, o desafio constante, aquilo que nos leva a continuar a sonhar e a criar novos projetos, a não nos conformar com formas ou modelos criativos ou conceptuais. Esse título, essa pergunta existencial, continua a ser colocada em cada projeto ou desafio que abraçamos. E é interessante que, quando estamos a celebrar três décadas de atividade criativa ininterrupta, estejamos ao mesmo tempo a preparar os próximos quatro anos [referência ao processo de apresentação de candidaturas aos apoios estatais para a atividade artística] e a perceber como é bonito continuarmos a ter ideias, projetos e inquietação mais do que suficiente para fazer do Meridional um projeto vivo e a crescer, que não se conforma.
Recuemos a 1992. Vocês estavam em patamares diferentes da carreira…
MS: Eu tinha terminado o curso de ator no Conservatório. Tinha já 27 anos. Antes, andei à procura de ser feliz, mas o espaço da felicidade é sempre efémero, como o teatro. Depois de ter passado por gestão de empresas e pela arquitetura, foi nesta área artística que me descobri. Antes, na sequência de ter andado dois meses a viajar pelo Brasil, quando voltei, decidi ser músico. Ainda estudei jazz, muito a sério… mas, depois, encontrei o teatro…
Natália Luiza (NL): Eu sempre soube, desde sempre… Quem me conhece desde miúda, criança nascida em Moçambique, conta que aos quatro anos eu já dizia que queria vir para Portugal ser artista. E ainda prometia tratar a cabeça das pessoas. O certo é que, entre a psicologia e o teatro, acabei por fazer as duas coisas.
Mas, em 1992, a Natália estava longe de ser uma atriz principiante.
NL: Sim. Quando conheci o Miguel e o Meridional levava já uns bons anos de atriz, sobretudo na televisão. Mas, gostaria de voltar àquela pergunta do primeiro espetáculo que está na base de toda a nossa inquietação porque, há 30 anos, eu não acreditava que iria ter uma companhia e que continuamente estaria a fazer essa pergunta. É que, todos os dias, coloco a mim mesma essa questão – o que estou aqui a fazer – e isso está na base de ser inquieta, de estar sempre à procura, de não me conformar com uma maneira de fazer. Necessito de estar sempre a começar.
E o Miguel? Também tem essa necessidade de estar sempre a começar?
MS: Digamos que nós somos opostos e, ao mesmo tempo, complementares. Para a Natália seria impensável estar há 10 anos a fazer o mesmo espetáculo, como eu com O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão. Para mim, fazê-lo há tanto tempo é uma maratona estimulante…
NL: Pois para mim, ao fim de uma semana, já quero estar a fazer outra coisa. Mesmo um texto em que me reveja, um projeto que me envolva. Não aguento a perspetiva do tédio, de estar no mesmo sítio. Para mim, a vida é um desafio a cada segundo. Isto não quer dizer que não seja estável e leal para com as coisas em que estou a trabalhar. Por exemplo, o Meridional tem o projeto Províncias ou os Contos em Viagem, que são linhas de trabalho desenvolvidas em continuidade pela companhia. Contudo, nunca me contento com uma fórmula, pelo que procuro sempre formas de os recriar ou revitalizar.

Como é que, com todas as vossas naturais diferenças, se casam as vontades no Teatro Meridional e se mantem a coerência artística?
NL: Acho que a dada altura do caminho, eu e o Miguel, com grande tranquilidade, autonomizámos projetos. Há o olhar de cada um sobre o trabalho do outro, ajudamos, observamos, refletimos, mas há autonomia artística. O mais interessante é que os projetos do Meridional têm uma linguagem comum. Isso tem a ver com o escutarmos, com a exigência que damos ao trabalho do ator, com objetivos conceptuais na área artística muito similares. Depois, cada um tem os seus projetos e, seja eu ou o Miguel a pegar, por exemplo, no Contos em Viagem, que tem uma matriz conceptual muito própria, sabemos que lá estará refletida a singularidade de cada um de nós, juntamente com a das pessoas que fazem parte da equipa artística daquele espetáculo.
MS: Reconheço que os desafios artísticos que nos motivam são distintos. Temos formas diferentes de trabalhar, eu gosto de itinerância ao contrário da Natália…
Mas, no meio teatral ouve-se muitas vezes a menção ao método de trabalho do Meridional. Há, de facto, uma forma diferente de fazer teatro nesta companhia?
MS: Acho que há um modo de trabalhar e um reconhecimento do espetáculo “Meridional” que passam por aquilo que considero três elementos basilares: o afeto, o rigor e exigência e a vontade do espanto. Isto é, no Meridional o espetáculo tem duas fases: o seu levantamento, até à estreia; e depois, a sua carreira, acompanhada de perto enquanto organismo vivo que é, logo necessariamente mutável. Essa mutabilidade deve corresponder, para nós, a um crescimento no sentido vertical, não a uma engorda, o que é, aliás, muito comum acontecer.
NL: É por isso que, quase diariamente, récita a récita, eu ou o Miguel estamos a acompanhar o espetáculo, corrigindo se preciso, não deixando que a rotina se instale. O encenador tem de cuidar, mas isso não tem a ver com o condicionamento do ator ou com o retirar-lhe liberdade…
MS: Por tudo isso é que quem trabalha connosco não tem descanso (no bom sentido do termo), sendo permanentemente estimulado e desafiado. É necessário manter o foco e a disciplina, até porque a disciplina para a liberdade dá muito trabalho.
Isso contribui para o reconhecimento do espetáculo “Meridional” como diferente de qualquer outro?
NL: Para nós, todos os espetáculos têm uma identidade. Procuramos sempre em equipa, durante a criação do objeto artístico, uma linguagem comum. Na base disso há, ao nível autoral, uma formação prévia dirigida ao trabalho do ator…
MS: Isso é identitário no Meridional. O espectador que cá vem vai ver trabalho de ator, assistir a atores a funcionar: emoção, técnica, gestão da palavra, noção de ritmo…
NL: É fundamental e penso que temos ambos grande noção de ritmo…
MS: Embora comigo, como se diz n’ O Senhor Ibrahim, “a lentidão é o segredo da felicidade.” [risos]
NL: Pois, comigo a rapidez é o segredo de anteontem…
Reconhecem haver, portanto, uma marca diferenciadora no vosso trabalho.
NL: Os espetáculos do Meridional comportam dimensões comunicacionais com níveis afetivos diretos, o que já nos valeu uns epítetos. Ora, isso não significa que os nossos espetáculos não comportem um nível de elaboração quase semiótico, o que permite grelhas de leitura consoante o espectador que se é. Um espetáculo como, por exemplo, O Senhor Ibrahim… é um objeto de acessibilidade transversal, mas depois contém níveis e dimensões que vão do religioso ao psicológico ou do espiritual ao alquímico, passíveis de incontáveis leituras.
MS: Aquilo que procuramos sempre a cada espetáculo é criar um fio invisível com o espectador que o deixe livre para sentir e inquieto para não se deixar prender no que possa ser ilustrativo ou descritivo.
Há pouco, o Miguel referia o “afeto” como um dos elementos basilares do modo de trabalhar da companhia. É interessante, mas o “afeto” estende-se também ao público do Meridional, sobretudo nos vossos espetáculos em casa, através do modo como recebem o espectador e logo o envolvem, mal se entra no teatro…
NL: Isso tem a ver com o procurarmos sempre dar ao público uma experiência que é afetiva, certamente, mas também estética…
MS: E é um modo subtil de poder influenciar a disponibilidade das pessoas para o espetáculo. É que, muitas vezes (e isso acontece porque o teatro é um sítio onde estamos uns como os outros), alguém entrar na sala com má cara, mesmo mantendo-se sentado no lugar e em silêncio, pode arruinar um espetáculo.
NL: Mas eu prezo muito esse lado estético, essa experiência que é indissociável da afetiva. Quando vou ao teatro, enquanto espectadora, quero ser levada para outro universo de coisas e como artista gosto de provocar isso no público. Quando um espectador entra no Meridional, aquilo que queremos é que deixe o mundo lá fora e que o espaço que o envolve lhe permita experienciar um outro estar. Por isso, a experiência deve começar logo no foyer.
Olhando retrospetivamente para estes 30 anos da companhia, desafio-vos a escolherem um ou dois espetáculos dirigidos pelo outro, do qual, ou dos quais, tenham particular orgulho em que tenha sido feito pelo Teatro Meridional.
MS: Lembro vários. Mas, muito objetivamente, escolheria dois: Anjos com Fome [2012] e este último, Vida Inversa. O primeiro, para o qual fiz o desenho de luz, porque era um espetáculo muito fora da caixa, como um sonho ou um poema em cena. O segundo, no qual não tive qualquer participação criativa, considero ser o resultado de um casamento muito feliz a todos os níveis, desde o texto do José Luís Peixoto à luz ou aos figurinos; contudo, o que fez realmente a diferença foi o conceito de encenação que a Natália deu ao conjunto, não se sobrepondo, mas evidenciando na medida exata cada elemento.
E a Natália? Que encenações do Miguel destacaria?
NL: Eu não tenho nenhuma dúvida em apontar o Contos em Viagem: Cabo Verde [2007] como o espetáculo de eleição do Teatro Meridional. É um trabalho de encenação notável, um sentido de ritmo raro, com a incrível capacidade de, durante cerca uma hora e meia, nos levar a Cabo Verde, nos fazer viajar por aquelas ilhas. É um dos espetáculos mais bonitos do Meridional. Mas há outro que o Miguel encenou que gostaria de destacar, e que é, precisamente, O Senhor Ibrahim… É curioso mas, da primeira vez que o vi, não me conectei com o espetáculo, possivelmente porque o fiz a partir de uma plateia à italiana e, cada vez mais, me agradam anfiteatros, porque tendo sempre em associar o corpo ao ato de ver. Mas, ao longo dos anos, sempre que repomos o espetáculo, vou espreitando e sentindo que há ali qualquer coisa que me transforma, que é sempre diferente. É um espetáculo que, depois de todos estes anos, parece continuar a escapar, logo sempre a convocar-me para o construir. Ainda não consegui perceber se é a encenação, se é o ator [o próprio Miguel Seabra] que me provocam isto… Mas, sei que irei continuar a vê-lo… [sorrisos]
E o Miguel a fazê-lo…
MS: Gostaria de chegar às 200 récitas. Até agora, fizemos 142.
Estamos a fazer esta entrevista no recentemente inaugurado Polo II do Teatro Meridional, em Chelas. Qual é a importância para a companhia um espaço como este, que não é vocacionado para a apresentação de espetáculos?
MS: Ter um espaço em Lisboa, como temos a sala do Poço do Bispo, é um privilégio. Mas o Teatro Meridional desenvolve todo um conjunto de atividades para além dos espetáculos, nomeadamente as formações, os laboratórios de dramaturgia, os lançamentos de livros e iniciativas junto da comunidade. Ora, tudo isto, a juntar aos ensaios e aos acolhimentos a outras companhias, tornavam cada vez mais difícil a gestão do espaço. Até que surgiu este grande contributo da Junta de Freguesia de Marvila a disponibilizar este espaço.
NL: Isto aconteceu na sequência das obras no Teatro Meridional e ganhou forma durante a pandemia. Solicitámos um escritório para que pudéssemos trabalhar e a junta de freguesia respondeu com este espaço, que tem várias salas e que, para nós, acabou por significar a transferência de várias atividades da companhia para aqui.
O Miguel já elencou várias atividades que estão agora aqui sediadas, mas sei que é a Natália que está a trabalhar mais de perto em tudo o que se vai passando por aqui…
NL: Há muita coisa, de facto. Agora em julho, temos o arranque das Férias Criativas, um programa destinado aos mais jovens. Mas tenho estado a preparar várias iniciativas que considero fundamentais. Por exemplo, em novembro vamos começar um curso de saúde mental que usa o teatro como ferramenta. Depois, há todo um conjunto de atividades que perseguem objetivos que considero vitais enquanto cidadã e artista, e que pretendem fazer deste Polo II, já de si um lugar de inclusão, um espaço privilegiado de educação pela arte.
Como vão ser as comemorações dos 30 anos?
MS: Já começaram, e muito bem, sempre com casa cheia, com Vida Inversa, de que já falámos, e prosseguem, a partir de 6 de julho, com o meu regresso a O Senhor Ibrahim… que, no dia 16, faz, precisamente, 10 anos que estreou no Festival de Almada. Uma coisa rara em Portugal, um espetáculo com tanta longevidade. Em outubro, vou estar outra vez em cena ao lado da Bárbara Branco e de um ator que anunciaremos em breve, com Do Deslumbramento, encenação minha de outro texto original de uma autora contemporânea portuguesa, a Ana Lázaro. Depois, já em 2023, vamos ter muita itinerância…
NL: E vou dirigir uma peça de que gosto muito, o Jardim Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. É fechar esta celebração com um clássico, respondendo à nossa constante vontade de diversificar linguagens e de nunca nos fixarmos numa única maneira de fazer teatro.

Sándor Márai
A Irmã
Livro intenso que aborda grandes questões existenciais como a vida, a morte, o sofrimento ou o amor. A obra centra-se na vida de Z., pianista de renome internacional, que um dia é convidado a dar um concerto em Florença. Durante a viagem de comboio até Itália, o músico sente-se mal, acabando por ser internado no final do espetáculo. É-lhe diagnosticada uma doença viral que lhe provoca dores inimagináveis e que o afastará dos palcos. Durante o longo processo de recuperação, fazemos uma viagem profunda pela sua mente, por vezes presa no delírio provocado pela morfina. Uma voz feminina, que sussurra ao longe, pede-lhe que não morra. Será esta a sua tábua de salvação, que o levará a colocar tudo em causa e que mudará o rumo da sua vida. [Filipa Santos] D. Quixote

João Tordo
Felicidade
Em 1973, quando a Europa se libertava das suas ditaduras e Portugal vivia a promessa da liberdade, um rapaz de 17 anos, filho de um pai conservador e de uma mãe liberal, apaixona-se por Felicidade, uma colega de escola. Felicidade Kopejka é uma de três irmãs gémeas idênticas que são a grande atração do liceu: bonitas, seguras e determinadas, são fonte de desejos e fantasias inalcançáveis. A primeira noite de amor com Felicidade acaba de forma trágica e o jovem cai na rede das manas Kopejka. João Tordo aborda os temas do amor e da morte num romance repleto de ironia e humor e que lhe valeu, em 2021, o Prémio Literário Fernando Namora. [Cristina Engrácia] Companhia das Letras

Édouard Louis
Para acabar de vez com Eddy Bellegueule
Romance autobiográfico de 2014, Para acabar de vez com Eddy Bellegueule revelava ao mundo Édouard Louis, um jovem autor de 19 anos que expunha, numa linguagem desarmante e repleta de verdade, o modo como, durante a infância e o início da adolescência, sobreviveu à violência intrínseca da França rural, na sua Picardia natal. Ao olhar para o jovem Eddy, a criança que não é igual às demais, aquela que fala de uma maneira diferente e que tem um comportamento demasiado feminal aos olhos das gentes da terra, Louis partilha o sofrimento do menino dilacerado pelas constantes humilhações que o levam, muitas vezes, a odiar a pessoa que é. Para além de libelo anti-homofóbico, o romance é um retrato chocante de uma outra França, onde a pobreza e a escassez de oportunidades geram focos de intolerância e preconceito, responsáveis nos últimos anos por alimentar o extremismo de direita. [Frederico Bernardino] Elsinore
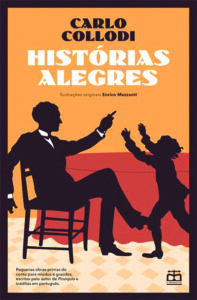
Carlo Collodi
Histórias Alegres
Coletânea de oito contos publicados originalmente entre 1883 e 1887, Histórias Alegres revela o apurado sentido de humor de Carlo Collodi, célebre autor de Pinóquio. Estas pequenas obras-primas repletas de mordacidade e imaginação, que aparentam ser escritas para crianças, são, na verdade, lições ou provocações para leitores de todas as idades. Aqueles que gostam de ver o mundo do avesso, os que não se conformam em viver sem rir de si próprios e sem desafiar as imposições sociais vão, decerto, identificar-se com as divertidas personagens imaginadas pelo autor italiano. Os textos de Collodi, que nunca deixou que a infância lhe fugisse, confrontam o universo da meninice com o mundo adulto, numa forma de definir a essência do ser humano com todas as suas forças e fraquezas. [Ana Rita Vaz] E-Primatur
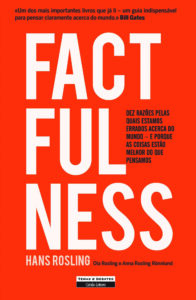
Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund e Ola Rosling
FACTFULNESS / FACTUALIDADES
Se as férias são um bom momento para tranquilamente refletir sobre si próprio e sobre a sua visão do mundo, este livro de Hans Rosling, especialista de saúde internacional e de estatística, pode ser o amigo de que precisa. Há anos que este professor sueco e os seus colaboradores de longa data, Anna e Ola Rosling, se dedicam a combater os preconceitos de que a maioria de nós padece quando pensa na situação do mundo e no futuro da sociedade humana. Através de factos comprovados, bem organizados e explicados de um modo didático e com toques de humor, Rosling tornou-se popular nas suas célebres intervenções nas TED Talks, mostrando-nos como somos muito mais pessimistas e suscetíveis a toldar o nosso raciocínio e senso comum, quando tratamos de opinar e generalizar sobre factos essenciais da vida. [Tomás Collares Pereira] Temas e Debates

Kazuo Ishiguro
Nunca Me Deixes
Uma história de amor e amizade, vivida numa realidade distópica é narrada pela escrita cristalina e inteligente de Kazuo Ishiguro, Prémio Nobel da Literatura em 2017. Considerada uma das suas melhores obras, segue a vida de três jovens amigos, Kathy, Ruth e Tommy, que cresceram juntos num colégio interno, algures na província inglesa. A infância e juventude idílicas no colégio, onde viveram isolados do mundo exterior e se sentem especiais, são o pronúncio de um futuro que desconhecem. Já adulta, Kathy revela finalmente o propósito da educação e proteção que lhes foi concedida. É pela sua voz que conhecemos esta história perturbadora e bela, onde Ishiguro nos comove ao retratar a fragilidade humana. [Ana Figueiredo] Gradiva

Michel Houllebecq
Aniquilação
Nenhuma citação pode resumir uma obra de 640 páginas, mas escolhemos uma que dá ideia precisa de parte do livro e do seu autor: “O Beaujolais era um exemplo da situação, tornada excecional, de uma vida de província ativa, com lojas de pequeno comércio, médicos, táxis, enfermeiras ao domicílio. Devia ser a isto que se assemelhava o mundo de antigamente. Nas últimas décadas, a França transformara-se numa justaposição aleatória de áreas metropolitanas e de desertos rurais, era a mesma coisa um pouco por todo o mundo, com a diferença de que, nos países pobres, as áreas metropolitanas eram megalópoles, e os subúrbios, bairros de lata.” O mundo de antigamente é irrecuperável, e isto constitui uma das aniquilações de que nos fala Houellebecq. A outra é de ordem biológica e tem por resultados a doença e a morte. Mas não se trata de um livro pessimista e muito menos cínico. O amor e a generosidade, que têm aqui os rostos de três mulheres (Prudence, Madeleine e Cécile) redimem a vida na medida do possível. Um livro grande e um grande livro. [Ricardo Gross] Alfaguara
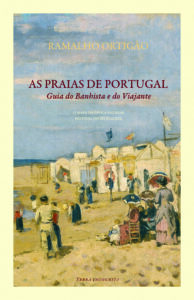
Ramalho Ortigão
As praias de Portugal – guia do banhista e do viajante
Publicado pela primeira vez em 1876, As praias de Portugal é um clássico da literatura de viagem em Portugal, com Ramalho Ortigão a apresentar-nos o mais interessante mapa da época balnear do final do século XIX. Ao longo da costa portuguesa, o autor explora as características das praias e zonas envolventes, fazendo um retrato da vida e sociedade de então, num misto de elegância e humor. Da Foz, residência da sua infância, a Leça e Matosinhos, Póvoa de Varzim, Espinho, Ericeira, Nazaré ou Figueira, não podiam faltar as praias do Tejo, como Pedrouços, “mansão oficial da vilegiatura burocrática de Lisboa”. “A praia, como todas as da grande baía do Tejo, é lisa, plana, de areia fina. O mar é tranquilo, sereno como um lago, o melhor dos banhos, na maré enchente, para as crianças fraquinhas, para as mulheres débeis, fatigadas”. Além destas, Ortigão apresenta ainda uma lista de praias obscuras, igualmente adequadas à instalação duma família em uso de banhos. Como diz Francisco Mário Viegas no prefácio, “Em 150 anos mudou tudo, menos o génio patife de Ramalho.” A obra faz parte da coleção Terra Incognita, que, mais do que livros de viagens com um formato especial, reúne títulos e autores que fazem da viagem um modo de conhecimento. [Sara Simões] Quetzal

Cesare Pavese
O Belo Verão
O Verão, como sugestão de liberdade e de descoberta, ambienta a passagem da adolescência à idade adulta de Ginia que tem 16 anos, vive com o irmão, e com as amigas anseia pelo amor. Nesse tempo, que “era sempre uma festa”, Ginia aproxima-se de uma jovem mais velha e muito diferente das suas companhias de sempre. Amelia é solitária, sofisticada e posa para pintores com quem se envolve. A curiosidade e o desejo de aventura arrastam Ginia para um mundo novo, onde nem sempre se sente confortável, mas onde experimenta as alegrias e torturas do primeiro amor. Escrito em 1940, este belíssimo romance de Cesare Pavese, foi distinguido, 10 anos depois, com o Prémio Strega, o mais importante galardão literário italiano. [Paula Teixeira] Livros do Brasil
Quando um colega lhe falou do grupo ativista Gulabi Gang, Sofia Santos Silva ficou fascinada pelo caso de ativismo feminista e procurou aprofundar o conhecimento sobre um conjunto de mulheres que, em vários territórios do norte da Índia “onde o acesso à educação é escasso e a discriminação de género assustadora”, se tornaram uma “alternativa às autoridades locais e tribunais” na defesa das mulheres.
“Na Índia, qualquer tipo de crime cometido por um homem sobre uma mulher, até os sexuais, acabam geralmente imputados à vítima que, supostamente, não terá cumprido o papel que lhe reserva a sociedade patriarcal”, observa a criadora e atriz. Como resposta a esta violência sistémica e banalizada e contra a discriminação generalizada, a ativista Sampat Pal fundou, na região de Uttar Pradesh, o Gulabi Gang, conseguindo reunir “mulheres que têm como missão investigar as incidências desses casos de crimes, onde quase sempre o agressor é ilibado e a vítima culpabilizada.”
Mas, como nota, há outra característica fascinante no ativismo do Gulabi Gang: “não havendo acesso a ferramentas de comunicação em massa, Sampat Pal começou por criar cânticos originais que as mulheres aprendem e, de boca em boca, vão transmitindo a outras que, assim, se vão juntando à causa.”

Inspirada por estes elementos, Sofia Santos Silva esteve tentada em conceber um espetáculo ainda mais musical, “mas, o que havia para dizer poderia tornar-se demasiado abstrato”, e Another Rose tinha que ter a urgência do discurso que interpela e afronta.
Contudo, a música (com direção de Martim Sousa Tavares, com quem Santos Silva já trabalhara em Carta, de Mónica Calle) tem presença marcante e o objeto artístico é, simultaneamente, poético e político, com a realidade da autora, e das mulheres que vivem em Portugal, a estabelecer “um diálogo” com as mulheres que daqueles locais remotos da Índia soltam o seu “cântico para serem escutadas.”
A realidade que desconhecemos
Recorrendo a entrevistas feitas especificamente para o espetáculo, o “grito de resistência” das Gulabi Gang encontra o seu espaço próprio em Another Rose, a par da “ficção” que Santos Silva construiu. Nela, três amigas reúnem-se numa cabana e escalpelizam a sua realidade enquanto mulheres. Deduz-se que uma delas é vítima de violência doméstica, e isso torna-se motor do drama. As três atrizes em cena (a própria autora, Catarina Carvalho Gomes e Cire Ndiaye) representam, segundo Santos Silva, “a necessidade de estarmos umas com as outras para combater o patriarcado e a opressão de género.”

“Foi este recurso ao mecanismo da ficção que permitiu encontrar o meu lugar de fala, ou seja, o lugar onde colocasse a minha realidade”. Inspirada pelas investigações que as Gulabi Gang empreendem em prol da defesa das mulheres, “decidi fazer o mesmo a respeito de procedimentos judiciais, decisões de tribunal e a própria lei portuguesa no que diz respeito a posicionamentos perante crimes de violência doméstica e sexual. Embora sejam realidades muito diferentes, acabei por ficar surpreendida e chocada perante o muito que desconhecia e se passa aqui.”
Projeto vencedor da quarta edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, iniciativa anual promovida conjuntamente por A Oficina (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa) e Teatro Viriato (Viseu), Sofia Santos Silva consegue definir hoje Another Rose como “um manifesto coletivo de mulheres que clamam pela resistência e pela mudança, contra a violência de género.” Mesmo que esse coletivo de mulheres esteja separado por outra língua, por outros hábitos ou por milhares e milhares de quilómetros de distância, em comum, todas elas estão a lutar pela mudança, contra uma sociedade onde a preponderância da autoridade e mundivisão masculina persistem e causam danos, demasiadas vezes irreparáveis.
Eram os loucos anos 20. A Europa deixava para trás a guerra e a pandemia de gripe espanhola, entregando-se a um período de euforia. Na Lisboa da Primeira República, e embora tratando-se de uma capital periférica, a vida artística e cultural começava a fervilhar com as modas chegadas das grandes cidades como Paris, Londres e Nova Iorque. Mas se Lisboa também ansiava por dançar o charleston e o foxtrot, o gosto popular continuava seduzido por carrosséis e figuras de cera, barracas de pim pam pum e tiro ao alvo, tascas, exibições de animais amestrados e “aberrações” de feira, animatógrafos e saltimbancos.

Foi para procurar recriar o ambiente das tradicionais feiras populares que pululavam pela cidade desde o século XIX, juntando-o ao sopro de sofisticação dos tempos, que, nas traseiras do Palácio Lima Mayer (atual Consulado de Espanha em Lisboa), mais concretamente no seu jardim, a chamada Sociedade Avenida Parque, liderada pelo empresário teatral Luís Galhardo, inaugurava, a 15 de junho de 1922, o Avenida Parque, ou feira do Parque Mayer.
Sobre a novidade, lia-se no Diário de Notícias: “Quando ontem entrámos na feira, lembraram-nos imediatamente alguns detalhes pitorescos das antigas feiras do Campo Grande e das Amoreiras, dos nossos melhores bons tempos. E lembrou-nos isso no meio daquele ruído moderno e caprichoso, num recinto onde as barracas têm todas, pelo menos, limpeza, algumas bom-gosto e muitas, se não a totalidade, um ar de sedução irresistível.”
O triunfo do teatro de Revista
Consta que nas antigas feiras de Lisboa, o mais apreciado dos divertimentos era mesmo o teatro-barraca, sendo que Luiz Francisco Rebello, na História do Teatro de Revista em Portugal sublinha que “nos derradeiros anos da Monarquia e primeiros anos da República, os teatros de feira foram importantes alfobres de autores e atores de revista”
Não surpreende, portanto, que, no dia 1 de julho de há 100 anos, o Parque Mayer visse abrir portas o primeiro dos seus teatros, o Teatro Maria Vitória, com a revista Lua Nova.
Curiosamente, o primeiro dos teatros a inaugurar foi aquele que, no Parque Mayer, quase ininterruptamente se manteve em funcionamento ao longo destes 100 anos, mesmo tendo sido assolado, em 1986, por um violento incêndio. Atualmente, e por iniciativa de Hélder Freire Costa, o Maria Vitória permanece mesmo como o último baluarte do teatro de revista em Lisboa, estreando, ano após ano, um novo espetáculo.
Sendo mais ou menos sofisticado, a preferência do grande público de Lisboa, naquela primeira metade do século passado, ia diretamente para o teatro musicado. Por juntar à música, a pertinência do humor na crítica social, a Revista à portuguesa era cada vez mais um género teatral generalizado nos teatros lisboetas, tornando-se numa espécie de berço de grandes atores e atrizes, que mais tarde se impunham como importantes nomes no cinema português.
A 8 de julho de 1926, no Parque Mayer abria portas um novo teatro, o Variedades, com a estreia do espetáculo de Revista Pó de Arroz. A par das barracas de tirinhos e dos comes e bebes, do fado e das danças da moda, o Parque Mayer era cada vez mais o local de excelência da diversão e boémia na cidade de Lisboa.
A seguir, e sempre sob a égide do teatro de revista, um género que de tão acarinhado pelo Estado Novo se tornou numa escola de oposição e resistência à censura política e de costumes, abriram o Teatro Capitólio (construído em 1931 e reabilitado e reaberto em 2016) e o Teatro ABC (fundado em 1956, onde outrora funcionara o Pavilhão Portuguez, demolido nos anos 90 e transformado num parque de estacionamento).

Neste século de Parque Mayer, a exposição Parque Mayer 100 Anos – O Esplendor da Revista, patente na Praça dos Restauradores, evoca os antecedentes históricos e as mutações que aquele pedaço de cidade, entre a Avenida da Liberdade e o Jardim Botânico, sofreram ao longo de décadas, sempre com os olhos postos nos teatros, na Revista à portuguesa que ali se renovou e reinventou à procura de sobreviver à passagem do tempo e às mudanças sociais e políticas pelas quais o país passou, da Primeira República à Democracia, passando pelos longos anos da ditadura.
No extenso programa comemorativo, destacam-se ainda uma série de tertúlias com artistas, trabalhadores, espectadores e conhecedores das vivências do local; dois itinerários (um sobre a história do Parque Mayer e outro sobre os anos de ouro do cinema português); sessões de cinema; momentos de fado e de jazz; e até um combate de boxe entre os atletas Miguel Amaral e Ricardo Costa. Entretanto, aos sábados, o Cineteatro Capitólio vai ser palco de concertos de Sara Correia, Black Mamba com Adelaide Ferreira, Pedro Moutinho e Real Combo Lisbonense.
Programação integral.
Porque, como o próprio faz questão de sublinhar, um diretor artístico não deixa de ser um artista, o espetáculo que abre a Temporada 2022/2023 do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) é escrito e encenado por Pedro Penim. Chama-se Casa Portuguesa e traz consigo a habitual marca biográfica que o autor emprega às suas criações.
Desta feita, Penim mergulha no diário de guerra colonial que o pai, Joaquim Penim, escreveu para ser lido por si e pelo irmão e junta-lhe “aquele fado pobre e alegre” que Amália celebrizou, e que dá título ao espetáculo (precisamente, Uma Casa Portuguesa), apologia de um “certo saudosismo estereotipado de uma ideia de país muito ao gosto do salazarismo”. A isto, Penim junta ainda o olhar do filosofo italiano Emanuelle Coccia sobre a “casa” como “espaço ancestral de injustiças, opressões e desigualdades.”
Com estreia marcada para 22 de setembro, Casa Portuguesa conta com interpretações de Carla Maciel, João Lagarto, Sandra Feliciano e a dupla Fado Bicha, que volta a trabalhar com Penim, três anos depois do espetáculo que o Teatro Praga concebeu para os 125 anos do Teatro São Luiz.
O final de semana de reabertura do TNDM II é ainda marcado pelo ciclo Antecipar o Futuro, um programa que dá enfase à “pesquisa e investigação como base de inovação e renovação artística”. Entre instalações, workshops, palestras e concertos, destacam-se dois projetos performativos: Cosmic Phase/Stage, de Ana Libório, Bruno José Silva, Carlos Cardoso e João Estevens (23 de setembro) e Atlântico (título provisório) de Odete (25 de setembro).

Em outubro, Marco Paiva parte de uma das peças referenciais de Edward Albee e dirige dois intérpretes surdos (Marta Sales e Tony Weaver) que representam o texto em língua gestual portuguesa. Zoo Story é um espetáculo inclusivo, legendado em Português e com audiodescrição em todas as récitas.
O mês tem ainda como grande protagonista o teatro brasileiro, com um ciclo de leituras encenadas de alguns grandes textos dramatúrgicos da autoria de autores referenciais da língua portuguesa do século XX: Nélson Rodrigues, Adriano Suassuna, Newton Moreno e Leilah Assumpção. A dirigir estas leituras estão Keli Freitas, Carla Bolito, Álvaro Correia e Pedro Penim.
Já em novembro, a portuense Raquel S. estreia a sua mais recente criação, Cadernos de, com a atriz Maria Jorge (de 3 a 13), e o artista franco-brasileiro, radicado em Lisboa, Romain Beltrão Teule volta a apresentar Dobra (dias 26 e 27). Espetáculo em destaque no Festival Temps d’Images, em 2021, Dobra é uma palestra-performance que procura dissecar a palavra “dobrar” em incontáveis contextos.
No último mês do ano, a Companhia Capa Torta, de Filipe Abreu e Miguel Maia, leva ao TNDM II o festim de leituras de textos de teatro Esta Noite Grita-se, com o anuncio, lançamento do livro e sessões de leitura do texto vencedor do concurso literário Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina de 2022 (3 e 4 de dezembro). Na Sala Estúdio, a partir de 8 de dezembro, Paula Diogo apresenta a sua mais recente criação, decorrente de uma residência artística na Islândia, Espelhos e Monstros.
A programação internacional e uma homenagem histórica
Nome incontornável do teatro europeu, com recorrentes passagens pelo Festival de Almada onde apresentou espetáculos absolutamente marcantes, como A reunificação das duas Coreias e Pinocchio, Joël Pommerat volta a Lisboa com um espetáculo histórico: Ça Ira (1) Fin de Louis. Reflexão avassaladora sobre a Revolução Francesa e a marca que deixou na história da luta pela democracia, a peça tem corrido mundo desde 2015 e fará, entre 28 e 30 de outubro, a sua última apresentação, precisamente na Sala Garrett.
Em novembro, há Alkantara Festival e pelo TNDM II, passam dois espetáculos: The Making of Pinocchio, “um espetáculo teatral e cinemático” sobre a ideia de identidade trans da autoria da dupla Cade & MacAskill; e Mascarades, um solo da coreógrafa e bailarina Betty Tchomanga, construído com a simbiose entre a música eletrónica e os ritmos tradicionais africanos.
A 28 de novembro, o TNDM II presta homenagem a uma das suas figuras históricas por ocasião das comemorações dos 80 anos de carreira. O ator Ruy de Carvalho estreou-se em 1942 e, cinco anos depois, subiu pela primeira vez ao palco do TNDM II, integrado na Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro. Até 2000, seria ator residente da casa. Por tudo isto, como lembra Pedro Penim, “a celebração da data tem de ser feita aqui, no D. Maria, que será sempre a sua casa.”
Como já fora previamente anunciado, o edifício do Rossio encerra no final do ano para obras de renovação e requalificação ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Enquanto isso, e durante todo o ano de 2023, o TNDM II vai percorrer o país, continente e ilhas, com a chamada “Odisseia Nacional”. Trata-se, esclarece Penim, “não de uma embaixada lisboeta a percorrer Portugal continental e ilhas”, mas de uma operação que envolve “mais de 90 municípios e as comunidades locais”. Os pormenores de programação serão anunciados em novembro.
Tens uma voz muito poderosa. Sempre tiveste noção disso?
Na verdade, só comecei a cantar quando tinha quase 16 anos. A minha avó ofereceu-me uma guitarra quando eu tinha 14. Entretanto comecei a aprender e ia tocando com amigos. O canto só apareceu mais tarde porque era – e sou – muito tímido. Só mais tarde comecei a explorar essa vertente. Achava que até tinha algum jeito, mas não tinha a confirmação porque nunca tinha mostrado a ninguém o que era capaz de fazer. Mas quando comecei a cantar nunca mais me calei [risos].
Não era, portanto, um sonho de criança…
Nunca foi uma coisa que me passasse pela cabeça. O meu pai está ligado à área da construção civil e das energias renováveis e eu sempre me imaginei a trabalhar com ele, a dar continuidade ao negócio de família… Durante muitos anos, o meu objetivo era ser engenheiro civil. Claramente, não foi esse o meu caminho, mas estou muito feliz por isso. A música apareceu mais tarde, mas quando surgiu foi em força e não tive mais dúvidas. Sempre gostei de música, toda a minha família é muito musical, mas não pensava nela dessa forma.
Perdeu-se um engenheiro, mas ganhou-se um cantor de muito sucesso… Como reagiu o teu pai?
O meu pai ficou muito feliz por eu ter optado pela música. Foi a pessoa que mais me incentivou a seguir este caminho. Tem uma voz fantástica, canta muito bem, sempre foi muito ligado à música. No fundo, sinto que ele se revê em mim. Agarrou o meu sonho como se fosse dele e nunca duvidou do que o filho poderia vir a fazer.
Como chegaste a este nome artístico?
O meu nome é Pedro Fidalgo. Nasci em Amarante há 25 anos. As pessoas que fazem parte do meu núcleo mais próximo tratam-me por Fidalgo. Apesar de cantar em inglês, queria ter um nome que fosse pessoal, que tivesse alguma história. Noble acabou por ser a tradução mais próxima do meu nome.
O que te inspira?
São principalmente coisas que vivo. Gosto muito de escrever na primeira pessoa, acho que escrever sobre algo que vivi facilita muito o trabalho. Tenho sempre muito mais substância para falar ou aprofundar determinados assuntos. Mas também escrevo sobre coisas que leio, notícias que ouço. A inspiração pode surgir nos momentos mais inusitados e das coisas mais simples.
Essa exposição não te incomoda?
Não penso muito nisso, sobretudo pelo facto de cantar em inglês. A língua serve como escudo, é uma proteção para conseguir dizer tudo aquilo que quero e que me vai na alma, sem pensar que estou a expor-me completamente. O inglês ajuda-me muito nesse aspeto. Se quisesse dizer o que digo nas minhas músicas mas em português, nunca conseguiria ter o mesmo resultado. Ia sentir-me muito mais exposto. Nunca teria conseguido escrever uma canção como Honey em português. Não ia conseguir chegar a casa depois de uma consulta e escrever “se eu partir amanhã não chores, porque o teu amor vai ser a minha salvação”. Nunca na vida o conseguiria fazer, não ia conseguir entregar isso às pessoas. Claro que a arte tem de ser genuína e sincera e sinto que é isso que tenho feito. Tenho-me mantido fiel a mim mesmo.
Essa canção, Honey, fala de um momento complicado que atravessaste a nível de saúde. Imagino que tenhas uma relação muito ambígua com ela…
Tenho um amor extremo por esta canção. O facto de a cantar significa que está tudo bem e que superei os problemas que me apareceram no caminho. No início foi um bocadinho difícil, mais até para a minha família e para a minha namorada, que eram as pessoas mais envolvidas em todo o processo. Não é fácil ouvir esta letra, mas depois de tudo passar e de ter ficado bem – felizmente tenho uma saúde de ferro – esta canção tornou-se um hino de superação. Para quem ouve, tem todo o significado que as pessoas lhe quiserem dar, porque essa é a parte mais bonita, é a da interpretação que cada um lhe dá. Para mim, estar em palco e poder cantar esta canção e ver as pessoas a cantarem também, é sinónimo de superação.

Ficaste muito surpreendido a forma como o público te acolheu?
Fiquei. Esperamos sempre que o nosso trabalho tenha sucesso, ninguém começa um projeto a pensar que não vai correr bem. Mas aconteceu tudo tão rápido que tive dificuldade em processar. Foi muito interessante porque escrevi Honey, produzimos a música e ela era para sair em abril. Entretanto, o meu manager entrou no estúdio e disse-me que a canção ia ter de sair dali a duas semanas porque ia ser o genérico de uma telenovela da TVI. Fiquei incrédulo e sem palavras para aquela notícia. Percebi que o meu sonho estava a tornar-se realidade e comecei a preparar-me para entregar a música às pessoas. A novela foi uma rampa de lançamento muito grande e ajudou-me a chegar a muito mais público. Para mim, essa é a parte mais importante, a música vive da partilha. Sinto que consegui juntar muitas histórias diferentes à volta da minha história. Essa foi a parte mais bonita desse processo todo. Há pessoas que me dizem que a Honey marcou uma fase da vida delas ou algum momento especial e isso não tem preço. A parte mais gratificante é saber que as pessoas se ligam àquilo que nós fazemos e que se identificam com as nossas palavras.
Muitas pessoas ficam surpreendidas quando descobrem que és português…
Tenho que fazer um agradecimento à professora Maria do Rosário Barros, minha professora de inglês. Quando escrevi as primeiras letras ia a casa dela mostrar-lhas, para ver se estava tudo bem, se as formas gramaticais estavam bem escritas. Sempre foi muito recetiva, ajudou-me muito nesse aspeto. Quando as pessoas me dizem que ficam surpreendidas por eu ser português, há uma sensação agridoce. Por um lado, é muito bom porque as pessoas comparam-me a artistas incríveis de que eu próprio sou fã, como o John Legend, o Ed Sheraan, o James Arthur… Por outro lado, deixa-me um bocadinho triste porque, em Portugal, há muita gente a fazer muita coisa boa. Senti mais isso agora quando criei este desafio com a RFM para pôr novos talentos a cantar no meu disco. Tivemos mais de 400 participantes. Sentado, a ouvir aquelas vozes, percebi que há muita gente, especialmente nesta nova geração, que tem muito talento e muita coisa para dizer, por vezes não têm é oportunidade. Eu, felizmente, tive oportunidade, tive pessoas que acreditaram em mim e que me ajudaram a levar as minhas palavras até ao público. Mas claro que fico muito agradecido quando o público reconhece o meu inglês. Nunca escondi que o meu sonho era ter uma carreira internacional. Sempre que elogiam o meu inglês sinto-me mais perto de atingir esse objetivo.
Quem são as tuas maiores referências musicais?
O Bruce Springsteen é a minha maior referência, principalmente a nível de espetáculo. Acho que ele é um performer incrível, e toda a gente que pisa um palco devia assistir a concertos dele, porque tem muito para ensinar. Estamos a falar de uma bagagem de quase 50 anos de carreira. A banda da minha vida foi e será sempre The Doors, mas também ouço coisas mais recentes, como o Harry Styles (que eu sinto que é o David Bowie desta geração, e digo-o sem medo). Gosto muito da Dua Lipa, para mim é das melhores vozes da atualidade, tem uma voz que se reconhece em qualquer lado. Também ouço muito Guns n’Roses, Aerosmith ou Coldplay. Outro artista de que gosto muito é o James Blunt. É muito divertido, consegue brincar com a sua própria carreira. O que ouço vai variando muito consoante o estado de espírito.
Como surgiu a ideia de lançar este desafio em conjunto com a RFM?
A ideia surgiu durante a pandemia, depois daquela fase inicial onde não existia mais nada a não ser angústia. Não conseguia compor nem pensar em escrever música, sentava-me ao piano e não saía rigorosamente nada. Estávamos a atravessar um momento de incerteza muito grande e isso refletia-se em todos os aspetos. No campo criativo refletiu-se muito. A dada altura comecei a pensar em qual poderia ser o meu contributo para um setor que estava a sofrer tanto como o da cultura. Sempre tive a sorte de ter muita gente a acreditar em mim, que me apoiou, e este desafio pretendia proporcionar isso a outras pessoas que têm muito talento mas que não tinham a forma ou os meios de mostrarem aquilo que conseguem fazer. Juntei-me à RFM, esses criadores de sonhos que têm apoiado a minha carreira desde o início, foi uma parceria que para eles também fez todo o sentido. Criámos o desafio no Tiktok e no Instagram Reels para ser mais fácil para as pessoas acederem, até porque estavam presas em casa. Nesse aspeto, as redes sociais ajudaram muito, era a forma mais fácil de se ligarem aos artistas. Tivemos mais de 400 participantes no Tiktok, e mais de 4 milhões de visualizações só no #RFMNobleduetos. O mais difícil foi reduzir esses 400 participantes a dez, e consequentemente, a 5. Essa parte já foi mais divertida porque, depois de chegar à lista dos 10 finalistas, fomos todos para estúdio e ai conheci os vencedores pessoalmente. Cantámos as músicas, colocámos um vídeo no site da RFM, e a escolha dos vencedores ficou totalmente nas mãos do público. Resultou em cinco duetos que fazem parte do meu novo disco. São cinco talentos nacionais. Algumas delas nunca tinham entrado num estúdio, foi muito giro ver a forma como elas pegaram nas minhas canções e lhes deram o seu toque pessoal. Gravámos videoclipes para todas as canções. Entretanto já fiz alguns concertos em que consegui ter algumas destas vozes, mas a primeira vez que nos vamos juntar todos em palco vai ser no dia 25 de junho, no Teatro Tivoli BBVA. São duas estreias: é a primeira vez que vou atuar em Lisboa – e estou mesmo muito feliz por isso – e vai ser a primeira vez que vou ter as cinco vencedoras comigo em palco. Vai ser uma noite muito emotiva e especial.
Já estás a trabalhar num próximo disco ou ainda é cedo?
Não tenho saído do estúdio, tenho trabalhado bastante em material novo. Estou muito entusiasmado com o que tenho estado a fazer mas, para já, nestes concertos vou concentrar-me no Secrets, até porque saiu há muito pouco tempo e ainda o quero levar a muita gente. Já que o primeiro disco não teve a sorte de ver os palcos por causa da pandemia, quero tocar este novo disco ao máximo. Claro que isso não impede que, entretanto, lance canções novas, É sempre uma possibilidade.
paginations here