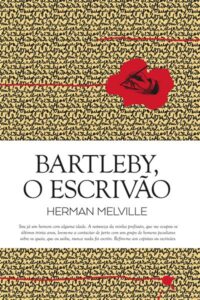Há um encadeado de tragédias pessoais que perpassa o mais recente espetáculo de André Murraças. Talvez por isso não seja mera estratégia cénica, após o prólogo, o autor, e único ator em cena, anunciar que, a partir daí, se manterá em silêncio, deixando para a voz off de Miguel Ponte a narração das histórias. Isto porque a comoção de as contar lhe embargaria a voz, e o espetáculo ficaria seriamente comprometido.
Em causa estão décadas de perseguição, de repressão e de estigmatização a homossexuais em Portugal. Murraças começa por olhar as décadas finais da monarquia e os primeiros anos da república, onde aquilo que as autoridades viam como “ultraje contra pudor” era motivo de riso n’ “os pêssegos” de Bordalo ou nos palcos da Revista. E, em 1912, é publicada a lei da mendicidade, onde se estabelece a criminalização do que se considerou “prática de vícios contra a natureza”. Esta lei só seria revogada em 1982, oito anos após o 25 de Abril.
Voltando atrás, o início dos anos 20 do século passado ficaria marcado pelo chamado “escândalo da Literatura de Sodoma”, que envolveu, sobretudo, os poetas António Botto e Judite Teixeira, censurados devido ao conteúdo homossexual das suas obras, Canções e Decadência, respetivamente. Aos pormenores sobre este episódio e as consequências que teve na vida dos seus protagonistas, Murraças junta ainda uma abordagem a dois casos de figuras públicas: o do bailarino Valentim de Barros (cujo comportamento efeminado e a homossexualidade o “nobelizado” Egas Moniz propôs curar) e o do dirigente do Partido Comunista Português Júlio Fogaça, que ainda hoje se encontra envolto em mistério.
Contudo, o maior protagonismo em Sombras Andantes vai para as histórias dos incontáveis anónimos que sofreram a tragédia de terem tido vidas incompletas, permanentemente condicionadas pelo medo e pela repressão.

“Cheguei a estas histórias recorrendo, sobretudo, aos arquivos da Polícia Judiciária”, explica o autor, lembrando que terão chegado aos nossos dias apenas cerca de uma centena de processos, de entre aquilo que se julga poderem ter sido milhares.
Embora esses arquivos “não elenquem os nomes das pessoas, mas apenas os crimes, muitos deles bastante pormenorizados”, Murraças conseguiu, complementando com outras fontes, como livros, dissertações e a própria informação que tem acumulado ao longo dos anos sobre o passado LGBT em Portugal, “perceber como era a vivência homossexual durante o Estado Novo”. Depois, “há ainda a representação da homossexualidade que é feita na literatura, na poesia, no teatro, na revista à portuguesa ou na imprensa da época.”
A partir daqui, é construído um solo teatral onde o documental se entrelaça com a ficção, recurso possível para trazer de volta estas vidas. “Ainda consegui ter alguns depoimentos pessoais que remontam aos anos 60 e 70”. Porém, lamenta o autor, “para trás, essas vidas tornaram-se praticamente invisíveis.”

Através do vídeo (onde pontuam prestações dos atores Flávio Gil, Francisco Goulão, Joana Manuel, João Sá Coelho e Miguel Ponte), do recurso ao teatro de sombras e a pequenos cenários criados pelo próprio, André Murraças traça ao longo do espetáculo uma cronologia da ditadura que é, simultaneamente, uma espécie de cartografia homossexual da cidade de Lisboa.
Do Cais do Sodré onde os marinheiros procuravam todo o tipo de aventuras; aos urinóis públicos do Rossio ou Praça do Comércio, onde tantos homens viviam clandestinamente a outra face das suas vidas; passando pelos engates no Príncipe Real ou pelas pensões em redor do Parque Mayer, onde a revista à portuguesa recorria até, certas vezes, a abordagens queer, a peça é um olhar urgente sobre uma outra dimensão da história de repressão e terror imposta pelo fascismo em Portugal ao longo de quase meio século.
Integrado na programação paralela à exposição Adeus, Pátria e Família, Sombras Andantes tem estreia agendada para 23 de setembro no auditório do Museu do Aljube, estando em cena apenas à sexta e ao sábado, até 1 de outubro.
Há uns anos, já com uma carreira consolidada no teatro, Tiago Correia decidiu voltar à escola onde se formou, para fazer uma pós-gradução. Neste regresso, o premiado autor (venceu por duas vezes o Grande Prémio de Teatro Português SPA/Teatro Aberto), cofundador da companhia A Turma, sentiu “a nostalgia dos tempos em que se imagina um futuro e se projetam utopias”. E, a esse sentimento, juntou a lembrança de tantas pessoas a quem “a vida definiu outros caminhos”, e acabou por separar.
Esse confronto entre o passado e o presente contaminou Tiago Correia e acabou por dar origem a Estrada de Terra, um texto que, embora tenha tido este ponto de partida, é assumido como “completamente ficcional, embora haja muita coisa que vem de vivências e experiências pessoais, muitas delas incríveis, outras menos boas, que vivi quando descobri o teatro e o meu caminho se cruzou com pessoas novas”, explicita o encenador.

Na peça, é no isolamento de uma casa de campo que encontramos Luís. Este homem, que andará pelos 30 ou 40 anos, terá tido uma noite um tanto ao quanto excessiva, a julgar pelas garrafas de cerveja amontoadas sob uma pequena mesa de cozinha e as roupas espalhadas pela sala.
De súbito, o telefone toca e, pouco depois, percebe-se que é Marco, um velho amigo que não dá notícias há dez anos. Despertado do torpor do sono ou da ressaca, oscilando violentamente entre a compreensão e a ira, Luís enceta uma longa conversa com o amigo que, ao que tudo indica, está a viver uma situação limite e apela urgentemente por ajuda.
Surge então Leonor, a mulher que terá passado a noite com Luís e que, no decorrer da conversa telefónica, se percebe ter tido no passado uma ligação amorosa, mas traumática, com Marco. Aquela chamada abre, então, um caminho sombrio de regresso ao passado, e a paz que Luís procurava naquele local encontra-se irremediavelmente comprometida.

O dispositivo dramático de Estrada de Terra assenta na descoberta sobre quem é o personagem que está do outro lado da linha em conversa com Luís. Ele é o mistério, mas também a revelação de todas as outras, embora, como explica o autor, tenha sido “através dos comportamentos, tantas vezes contraditórios”, das personagens em cena, que o próprio foi “descobrindo Marco.”
No fundo, os três protagonistas, mesmo aquele que nunca chega a estar fisicamente em cena, são o espelho de um velho grupo de amigos cujos caminhos tomados se desencontraram para, num determinado ponto, se reencontrarem. Estrada de Terra torna-se assim menos um olhar geracional e mais uma história sobre como as pontas soltas do passado, independentemente da idade ou do tempo, podem ensombrar o presente.
Protagonizado por Pedro Lamares (que regressa ao teatro, entre a presença regular na televisão e a criação de espetáculos em torno da literatura e da música), e Inês Curado (naquele que é o segundo trabalho que desenvolve com A Turma, a juntar a Turismo, o último original de Tiago Correia), Estrada de Terra conta ainda com interpretações de André Júlio Teixeira e Sofia Vilariço.
Como curiosidade, esta é a estreia em palcos de Lisboa da companhia fundada em 2008 por Tiago Correia e António Parra. A Turma é sediada na cidade do Porto.
“Não que isso tenha uma particular relevância”, como explica Elmano Sancho, mas Jesus, o Filho, “foi escrito em contexto pandémico, quando fomos forçados a ficar confinados, a nos isolar”. Com as devidas distâncias, o isolamento levou-o a usar os hikikimori (termo cunhado no Japão para nomear “indivíduos que padecem de um transtorno de isolamento doméstico motivado pela velocidade e pela pressão do sucesso exercida na sociedade contemporânea”) como ponto de partida para a “história” daquela que era a última peça da trilogia, que o autor intitulou A Sagrada Família, e que inclui Maria, a Mãe, estreada há um ano, e José, o Pai, com estreia prevista para 2023.
Nesta peça é em casa, na solidão do quarto, sob o olhar impotente dos pais, que o jovem Jesus encontra o refúgio onde julga sentir-se seguro. O seu confinamento voluntário corresponde a viver “numa espécie de mundo paralelo, aparentemente menos hostil que aquele que lhe é oferecido pela sociedade”. O isolamento vai, contudo, provocar distúrbios de personalidade e dissociá-lo da sua própria identidade. Perante a incapacidade da família para conter a espiral destrutiva do filho, parecem haver poucas hipóteses para evitar um desfecho trágico.
Num ambiente fantasmático – “não serão as personagens também elas fantasmas”, indaga o autor – a peça procura, sobretudo, “abordar a incomunicabilidade no seio da família, a descrença, a solidão, o desgaste e a reclusão”. Embora estejamos perante um objeto artístico que, como “um espelho”, reflete o desânimo destes tempos obnubilados, Elmano Sancho procura que Jesus, o Filho “inquiete o espectador, e que este o receba como entender, sem que do espetáculo se espere um retrato do mundo.”

“Entre o sagrado e o profano” que o autor assume caracterizar a maior parte da sua escrita dramatúrgica, Jesus, o Filho, tal como as outras duas peças desta trilogia dedicada à família, “existe individualmente, embora estejam presentes alguns elementos de referência, nomeadamente cenográficos, destacando-se um oratório da Sagrada Família.”
Como explica, “o oratório, que ainda hoje circula pelas casas em algumas aldeias do país, é representativo da perfeição personificada pela família de Nazaré”, que assim confronta os comuns mortais “com as imperfeições do seu núcleo familiar, de modo a que as consigam superar”.
Na trilogia, e muito especificamente nesta peça, essa idealização colide “com as falhas e imperfeições que existem em cada família”. Na da peça, o sofrimento de Jesus surge profundamente ligado à relação que este estabelece com os pais, como se a segurança que procurou através do isolamento em casa acabasse corrompida.
Espetáculo de sombras e fantasmas, pontuado por apontamentos de humor negro que têm tanto de desconcertante como de inquietante, Jesus, o Filho é também um espetáculo de atores. Para além de Vicente Wallenstein, que compõe um Jesus nos limites, Elmano Sancho reencontra Joana Bárcia, com quem trabalhou por diversas vezes nos Artistas Unidos, e conta com a participação “muito especial” de Ruy de Carvalho que, a pedido do encenador, acedeu gravar uma das vozes que soa ao protagonista.
Em cena de quarta a domingo, sempre às 19h, no Teatro da Trindade INATEL, até 30 de outubro, Jesus, o Filho parte posteriormente em digressão nacional, estando previstas récitas em Famalicão, Bragança, Castelo Branco, Ponte de Lima, Funchal, Guarda e Faro.
Falámos com os responsáveis por estas livrarias que, apesar de terem implementado projetos com conceitos diferentes, partilham a mesma dedicação, criatividade e, sobretudo, a mesma paixão pela leitura. Regressámos com a convicção de que todos eles podiam subscrever a famosa frase de Máximo Gorki: “o melhor de mim, devo-o aos livros.”

A+A
Centro Cultural de Belém
A Livraria A+A mantém a sua loja na Ordem dos Arquitetos e reinventa-se num novo espaço projetado pelo arquiteto Ricardo Bak Gordon, na Garagem Sul do CCB. Com uma aparência simples, depurada e muito contemporânea, a livraria é dominada por uma estante de 16 metros lineares que contém todo o seu acervo e por uma mesa de 4 metros de comprimento reservada para as novidades. Segundo Maria Melo, sua fundadora, “a primeira livraria inteiramente dedicada à arquitetura, em Portugal, tem tudo o que uma livraria especializada deve ter: design, manuais de construção, paisagismo, teoria, ensaio, monografia, revistas”. A livraria está aberta de quinta a domingo, das 10 às 18 horas.

Snob
Travessa de Santa Quitéria, 32A
A Snob é uma livraria focada em publicações independentes, pequenas edições com circulação reduzida, e tem na poesia uma área bastante forte que, de alguma forma, também se cruza com a edição independente e os livros de pequena tiragem. Tem depois outras áreas com livros especiais escolhidos para a livraria. O espaço é complementado por um atraente pátio onde se pode tomar uma bebida e ler com calma, também utilizado para feiras, lançamentos de livros e outros eventos. Rosa Azevedo e Duarte Pereira dizem-nos que este é o “local ideal para quem procura livros que não vê em mais lado nenhum ou edições raras”.

Tinta nos Nervos
Rua da Esperança, 39
A Tinta nos Nervos é um espaço integrado dedicado ao desenho com o objetivo de o tornar no ponto de ligação entre as várias áreas do livro em que surge. Um local que permite olhar todas essas áreas – Banda Desenhada, livros ilustrados para crianças, livros de arte – com fluidez. Pensado a várias cabeças por Ana Ruivo, Luís Azeredo e quatro sócios, o espaço inclui uma livraria, uma galeria de arte que tenta apresentar sempre que possível obras originais que os artistas produziram para os livros, um café e um pátio onde se produzem eventos como workshops de desenho, lançamentos de livros, música, performances ou projeção de filmes de animação.

Stuff Out
Rua da Quintinha, 70C
O projecto Stuff Out começou no início de 2020. Com o surgimento da pandemia, 2 meses depois, apostou no online lançando um site que correu bem. Há um ano abriu, finalmente, a loja que, segundo Rui Castro, ”tem como missão, numa economia que funciona basicamente em primeira mão, tentar ter um espaço que pega em livros que já foram lidos e voltar a introduzi-los no mercado, promovendo a economia circular da cultura”. A Stuff Out pretende proporcionar a experiência de livraria em segunda mão exatamente com o mesmo tipo de oferta que teria se fosse em primeira mão, não restringindo a oferta e disponibilizando todos os livros em bom estado.

Miosótis
Avenida Rovisco Pais, 14A
“Somos uma pequena editora e sentíamos dificuldade de posicionamento no mercado e de encontrar locais para lançamento de livros”, revela-nos Adelaide Nikolic. Encontrado um espaço ao encontro das suas necessidades e espectativas, surgiu a Miosótis, livraria, sala de leitura e zona de exposições. Uma das suas missões é a de disponibilizar projectos independentes que nunca chegam às livrarias. Têm também livros novos, usados e antigos para um público mais exigente. Adelaide é uma falante iniciante de mirandês, por isso a livraria apresenta uma raridade: praticamente todo o acervo disponível nessa língua.
Em Casa Portuguesa, embora sejam convocadas outras temáticas de que já falaremos, parece haver uma continuidade na reflexão sobre o conceito de família. Com o anterior espetáculo, Casa Portuguesa forma um díptico sobre o tema?
Não se trata de um díptico, mas de uma ideia de trilogia, que não estava de todo prevista quando escrevi Pais & Filhos, e que ficará completa, no próximo ano, com uma versão também escrita por mim da Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente.
Como é que percebeste que o tema não se encerrava no anterior espetáculo?
Talvez tenha sido quando acabei o Pais & Filhos e comecei a pensar neste espetáculo. Percebi haver uma lógica inerente às peças, onde faço uma reflexão mais alargada, e com pontos de vista específicos dependendo de cada uma delas, sobre o que é a estrutura familiar. Essa reflexão levou-me a pensar em como a célula familiar impacta na sociedade, como se altera e, como estrutura social, se liga à nossa vivência, à tradição ou à história.
E, como também é marca em muitos dos teus espetáculos, o ponto de partida é autobiográfico…
Acontece muitas vezes, no meu trabalho, os temas que estou a abordar relacionarem-se com factos autobiográficos ou com as preocupações que estou a viver. Mas, isso é algo que não vejo como uma escolha, até porque não acho que o teatro seja o meio e o lugar para fazer terapia ou para expurgar fantasmas. Entendo, isso sim, que se há um facto biográfico, seja do passado ou do presente, onde se investe muito do nosso tempo, do nosso pensamento e da nossa energia, naturalmente, e se é um artista, isso vai contaminar o que se está a criar, neste caso, mais concretamente, a escrever.
Se Pais & Filhos partia da experiência de tentares ser pai através de um processo de gestação por substituição, em Casa Portuguesa assumes partir do diário de guerra que o teu pai [Joaquim Penim] escreveu para ti e para o teu irmão, e que daria origem ao livro No Planalto dos Macondes.
O espetáculo nasceu, de facto, de um diário escrito em Moçambique, onde o meu pai esteve a fazer a guerra, forçado como quase todas as pessoas que por ela passaram. Para ser preciso, o diário a que me refiro é a adaptação de um outro diário que ele escreveu in loco, à época, e que anos mais tarde, já com alguma distância, também daria origem ao livro. Esse documento, com as histórias e a memória da guerra, acompanharam-me ao longo da vida e, conforme o tempo passava, a perceção que tinha de tudo aquilo ia-se alterando. Se no início me parecia um conjunto de histórias mais ou menos fantasiosas, nas quais não pensava muito, com o correr dos anos foi-me captando a atenção. Quando o meu pai publicou o livro, houve uma espécie de consciencialização e percebi claramente “isto aconteceu, e aconteceu ao meu pai”. Não era, portanto, lenda ou mitologia; era a história do meu pai, de uma geração antes da minha que, diretamente, esteve envolvida numa guerra.
Essa perceção daquela ser também a história de uma geração foi importante para a trazeres para o teatro?
A experiência daquelas pessoas tem uma implicação muito direta na história do meu país e no modo como esse mesmo país se relaciona com esta ferida na sua própria história. Contudo, para a peça, quis tratar o assunto de uma forma narrativa e não documental, até porque há artistas a fazê-lo muito bem. Logo, a abordagem é feita de uma forma ficcional, pelo que Casa Portuguesa não é a história do meu pai, mas uma narrativa inventada que se baseia em algumas das coisas pelas quais ele passou.
É isso que justifica que, desta vez, não estejas em palco?
Não senti necessidade de estar em cena. Em Pais & Filhos interessava-me refletir sobre a paternidade, por isso quis assumir com a minha presença e a minha história o ponto de partida para a peça, já que depois tudo se vai transformando em ficção. Neste caso, sempre foi claro para mim que não estava a escrever nem a minha história, nem a história do meu pai, mas sim uma história que parte dessa realidade. E aquilo que me interessa mesmo é refletir sobre uma ideia de masculinidade, sobretudo nesse tempo de guerra e fascismo, e de como essa ideia do que é “ser homem” se foi alterando e impactando na sociedade, logo e consequentemente, na família.

Entretanto, há uma canção que até dá título à peça …
O fado Uma casa portuguesa que a Amália celebrizou pelos anos 50 e que terá sido escrito, precisamente em Moçambique, na década anterior. Ora, essa é uma canção que sempre me fez alguma confusão, com aquela letra muito identificada com o que era a vida portuguesa, a casa e a família no Estado Novo. Há muitas conversas à volta de se saber se a canção foi escrita com o propósito de servir a propaganda do regime, ou se foi o próprio regime a apropriar-se daquela lógica poética e idílica, muito mentirosa do que era a realidade do país. Embora esse debate não entre aqui, pergunto-me como é que com quase 50 anos de democracia, ainda seja capaz de arriscar dizer que não há português nenhum que não seja capaz de completar um verso da canção. Isto demonstra como ela ainda vive no imaginário popular e como o Estado Novo foi hábil a criar tradição onde ela não existia, fazendo dessa tradição a regra.
Temos então a guerra, a masculinidade, a casa, a família, um fado… O que é, afinal, a peça Casa Portuguesa?
A peça é a história de um antigo soldado que se vê confrontado com os fantasmas do seu passado. Esses fantasmas são pessoas, mas também são ideias, e tudo isso vai entrar em confronto, levando-nos a fazer um percurso, que é de alguma maneira destrutivo, para constatar que essa “casa portuguesa” não só já não nos serve, como é necessário transformá-la.
Há aqui também a vontade de fazer deste espetáculo uma espécie de statment da tua direção artística?
Não diria tanto, mas o espetáculo não passa ao lado de eu ter chegado a esta “casa portuguesa” que é o Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) e que, por sinal, é a Casa do teatro português. Há aqui ecos do que isso significou para mim quando aqui cheguei e até de algumas reações suscitadas pela minha nomeação.
Que reações?
Quando me apresentei como novo diretor artístico, assumi que faço parte da comunidade LGBT e que isso é relevante na medida em que define aquilo que sou e o modo como me expresso e vejo o mundo e a arte. Isso causou reações particularmente negativas junto de algumas pessoas que me encheram a caixa de email com insultos e impropérios. Não deixa de ser estranho como o facto de ter feito uma declaração tão pessoal, mas que achei publicamente relevante, provocasse tantas reações, todas elas vindas de homens brancos.
Isso afeta-te?
Afeta, mas não destrói. Contudo, imagino o que algo assim pode fazer a pessoas que não estão propriamente na minha posição e que não têm nem a minha idade nem a minha estrutura para lidar com este tipo de coisas.
Inevitavelmente, como dizes, isso ecoa no espetáculo…
Os meus espetáculos são muito reativos ao meio, à história, aos factos e acontecimentos do presente…
Porque o teatro é uma arte efémera?
Para mim, o teatro é uma arte do seu tempo, do aqui e do agora, uma arte que se faz a cada dia, com cada contingente de público que vem ao espetáculo, e é assim que esse mesmo espetáculo se constrói. É muito importante que o teatro mantenha essa atualidade constantemente viva e não seja tão só recriação de literatura. Até porque quando me interessa escrever, faço-o para que seja representado.
É-te fácil escrever?
Não, de todo. A escrita é um processo muito doloroso, nada a ver com um prazer absoluto. Costumo dizer que escrever é o contrário de viver, já que forço-me a suspender a vida para o fazer. Tenho de me isolar, e isso é complicado.
Mais de duas décadas depois, um espetáculo sem a chancela do Teatro Praga…
Foram 26 anos….
E com um elenco que, creio, nunca trabalhou contigo, à exceção das Fado Bicha…
Sim, as Fado Bicha fizerem uma participação no Xtròrdinário [espetáculo do Teatro Praga, estreado em 2019, por ocasião dos 125 anos do Teatro São Luiz]. Foram logo uma das minhas primeiras ideias para este espetáculo já que aqui se fala de tradição e, necessariamente, de fado, de tourada, de marialvismo. Todos esses temas são postos em contraste com a vida contemporânea portuguesa e o universo das Fado Bicha vai diretamente ao encontro disso, ou seja, elas fazem a reconstrução de uma tradição portuguesa muito forte, que é o fado, ao mesmo tempo que lançam, tal como vem no disco [Ocupação, 2022] uma crítica fortíssima à ideia do “macho”.
Temas novos?
Digamos que elas abocanham a Casa Portuguesa. E então da canção fazem um picadinho… [risos]
Quanto aos atores, há a Carla Maciel…
Trabalhei com ela num espetáculo que encenei no Teatro Maria Matos, o Perfeitos Desconhecidos, e fiquei muito impressionado com o modo quase obsessivo como trabalha. É uma coisa rara nos atores ver este nível de obsessão e técnica, de entrega ao projeto, e essa atitude impressiona-me, comoveu-me mesmo. A Carla é uma atriz muito completa, com muitas ferramentas e, seguramente, uma das melhores atrizes portuguesas. Fiquei felicíssimo quando soube que ela podia fazer este espetáculo.
O João Lagarto…
Precisava de um pai, de um protagonista. O João Lagarto fez de meu pai numa telenovela na RTP e foi das primeiras pessoas em quem pensei. É verdade que ele não tem propriamente a idade da personagem – terá, talvez, menos dez anos, tanto que não fez a guerra –, mas achei-o perfeito para o papel. Mais a mais, é um excelente ator.
Por fim, há um nome desconhecido, o Sandro Feliciano…
Como precisava de um ator muito novo, fiz um casting e descobri o Sandro. Ele foi o primeiro a fazer a audição e devo dizer que aquilo que pensei foi: “podia parar já por aqui”. O Sandro é um talento: tem 16 anos, estuda na Escola Profissional de Teatro de Cascais e vai ser, seguramente, uma “bomba” no teatro português, porque é, simplesmente, incrível. Este é o primeiro espetáculo que faz e estreia-se logo na Sala Garrett. Faz lembrar a Eunice [Muñoz], que aqui se estreou com 14 anos…
É um elenco pequeno por opção artística?
Sim. É verdade que este é um espetáculo que vai circular muito no próximo ano, e isso exige uma grande mobilidade e agilidade logística. Mas, a dimensão do elenco não influenciou a criação.
Embora abordem assuntos muito sérios, o humor é uma característica dos teus espetáculos. Como é em Casa Portuguesa?
Eu tenho uma atração fatal pelo humor [risos]. Há sempre humor. Muitas vezes, quando estou a escrever e vou reler, constato que tenho de cortar aqui e ali para não haver tanta piada. Tento escrever uma cena só séria, que não tenha nenhuma piscadela de olho a nada que possa fazer rir, mas não consigo. Acho que faz parte da maneira como me expresso no teatro e, de uma vez por todas, tenho que assumir isso como intrínseco. Apesar de tratar de assuntos muito pesados, esta peça é, também, bem-humorada.
Tem sido fácil o artista lidar simultaneamente com o papel de diretor do TNDM II?
Penso que sim. Como diretor deste Teatro há a expetativa de poder continuar a criar, passando esse trabalho artístico a ser reportório desta casa. Nesse sentido, não há aqui uma mudança radical naquilo que é o meu discurso, há sim uma mudança em função da estrutura do TNDM II, que é radicalmente diferente da que tinha no Teatro Praga.
Portanto, ser diretor artístico desta casa não condiciona o artista, e vice versa…
Enquanto artista vou continuar a criar os meus espetáculos, e isso não se confunde com nenhuma declaração de intensões aliada à minha estética ou ao meu universo artístico. Enquanto programador tenho uma missão pública que está inscrita na lei, embora com espaço de interpretação suficiente para não me condicionar. Contudo, sendo eu diretor artístico de um teatro nacional com uma missão determinada legalmente, o mais importante deixam de ser os meus gostos pessoais ou as minhas preferências…
Qual é, então, o grande desafio neste papel de diretor artístico?
Passa acima de tudo por dar ouvidos àquilo que é a cena portuguesa, aliás muito diversa, com muitas estéticas, muitas gerações no ativo e inúmeras possibilidades. Este espaço tem de ser um espelho disso, não um espelho seccionado para determinado ângulo, que eu até posso ter como artista a criar o seu próprio espetáculo. Portanto, não quero incutir ao TNDM II uma estética, embora queira que esta seja uma instituição que defenda a liberdade e a pluralidade, e que seja uma casa cada vez mais aberta. Isso sim, será a única coisa que terá implicações nas escolhas artísticas.
O ano que vem traz um desafio acrescido com o fecho do TNDM II para obras, logo, com a instituição a abandonar o Rossio e a partir país fora, num projeto que se chama Odisseia Nacional. Como é que encaras uma aventura desta dimensão?
Com a tranquilidade de saber que esta casa tem uma equipa muito competente e empenhada para fazer aquilo que, em quase 180 anos, nunca se fez. Se, por um lado, a atividade do Teatro está muito ligada ao edifício, por outro, a missão do TNDM II nunca se resumiu somente ao Rossio, já que tem e deve ter um alcance muito mais amplo. O projeto, a que chamámos Odisseia Nacional, é a oportunidade perfeita para que seja cabalmente aceite que o TNDM II é de todo o território português, como aliás fomos sentindo quando, junto de instituições e entidades locais, íamos sendo tão bem recebidos. Creio que estas sinergias vão proporcionar uma experiência transformadora em todo o território teatral português e, arrisco-me a dizer que, depois de 2023, também o TNDM II nunca mais será o mesmo.
O festival, que tem como sala principal o Cinema São Jorge, apresenta um programa que inclui mais de 100 filmes. O grande destaque vai para o cinema de terror português com o lançamento do livro O Quarto Perdido do MOTELX – Os Filmes do Terror Português (1911-2006), uma homenagem ao produtor Paulo Branco e a estreia de várias obras nacionais. A edição deste ano apresenta ainda vários convidados especiais, entre eles o mestre do terror italiano Dario Argento, que vem apresentar o seu mais recente trabalho, Dark Glasses. Cine-concertos, masterclasses, workshops e um programa dedicado aos mais novos complementam a programação.
As sugestões de Pedro Souto
Final Cut,
de Michel Hazanavicius, Fra, RU, Jap, 2022, 110’

O remake francês do filme de zombies japonês One Cut of the Dead (que ganhou o prémio do público no MOTELX 2017) desta vez realizado por Michel Hazanavicius, realizador de The Artist, e que curiosamente foi o filme de abertura de Cannes 2022.
Something in the Dirt,
de Justin Benson, Aaron Moorhead, EUA, 2022, 116’

Uma comédia negra de ficção científica, um excelente exemplo de um bom filme produzido no contexto das limitações associadas às restrições da pandemia, realizado, escrito e protagonizado pelos estadunidenses Aaron Moorhead e Justin Benson, conhecidos por The Endless, Synchronic, Spring e que presentemente realizam as séries Moon Knight e Loki do universo Marvel.
Fall,
de Scott Mann, EUA, 2022, 107’

Uma escalada traumática a uma torre de rádio abandonada perdida no deserto com mais de 600 metros de altura. Um survival dedicado a todos os que sofrem de vertigens. Realizado por Scott Mann.
Silent Night,
de Camille Griffin, RU, 2021, 90’

A primeira longa-metragem de Camille Griffin tem o seu filho, Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”), como um dos protagonistas. Conta ainda com Keira Knightley, Matthew Goode e Lily Rose-Depp. Um filme pré-apocalíptico de Natal para matar saudades dos jantares de família.
New Religion,
de Keishi Kondo, Jap, 2022, 100’

Uma fantasia art-house de terror realizada por Keishi Kondo, uma nova e inquietante voz japonesa que nos traz a história de uma mulher prostituta que se depara com a peculiar obsessão fotográfica de um misterioso cliente que se torna habitual.
As sugestões de João Monteiro
Saloum,
de Jean Luc Herbulot, Sen, Con, 2021, 84’

Primeiro filme do Senegal exibido no MOTELX cuja ação se inicia na Guiné Bissau e atravessa vários países africanos. Mistura a realidade das guerrilhas a soldo com cultos pagãos africanos num filme que cruza géneros como a ação e o terror.
Os Demónios do Meu Avô,
de Nuno Beato, Por, Esp, Fra, 2022, 90’

Animação portuguesa em stop-motion sobre o confronto entre campo e cidade, lembra AURORA de Murnau em termos temáticos, mas usa todo o tipo de cultura pagã portuguesa (mascarados, cerâmica, banda sonora dos Gaiteiros de Lisboa) em termo de estética.
Good Madam,
de Jenna Cato Bass, Zaf, 2021, 92’

Terror sul-africano realizado por uma mulher e que através de assombrações convoca a história da relação entre negros e brancos naquele país.
O Corpo Aberto,
de Ángeles Huerta, Esp, Por, 2022, 88’

Filme galego/português que põe em causa o papel dos sexos nas tradições ancestrais comuns aos dois países.
Hotel da Noiva,
de Bernardo Cabral, Por, 2007, 95’

Sessão de culto puro. Provavelmente o primeiro filme de terror açoriano (ou melhor, o primeiro filme de ficção açoriano). Filme raríssimo que estabelece uma curiosa ligação aos filmes do também açoriano Francisco Lacerda ou da curta Os Últimos Dias de Emanuel Raposo.
Programação integral aqui
Irene Flunser Pimentel
Informadores da Pide
Entre 1926 e 1974, e mais concretamente a partir de 1933, milhares de denunciantes colaboraram com a PIDE/DGS prejudicando e destruindo a vida de muitos dos seus concidadãos. Motivados pela inveja, concorrência, rivalidade ou vingança, pela frustração provocada por um regime sem mobilidade social, profundamente hierarquizado e elitista, faziam-no para receber benefícios, defender o interesse próprio e por aspirarem à partilha do poder ditatorial. O recrutador e utilizador da delação foi o próprio Estado Novo. Todas as instituições do regime levaram a cabo esse recrutamento e incentivaram o comportamento da denúncia como se de um dever se tratasse. Este livro notável estuda em pormenor este fenómeno, verdadeira tragédia portuguesa, mostrando que houve informadores em toda a sociedade portuguesa e se encontravam infiltrados em todos os domínios da vida pública e até privada. Por fim, levanta uma questão inquietante: será que o prejuízo de décadas de convivência dos portugueses com o medo, a traição e a suspeita terminaram com o 25 de Abril de 1974 ou se mantém no seu comportamento em democracia? Temas e Debates/Círculo de Leitores

Abdulrazak Gurnah
Paraíso
A Academia Sueca considerou Abdulrazak Gurnah, nascido em Zanzibar em 1948, “um dos autores pós-coloniais mais proeminentes do mundo” e atribuiu-lhe o Prémio Nobel de Literatura em 2021. A editora Cavalo de Ferro pretende publicar quatro dos seus principais romances até ao final do corrente ano, estando dois já disponíveis: Vidas Seguintes e Paraíso. Em Vidas Seguintes, o mais recente dos seus romances, o jovem Ilyas junta-se como voluntário à Schutztruppe, a feroz tropa de proteção da África Oriental Alemã na luta contra os britânicos, na guerra que estala em Tanga, em 1914. Mais tarde, na Alemanha, apoia o partido Nacional-Socialista, mas incapaz de escapar às leis raciais nazis, morre num campo de concentração. O livro denuncia a perversidade do sistema colonial que mobiliza partidários que lutam por uma causa que, em última análise, se destina a dominá-los e a destruí-los. Paraíso, o romance que projetou o autor em 1994, é dedicado a outro jovem deslocado, Yusuf, entregue pelo pai, aos 12 anos, a um rico comerciante como forma de saldar uma dívida. Com ele empreende uma longa e perigosa expedição comercial aos confins da selva hostil, descida vertiginosa aos domínios do terror onde “todas as fraquezas do homem vêm ao de cima”. Obras que revelam um consumado contador de histórias que une a tradição narrativa do seu mundo – a África Oriental – à do seu país de adoção (Gurnah vive no Reino Unido desde 1960). Cavalo de Ferro

Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa
Novas Cartas Portuguesas
Novas Cartas Portuguesas, escritas a seis mãos por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, foram publicadas em Abril de 1972. A primeira edição foi recolhida e destruída pela censura de Marcelo Caetano e instaurado um processo às autoras (o processo das “três Marias”, como ficaria conhecido) devido ao conteúdo “insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública” patente na obra. Partindo das célebres cartas seiscentistas da freira portuguesa Mariana Alcoforado, a obra constituiu um libelo contra a ideologia vigente na ditadura fascista, denunciando a guerra colonial, a emigração, a violência, o sistema judicial, a situação das mulheres, a pobreza. Cruzando contos, poemas, relatórios, textos narrativos, ensaios e citações, recorrendo à figura matricial de Mariana Alcoforado, o livro pretende, nas palavras de Ana Luís Amaral, organizadora da presente edição, “desmontar e re-montar o estereótipo da mulher abandonada, suplicante e submissa que dela emergia, estilhaçando fronteiras e limites, quer das temáticas quer da própria linguagem”. Edição anotada, comemorativa dos 50 anos de uma obra fundamental da cultura e da literatura do século XX. Dom Quixote
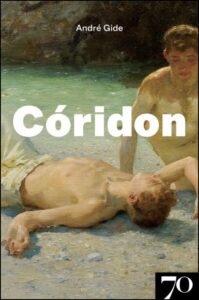
André Gide
Córidon
“A obra consiste num ensaio dialogado, em moldes socráticos, em que se defende a homossexualidade dos pontos de vista biológico, histórico-cultural e sociológico, sem descurar as suas implicações morais no contexto maioritariamente cristão e patriarcal que é o da Europa no início do século XX.” A introdução à presente edição de Córidon foi escrita por Ricardo Mangerona, também responsável pela cuidada tradução, recheada de notas que explicam certas passagens ou referências que dão prova da vasta cultura de Gide: autor de uma obra multifacetada, entre o romance, a poesia, a dramaturgia, o ensaio e a escrita diarística, que fazem dele um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea. A primeira divulgação de Córidon data de 1911 (uma dúzia de exemplares distribuídos pelos amigos). Mal recebido no círculo íntimo do escritor, a obra ficou a maturar mais de uma década, até que em 1924 sai a edição considerada revista e definitiva. Entretanto, Gide tinha já assumido de uma vez por todas a sua orientação sexual, o que confere a Córidon a mesma missão ética (o registo da verdade sobre si próprio) que é apanágio da escrita intimista do autor. Edições 70
Herman Melville
Bartleby, o Escrivão
Herman Melville (1819-1891) autor de Moby Dick, foi um grande escritor apaixonado pelas histórias de marinheiros e do mar, às quais acrescentou uma dimensão metafísica e alegórica, fascinado pelo tema do mal e pelos aspectos mais sombrios da natureza humana. Bartleby, o Escrivão é a mais famosa das suas narrativas curtas onde se incluem outras títulos célebres como Billy Budd, Benito Cereno ou As Encantadas ou Ilhas Encantadas. Bartleby é um escrivão de Wall Street, ao serviço de um escritório de advogados, que se recusa a prestar qualquer tipo de trabalho com uma espécie de demente obstinação. O advogado e os outros escrivães aceitam com surpreendente passividade a sua estranha decisão. O escritor e poeta argentino Jorge Luís Borges dirigiu A Biblioteca de Babel, prestigiada coleção de obras fantásticas, onde incluiu este conto que comparava com o romance Moby Dick, encontrando “semelhanças na loucura dos dois protagonistas e na incrível circunstância de uma tal loucura contagiar todos os que os rodeiam”. Guerra & Paz

Mário-Henrique Leiria
Obra Gráfica
Mário-Henrique Leiria (1923-1980), escritor experimentalista, distinguiu-se nos géneros de vanguarda da sua época como a ficção cientifica ou o policial psicológico que incorporou no surrealismo, movimento ao qual sempre se manteve próximo. Espírito inconformista de ironia contundente, escolheu como alvos principais da sua obra o capitalismo, a guerra, o estilo de vida da burguesia e todas as formas de violência e autoridade. A presente edição, com introdução, organização e notas de Tania Martuscelli, reúne a obra gráfica do autor, muito menos conhecida do que a sua obra literária. Particularmente relevante é a forma como através dela se adivinha a constância temática do seu universo e se percebem as interligações entre obra gráfica e literária a partir das suas múltiplas influências: os livros de aventuras, a banda desenhada, os domínios alternativos da ficção científica, os primeiros contactos determinantes com o modernismo e o surrealismo. Um testemunho eloquente da originalidade de um dos nomes de culto da cultura portuguesa do século XX. E-primatur
Tiago Rebelo
A História do Bichinho-de-conta
Tiago Rebelo, autor de vários romances históricos, como Tempo dos amores perfeitos ou A maldição do Marquês, brinda-nos agora com A história do bichinho-de-conta. Baseada em acontecimentos verídicos, a narrativa remonta a 1768, altura em que Lisboa se tenta reerguer do Terramoto, e dá-nos a conhecer o caráter manipulador e interesseiro do conde de Oeiras e ministro de D. José, Sebastião José de Carvalho e Melo. O ministro, que “tudo decidia com o beneplácito de um soberano fraco e contemporizador” e que ia liquidando os seus inimigos, fingindo que eram inimigos do rei, decide casar o seu segundo filho, José Francisco, de 14 anos, com Isabel Juliana, herdeira de uma grande fortuna. O que o ministro não esperava era que a menina de 14 anos ousasse desafiá-lo. Contra tudo e contra todos, mas consciente do caráter violento do conde de Oeiras, que já havia mandado matar os Távora, entre tantas outras famílias, Isabel Juliana viu-se obrigada a casar, mas nunca se rendeu ou consumou o casamento. Numa cidade demasiado pequena para se esconder segredos, o desprezo com que Isabel Juliana tratava o marido começou a ser comentado na corte, que destratava o ministro pelas costas e, naturalmente, se deliciava com este escândalo. ASA
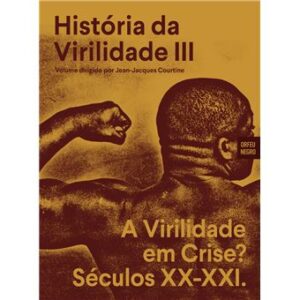
Georges Vigarello (direção)
História da Virilidade III
A virilitas romana, da qual a palavra virilidade deriva, funde as qualidades sexuais (do marido possante, procriador) com as qualidades psicológicas (do homem ponderado, vigoroso, corajoso e comedido), num ideal de força e vontade, segurança e maturidade, certeza e dominação, autoridade física e moral. Esta obra monumental reflete sobre a transformação do ideal viril nas sociedades ocidentais segundo as culturas e os tempos: os universos sociais, as subculturas, o ambiente urbano ou rural, guerreiro ou letrado. Uma questão deu origem ao presente estudo: a virilidade está em crise nas sociedades contemporâneas? Será ela própria um ideal anacrónico, fechado no passado ou estará a passar por mais um processo de metamorfose em busca de novas identidades? O último de três volumes, dirigido por Georges Vigarello, diretor na École des Hautes Études en Sciences Sociales e autor de inúmeros trabalhos sobre as representações do corpo, questiona se o mito viril se encontra em crise e acompanha as suas variações durante o século XX e XXI. Orfeu Negro
Se muitas das propostas da programação de verão da empresa municipal EGEAC são já “clássicos”, este ano estão reservadas algumas surpresas. Entre elas, a literatura de José Saramago (em ano de centenário do escritor) e a poesia de João Monge ao encontro das artes performativas ou as celebrações dos 200 anos da independência do Brasil, com um grande concerto em frente à Torre de Belém.
A programação abre com duas noites de atuações intimistas, no Castelo de São Jorge, no Festival Solo Fest, que reúne propostas de teatro, dança e música. A 19 de agosto, o ator Miguel Sermão interpreta Por Ele, uma comédia sobre a vida conjugal, e a compositora Mafalda Veiga revisita alguns dos seus temas mais conhecidos, apresenta versões de bandas como os Beatles ou David Bowie e ainda alguns inéditos; no dia 20, é a vez do espetáculo de dança Kodé Di Dona, com Mano Preto, naquela que é uma homenagem ao poeta, compositor e historiador cabo-verdiano, e ainda há um concerto da violoncelista e cantora cubana Ana Carla Maza.
A arte sonora e a magia preenchem os últimos dias de agosto através dos festivais Lisboa Mágica, com 15 artistas e 158 espetáculos, repartidos por uma dezena de locais da cidade; e Lisboa Soa que, sob o mote da Reinvenção, se divide nesta sexta edição, entre as Carpintarias de São Lázaro e o Museu de Lisboa – Teatro Romano, com instalações, performances e workshops.
Em setembro, destaque para o regresso da música clássica ao Vale do Silêncio com a Orquestra Gulbenkian sob a direção do maestro Diogo Costa, e com a participação de solistas convidados. Uma Noite no Vale acontece no dia 10, prometendo um grande espetáculo pensado para o parque verde dos Olivais, cujo repertório cruza a música sinfónica com árias favoritas de ópera, opereta e teatro musical, de compositores como Manuel de Falla, Jules Massenet, George Gershwin ou Leonard Bernstein, autor do famoso musical West Side Story.
Integradas no Lisboa na Rua estão também as atuações de mais duas orquestras: a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais que celebra o bicentenário da independência do Brasil num concerto que terá lugar nos jardins da Torre de Belém (dia 7) e a Lisbon Poetry Orchestra (dia 17), no Castelo de São Jorge, que apresenta o último trabalho intitulado Os Surrealistas.
No Museu de Lisboa – Palácio Pimenta têm lugar duas propostas diferentes, em dois sábados de setembro: no dia 3, a partir das 21h, numa parceria com o MoteLx, um cineconcerto com o filme de Manuel Luís Vieira O Fauno das Montanhas (1926), aqui apresentado em cópia digital restaurada pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, acompanhado ao vivo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. No dia 17, o fadista Hélder Moutinho e a atriz Maria João Luís protagonizam literalmente o espetáculo A Voz e a Alma, cantando, declamando e interpretando a poesia singular de João Monge.

Ainda em setembro, sobem ao palco dois livros. No Largo José Saramago (antigo Campo das Cebolas) terá lugar, no dia 3, a partir das 21h30, A Passarola, uma adaptação teatral livre, baseada no romance Memorial do Convento do escritor laureado com o Prémio Nobel de Literatura em 1998, criada pela Trigo Limpo teatro ACERT. No Jardim do Palácio das Galveias, a 18, pelas 17h, é a vez da estreia do espetáculo Mais de Cem Mil Dias, a partir do audiolivro com o mesmo título de Inês Pupo, com ilustração de Ricardo Machado e músicas de Filipe Raposo e Gonçalo Pratas.
A Dança tem lugar cativo no Lisboa na Rua. Nas tardes de domingo, sob o lema Dançar a Cidade, o convite é para ter aulas ao ar livre, de Flamenco e Sevilhanas (na Quinta das Conchas), Danças Tribais Africanas (no jardim do Palácio das Galveias), Samba e Forró (no Parque Urbano Moinhos de Santana) e Salsa e Merengue (Largo José Saramago – Campo das Cebolas), a partir das 17h.
Outras expressões artísticas têm presença assídua nesta programação como a videoarte com o festival FUSO, durante 5 dias e em diversos locais da cidade, e o Cinema com o projeto Cinema no Estendal com dois dias de sessões ao ar livre.
Programa integral aqui.
Depois de uma batalha vencida, D. Pedro, príncipe de Aragão, e os seus fiéis companheiros, os fidalgos Cláudio e Benedito, chegam à casa de Leonato, em Messina. Decidido a casar Cláudio, D. Pedro acorda com Leonato o matrimónio do amigo com a filha deste, a bela e virginal Hero. Contudo, surge o vil D. João, meio-irmão de Pedro, que, com a ajuda de um lacaio, urde um plano para pôr em causa a honradez e castidade de Hero e frustrar os intentos do irmão.
Entretanto, D. Pedro e Cláudio estão decididos a mostrar ao outro companheiro, o cético Benedito, as virtudes do amor e do desejo. Com a ajuda de Hero e de Margarida, sua dama de companhia, todos assumem o papel de Cupido, tentando que Benedito e a rebelde sobrinha de Leonato, Beatriz, se apaixonem. Mas, tal intento é bem mais árduo do que poderia parecer.
Assim se pode resumir em poucas palavras a génese da ação de Muito barulho por nada, a comédia de Shakespeare que António Pires e a companhia do Teatro do Bairro levam, a partir de 27 de julho, ao belíssimo cenário das Ruínas do Convento do Carmo, e que recupera “a bonita tradução que Sophia [de Mello Breyner Andresen] fez para o Teatro da Cornucópia em 1990.”

“Embora não tenha presente na memória muito do espetáculo, lembro sempre a beleza dessa tradução, com todo o preciosismo das palavras e a riqueza do vocabulário que a tornam muito bonita”, explica o encenador António Pires para justificar a opção. “Se Shakespeare já de si é tão bonito, nesta tradução ainda mais, mas como desejo sempre que o público saia do espetáculo percebendo tudo o que aqui se passou, suavizei alguns trechos, sobretudo no verso, para que o lado mais poético não disperse a atenção.”
E Muito barulho por nada, comédia em que as sensações desempenham um papel crucial, bem a exige para que, como alguns dos seus personagens, o mais incauto espectador não se deixe levar pelos enganos.
Talvez um deles, como lembra Pires sublinhando a complexidade do texto e das suas personagens, seja considerar a peça uma comédia sobre o amor. “Muito barulho por nada é, sobretudo, uma comédia sobre o casamento enquanto convenção social”. Basta ver como passivamente Hero aceita ser desposada por Cláudio, num acordo tácito entre D. Pedro e o pai da jovem, com a cena a conter um diálogo “profundamente misógino, bem capaz de alguns enfurecimentos nos dias que correm.”

Porém, Shakespeare depressa vai desmontar essa dose massiva de misoginia através de Beatriz, a personagem que, como observa o encenador, o Bardo pôs a anunciar “eu sou o bobo”, logo “a poder dizer, sendo mulher, tudo aquilo que só a um bobo é permitido”. Esta estratégia bem engenhosa “permite que possam ser colocadas em causa as convenções patriarcais vigentes na sociedade isabelina, através de um discurso quase revolucionário, libertário e até feminista.”
Por outro lado, Beatriz e Benedito, o par da peça sobre o qual as setas dos aprendizes de Cupido são lançadas e parecem constantemente falhar, acabam por representar a hipótese do casamento por verdeiro amor. Apesar de constantemente o negarem, de mentirem um ao outro, e da mentira fazerem arma de sedução, são eles que no final mostram como o amor pode ser revelador de todas as verdades.
Com interpretações de André Marques, Carolina Campanela, Carolina Serrão, Eduardo Frazão, Graciano Dias, Gonçalo Norton, Hugo Mestre Amaro, João Barbosa, João Sá Nogueira, João Veloso, Mariana Branco e Mário Sousa, Muito barulho por nada está em cena até 20 de agosto, de segunda a sábado, às 21h30.
Foi em jeito de balanço de oito anos em funções que Aida Tavares iniciou a apresentação da extensa, e muito rica e diversificada, temporada artística do São Luiz Teatro Municipal para os próximos meses. Como a própria considerou, esta é “uma temporada ansiada”, já que muitos dos espetáculos agora anunciados “estavam já em agenda há algum tempo, mas foram sendo adiados por culpa da pandemia.”
Quando o São Luiz reabrir em setembro, após as férias de verão, as atenções centram-se no regresso ao teatro municipal da dramaturga, encenadora e realizadora brasileira Christiane Jatahy. Revelada em Portugal, no início do século, no Festival de Almada, Jatahy tem sido presença constante no circuito teatral europeu, destacando-se o estatuto que Lisboa lhe atribuiu, em 2018, como Artista na Cidade. Notabilizada pelas suas versões dos clássicos de Strindberg (Júlia, a partir de Menina Júlia) e de Tchekhov (E se elas fossem para Moscou, a partir de As Três Irmãs), Jatahy destaca-se no modo particularmente inventivo, e até radical e subversivo, como conjuga as linguagens do teatro e do cinema.
A criadora carioca, recentemente distinguida em Veneza com o Leão de Ouro, apresenta O Agora Que Demora: Nossa Odisseia II, sucessor de Ítaca (2018), espetáculo estreado, precisamente, no teatro lisboeta, e que dá sequência ao olhar muito particular da criadora sobre A Odisseia de Homero. Este fechar do díptico é essencialmente “um filme que atinge toda a sua dimensão quando dialoga com o teatro”, proporcionando ao espectador uma inquietante viagem entre a Palestina e a Amazónia, passando por campos de refugiados no Líbano e na Grécia.

A propósito de inquietantes e criativas formas de diálogo entre teatro e cinema, a 6 e 7 de abril do próximo ano, o São Luiz apresenta, pela primeira vez, uma criação da notabilíssima Katie Mitchell. Numa coprodução com a Schaubühne de Berlim, o trepidante clássico de Virginia Woolf, Orlando, é traduzido para uma versão “live cinema” onde está plasmado todo o virtuosismo de Mitchell no domínio técnico e na cena, naquele que será, muito provavelmente, um dos momentos mais esperados da temporada teatral em Lisboa.
Ainda no plano internacional, outro regresso à capital: Pippo Delbonno. O criador italiano foi desafiado pelo Teatro São Luiz a criar um espetáculo sobre a cidade do Tejo, explorando simultaneamente a sua ligação com África, especialmente Cabo Verde e Angola. O resultado é “uma viagem musical e lírica” que enaltece “a especial ligação sentimental” do autor a Lisboa. Entre o elenco luso-italiano, Amore (8 a 12 de novembro) conta com as participações de Aline Frazão e Pedro Jóia.

“O enorme orgulho por atingirmos
a paridade entre criadores homens e mulheres”
Foi uma das prioridades da atual direção artística procurar dar, ao longo dos anos, um crescente protagonismo a criadoras femininas. Como lembrou, na cerimónia de apresentação da Temporada 2022/23, a ainda presidente da empresa municipal EGEAC, Joana Gomes Cardoso, “Aida Tavares procurou fazê-lo bem antes desta questão parecer prioritária, como é hoje”. Não será portanto nada surpreendente que a diretor artística anuncie “o enorme orgulho” em atingir nesta temporada “a paridade entre criadores homens e mulheres.”
E as protagonistas femininas são muitas, destacando-se Beatriz Batarda, que revisita uma comédia musical que dirigiu na principal sala do teatro, em 2011, com textos de Karl Valentin. Volvida mais de uma década, a encenadora apresenta, com o mesmo elenco (Bruno Nogueira e Luísa Cruz, a quem se junta agora Rita Cabaço), Outra Bizarra Salada (fevereiro de 2023), espetáculo que assim se chama “porque se os tempos mudaram, também artistas e intérpretes cozinham com novos ingredientes e temperos”. Batarda voltará ao Teatro São Luiz, em abril, com mais um espetáculo (C., Celeste e a Primeira Virtude) e uma vídeo-instalação (Corpos Celestes).

Outras criadoras em destaque são Cátia Terrinca, que apresenta dois projetos destinados aos mais jovens – Mil e Uma Noites e Invencível Armada; Sara Carinhas, de volta ao teatro onde se estreou como criadora e atriz em Última Memória; Cucha Carvalheiro, com a estreia do original de sua autoria Fonte da Raiva, que a própria protagoniza ao lado de um elenco de luxo, onde pontuam Filomena Cautela, Manuela Couto ou Sandra Faleiro; Olga Roriz, que coreografa uma peça emblemática do dramaturgo alemão Peter Handke, A hora em que não sabíamos nada uns dos outros; e Rita Lello em Isadora, Fala!, um solo dedicado à bailarina norte-americana, precursora da dança moderna, Isadora Duncan.
Outros sublinhados da temporada são o regresso da ópera à sala principal do São Luiz, com I was looking at the ceiling and then I saw the sky de John Adams, numa encenação de Miguel Loureiro e Miguel Pereira, com direção musical de Martim Sousa Tavares; e, mesmo a fechar a temporada, um novo espetáculo de Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo, apetitosamente intitulado O Livro de Pantagruel. Por sinal, uma das mais aplaudidas criações da dupla – A Reconquista de Olivenza – regressa a palco já neste próximo mês de outubro.
A programação integral pode ser consultada no site do São Luiz Teatro Municipal.
paginations here