
Bernardo Santareno
Teatro I
O médico e escritor António Martinho do Rosário (com o pseudónimo literário de Bernardo Santareno) integrou em 1957, a equipa de médicos da frota bacalhoeira portuguesa, primeiro no arrastão David Melgueiro, depois no navio-motor de pesca à linha Senhora do Mar e, por fim, no navio-hospital Gil Eannes. Experiência que serviria de material para Nos Mares do Fim do Mundo, obra singular, misto de diário, livro de viagens, reportagem, narrativa poética e aventura, e para O Lugre ou A Promessa, duas peças fundamentais do maior dramaturgo português do século XX. Para além desses dois títulos, complementam o primeiro volume dedicado ao teatro de Santareno, as seguintes peças: O Bailarino, A Excomungada, O Crime da Aldeia Velha e António Marinheiro (O Édipo de Alfama), textos que o consagram como poeta de teatro. Escreve Ana Paula Medeiros na introdução à presente edição: “Poeta da sombra lutando com a luz, procurando o seu destino e sua força. Poeta da vida como mistério, que, indizível, toca o eu e o outro e os empurra para a redenção na palavra e no silêncio, na transfusão libertadora que é o teatro para Bernardo Santareno.” E-Primatur
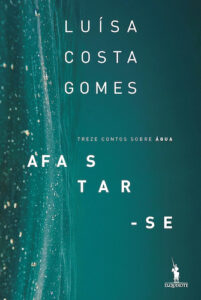
Luísa Costa Gomes
Afastar-se
Numa dos contos deste livro que dá titulo à coletânea, Luísa Costa Gomes relembra-nos que o poeta Lord Byron foi o fundador da natação competitiva em mar aberto. Completada a travessia do Helesponto, Byron escreveu à mãe: Tenho mais orgulho nesta proeza do que em qualquer outra glória, poética, política ou retórica”. Giulia, a jovem protagonista da narrativa, revê-se nas proezas do poeta que “desde criança se lançava a charcos, lagos, rios, canais, estreitos e a toda a água que se lhe atravessasse no caminho”. Luísa Costa Gomes colecionou ao longo de mais de cinco anos contos que de uma maneira ou de outra tem a água como tema central ou inspiração. “Ela está sempre presente, doce, clorada, salgada, mais larga ou mais discreta, no oceano aberto onde se experimenta o abandono e a sobrevivência, no duche redentor que muda em narrativa irónica uma experiência de quase morte, na saliva que prepara a cinza, na piscina adorada que é meio de transmutação alquímica”. 13 belíssimos contos onde “na vida da água que nos faz sonhar [só de olhar] reconhecemos a nossa própria sobrevida.” Dom Quixote
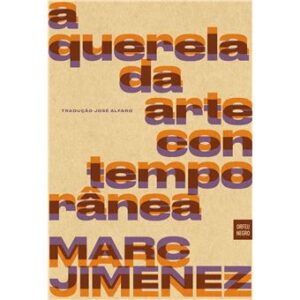
Marc Jimenez
A Querela da Arte Contemporânea
As vanguardas do século XX parecem ter inviabilizado as convencionais categorias estéticas e o grande público reage frequentemente com alguma perplexidade, e até aversão, perante obras que não compreende. Marc Jimenez, filósofo e germanista, professor de Estética na Universidade de Paris I, procura responder a uma questão essencial: como julgar a qualidade artística de objetos e de práticas quando já não existem critérios nem normas de referência? Esta obra traz a lume o controverso tema da “decadência da arte”, identificando os debates e polémicas que opõem defensores e detratores da criação artística contemporânea. A questão que se levanta, segundo o autor, já não é tanto a dos limites estabelecidos para a criação, mas a da inadequação dos conceitos tradicionais — arte, obra, artista, etc. — a realidades que aparentemente já não lhes correspondem. O verdadeiro interesse destas querelas vai depender, de acordo com Marc Jimenez, “da vontade que os diferentes atores do mundo da arte ocidental revelem para se oporem a que a criação artística se reduza a ser apenas o eco fiel do que a sociedade espera dela.” Orfeu Negro

Julian Barnes
O Homem do Casaco Vermelho
No mês de Julho de 1885, chegam a Inglaterra três franceses que, como escreveria mais tarde Henry James, seu companheiro durante dois dias, “ansiavam por ver o esteticismo londrino”. Eram eles: o Príncipe Edmond de Polignac, o Conde Robert de Montesquiou- Fesensac e Samuel Pozzi, plebeu, médico da melhor sociedade, ginecologista pioneiro, que alguns anos antes, fora retratado numa das mais brilhantes telas de John Singer Sargent, em casa, com um impressivo roupão escarlate (o homem do casaco vermelho). Este livro inclassificável é, em parte romance, em parte biografia dos três amigos e, por fim, um veemente retrato da Belle Époque através das suas figuras modelares. Época cosmopolita repleta de glamour, com um clima cultural e artístico marcado por um profundo hedonismo, mas que revela também um lado negro, “um tempo de neurose, mesmo de ansiedade nacional histérica, carregado de instabilidade politica, crises e escândalos”, sem esquecer as intensas manifestações de racismo (o célebre “caso Dreyfus”). Simultaneamente, detém-se num dos tipos característicos desta era, o dandy, “aquele que persegue a perfeição do gosto.” Quetzal
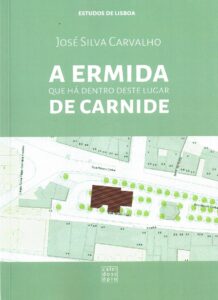
José Silva Carvalho
A Ermida Que Há Dentro Deste Lugar de Carnide
Esta obra centra-se na história de um edifício demolido há mais de 160 anos e a sua importância no contexto de Carnide. Segundo o seu autor, o arquiteto José Silva Carvalho, terá sido porventura a construção da Ermida de Carnide e do seu antigo rocio, a estar na base da formação e continuada existência deste núcleo nos subúrbios da antiga Lisboa. Para além da história da Ermida, o autor debruça-se sobre o seu espólio, bem como sobre alguns outros edifícios circundantes como o pequeno hospital/gafaria e o suposto antigo paço. Outros usos existentes neste rossio, designadamente os ligados à taberna ao vinho e à festa, contribuíram para as dinâmicas que durante séculos se desenvolveram na envolvente da ermida e do seu pequeno cemitério. Trata-se de um exercício de reflexão que pretende contribuir para o conhecimento do núcleo antigo de Carnide, particularmente na área do património edificado, tendo a Ermida do espírito Santo como referência principal de análise. Ed. Caleidoscópio

Paulo Dentinho
Sair da Estrada
“Livro de descobertas”, como lhe chamou Mário Zambujal, composto por 13 histórias que se leem de um fôlego, com uma escrita rápida, direta e eficaz, própria do jornalismo, Paulo Dentinho revela os acontecimentos que testemunhou a partir dos bastidores das reportagens. Enviado especial, repórter de guerra, correspondente em Maputo, Díli e Paris, entrevistou personalidades de relevo internacional como Ytzhak Rabin, Muammar Kadhafi, Emmanuel Macron ou Lula da Silva, entre outras. Mas foi sobretudo na reportagem que se destacou. Das ruas mais modestas aos palácios reais e presidenciais, cruzou-se com histórias simples de gente anónima e com as dos grandes decisores políticos do mundo contemporâneo. Testemunhou dor, morte, revolta e resignação. E conta neste livro o que viu. São reportagens “com pessoas reais lá dentro”, como escreve Teresa de Sousa no prefácio à presente edição: “Cada história tem pessoas de carne e osso, que estiveram lá, que vivem lá, que sofrem as consequências ou alimentam as esperanças. (…) É a partir dessas histórias que nos leva de novo às notícias de que já nem nos lembramos. (…) Para que a memória mão se apague e as tragédias não sejam esquecidas.” Caminho
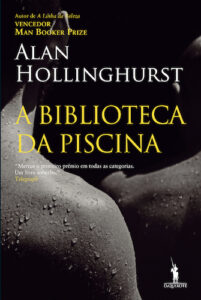
Alan Hollinghurst
A Biblioteca da Piscina
Alan Hollinghurst, romancista inglês nascido em 1954, alcança o Booker Prize de 2004 e a fama internacional com a A Linha da Beleza, retrato impiedoso da plutocracia da era Thatcher e dos seus efeitos sociomorais, e uma fina análise da complexidade das relações humanas numa época marcada pelo aparecimento da SIDA. A Biblioteca da Piscina (1988), a sua primeira obra, centra-se igualmente num relacionamento homossexual. Durante um engate numa casa de banho pública, um jovem salva a vida de um homem muito mais velho, um Lord suficientemente colunável para aparecer nos diários de Evelyn Waugh. O aristocrata encarrega o jovem de escrever a sua biografia e entrega-lhe os diários em que confiou os pormenores da sua vida, valioso documento sobre o universo e a cultura gay inglesas. Mas este romance é muito mais do que isso. Os livros de Hollinghurst constituem, invariavelmente, uma experiência estética inesquecível: o romancista escreve com requintada erudição sobre pintura, arquitetura, design, decoração e antiguidades, música e literatura. Toda a sua obra remete para uma certa tradição literária inglesa: A Linha da Beleza para Henry James; A Biblioteca da Piscina para E. M. Forster. Dom Quixote

João Palma e Rodrigo de Matos
Sem Rei, Nem Roque
Todos sabemos que “cair no conto do vigário” significa sermos enganados ou burlados, mas a origem desta expressão popular é bem menos conhecida. Também o significado de expressões como “uma questão de lana-caprina”, “encanar a perna à rã”, “dar com os burros na água”, “vai para o maneta!”, “rés-vés Campo de Ourique” ou “fazer uma vaquinha”, se perde no tempo. Sem Rei, Nem Roque tem como autores João Palma, que entre 1990 e 2006 foi jornalista do Público e que, em simultâneo, escreveu diversas peças, em especial na área do desporto (atletismo, corridas de estrada), bem como pequenas crónicas e artigos ocasionais, e Rodrigo de Matos, cartunista do semanário Expresso, com o qual colabora desde 2006, assinando atualmente a coluna Capital de Risco no caderno “Economia”. Juntos embarcaram nesta viagem às origens das expressões populares mais usadas pelos portugueses. Um livro útil para miúdos e graúdos, com ilustrações divertidas, que conta tudo “tintim por tintim”, que não é “de borla”, mas também não “custa os olhos da cara.” Oficina do Livro
Os pilares da Ponte Vasco da Gama, campos de basquetebol, empenas de prédios, atravessamentos pedonais e muros de comboio vão receber intervenções de diversos artistas, alguns em estreia em Portugal, outros consagrados. Durante nove dias, é possível assistir a workshops ou visitar, a pé e de bicicleta, os novos trabalhos que prometem dar ainda mais vida àquela zona da capital. E, porque todas as intervenções de arte urbana têm um autor, damos a conhecer a cara de quem dá corpo e forma a esta arte.

Odeith
(Portugal)
www.odeith.com
Conhecido mundialmente pelo efeito tridimensional que dá às suas composições artísticas através do recurso à ilusão de ótica, Odeith marca presença dupla neste festival. Na Gare do Oriente, apresenta a exposição Obliquity, onde, pela primeira vez, se vão poder ver algumas peças anamórficas como as que costuma fazer em espaços abandonados e que normalmente só são vistas na internet ou nas redes sociais. Só quem consegue encontrar uma fábrica abandonada onde eu tenha pintado é que consegue ver a obra ao vivo, diz. A exposição tem um bocadinho de tudo: insetos, carros, umas caveirinhas de animais…. Haverá sinalização no chão, onde as pessoas terão de se situar para conseguirem ver a tridimensionalidade da peça. Convém que levem telemóvel, porque a maior parte dos efeitos só são vistos com uma câmara, acrescenta.
Para além desta mostra, Odeith também vai intervencionar um pilar da Ponte Vasco da Gama. A palavra Lisboa será ali pintada com um estilo tridimensional, sem chocar muito, simulando a presença de umas letras de pedra na ponte”, conclui.

Thiago Mazza
(Brasil)
www.thiagomazza.com.br
A minha especialidade é pintar plantas, esclarece Thiago Mazza, considerado um grande expoente do muralismo contemporâneo brasileiro e conhecido no cenário da arte urbana contemporânea pelo seu domínio na representação da fauna e da flora.
Atualmente, o seu tema de estudo são as plantas tropicais mas, para a sua intervenção no Passeio do Báltico, a primeira em Portugal, optou por trabalhar a partir das plantas daqui. A minha composição para este festival vai ser um pouco diferente, já que costumo trabalhar plantas com uma estrutura exuberante e folhagem densa. Mas aqui vou ampliar muito as flores que apanhei já em Portugal, como a papoila e a alcachofra selvagem, e vou mostrar que elas são muito mais que uns pontinhos roxos, amarelos ou vermelhos que passam despercebidos no campo. A minha intenção é que as pessoas valorizem a flora nativa e que vejam como são bonitas as flores que crescem espontaneamente num campo, num lote vago ou até num quintal abandonado”, explica o artista brasileiro.

Tomáš Junker aka PAUSEr
(República Checa)
www.instagram.com/pausrr
PAUSEr é um dos quatro nomes que formam o grupo Visegrado, coletivo de artistas da Polónia, República Checa, Hungria e Eslováquia que nasceu por ocasião do 30.º aniversário do grupo Visegrado (V4) e no âmbito da presidência polaca do V4 (julho de 2020 – junho de 2021).
Convidados para o festival através das embaixadas de cada um dos países, PAUSEr (República Checa), Fat Heat (Hungria), RCLS (dupla da Eslováquia) e Mikołaj Rejs (Polónia), unem-se para criar um mural na Avenida de Pádua. O conceito inicial era compor uma peça sob o tema da sustentabilidade e ecologia. uma vez que cada artista tem o seu próprio estilo, e por isso era difícil fazer uma peça única, decidimos fazer composições separadas e uni-las através do background e da fusão das cores e do tema, avança o artista checo. Na minha obra em específico, tento juntar o velho e o novo, o presente e o futuro, combinando temáticas tradicionais de Portugal e da República Checa, conclui.

Jacqueline de Montaigne
(Portugal)
www.jacquelinedemontaigne.com
Pintora e muralista, Jacqueline de Montaigne é uma autodidata que só em 2018 decidiu enveredar pela carreira artística a tempo inteiro. Recorrendo à arte figurativa dramática, infundida na natureza, a sua obra encontra-se representada tanto em coleções internacionais privadas como públicas e na proeminente cena da arte urbana em Portugal.
A sua intervenção artística no muro da linha do comboio no Passeio do Báltico é um lembrete de que a nossa própria existência é condicionada pela nossa capacidade coletiva de proteger a fauna e a flora e encontrar um equilíbrio para coexistir com e dentro do nosso mundo natural. O meu mural mostra duas figuras espelhadas frente a frente – uma humana, a outra composta pela fauna e flora local (magnólia, verdilhão e arctia vilica). A figura humana tem a fauna e a flora correspondentes tatuadas no seu corpo como uma ode à natureza. As duas figuras são ligadas por um círculo de cobre criado a partir de uma folha de cobre real, que simboliza a continuidade, acrescenta a artista anglo-portuguesa.

Los Pepes
(Portugal)
www.instagram.com/lospepesstudio
Los Pepes Studio é uma dupla de artistas composta por Meggie Prata e Francisco Leal que realizam a sua intervenção no Casal dos Machados. Ligados às artes plásticas e ao design, têm vindo a desenvolver um corpo de trabalho geométrico, cheio de padrões e com alguns elementos antropomórficos.
Para o espaço da Rua Padre Joaquim Alves Correia, e sob o tema da multiculturalidade, propõem-se representar todas as pessoas, independentemente da sua raça ou da sua história de vida. Focando-se no crescimento pessoal, recorrem às plantas, seres que precisam de cuidados como todos nós. Também representamos muita geometria, que é a nossa linguagem, e porque gostamos de associar os sentimentos à lógica. No centro da composição podem encontrar-se smiles, que acabam por ser uma representação de pessoas sem raça, sem nenhuma cultura associada, sem religião. Representar determinada cultura é sempre redutor, por isso optámos por representar toda a gente. E a partir desses smiles do centro, a composição cresce para fora, mostrando que não somos todos iguais e que cada um cresce e evolui de formas diferentes, concluem.

Juan José Surace
(Argentina)
www.instagram.com/juanjosurace
O consagrado artista argentino Juan José Surace foi um dos vencedores do open call artista Muro Lx_21 e estreia-se agora em Portugal com a intervenção String Quartet, uma obra que fala de integração através da cultura, nomeadamente da música. Este lugar de encontro, diálogo e compreensão entre culturas mostra cinco animais de cinco continentes diferentes a tocarem um instrumento tradicional de cada região, revela. A ideia do mural, que tomará conta de uma empena de um edifício no Casal dos Machados, é mostrar que a música requer uma coordenação que fomenta o diálogo e o entendimento entre culturas. O meu desenho, por ser realista, aborda a questão da possível união e integração através da arte que, lamentavelmente, parece ser o único ponto de entendimento entre os povos, conclui.
A viver em Barcelona desde 1998, Juan José Surace começou a dedicar-se às intervenções em espaço público e ao muralismo em 2017. Os seus murais podem ser vistos em Espanha, Argentina, Itália, EUA, França e, a partir de agora, em Portugal.

André Silva aka Trafic
(Portugal)
www.andretrafic.com
Um dos pilares da Ponte Vasco da Gama está a cargo de André Trafic, artista urbano português cuja linguagem emerge, atualmente, entre murais, azulejos e esculturas. Para a sua composição, inspirou-se no conceito de flow, que marca muito a cultura urbana. Desde o flow de um rapper a rimar, de um b-boy ou b-girl a dançar, até ao flow de umas letras em graffiti, existem movimentos e ritmos que nos criam ressonâncias e provocam sentimentos maiores que nós e que são tão pessoais e únicos que se tornam difíceis de explicar. Tentei então interpretar estes movimentos e sentimentos abstratos para formar uma imagem que transmita um sentimento crescente de união, cumplicidade e respeito como forma de homenagem a toda esta cultura urbana vibrante, diversa e audaz, afirma.
Cada trabalho de André Trafic – que desde pequeno seguiu as pisadas do seu pai, ceramista, descobrindo anos mais tarde o poder de expressão artística do graffiti – é inspirado nas dinâmicas da existência humana, quer em relações interpessoais, quer na nossa relação com a natureza e com o espaço que nos rodeia.
No passado dia 9 de junho, o Museu de Lisboa-Palácio Pimenta apresentou ao público, pela primeira vez, a nova exposição de longa duração. A renovação do conteúdo museográfico era uma necessidade há muito sentida, como nos explicou Paulo Almeida Fernandes, um dos curadores responsáveis por esta operação. “A exposição anterior datava de 1979 e tinha sofrido apenas algumas renovações pontuais. Estava desatualizada em alguns conteúdos, sobretudo face ao crescente conhecimento arqueológico que temos sobre Lisboa, e também precisava de uma atualização museográfica.”
A nova exposição continua a ter como missão contar a história de Lisboa, mas foi enriquecida com novas incorporações, muitas delas resultantes das descobertas arqueológicas das últimas décadas, bem como com uma nova maneira de agregar e expor toda a informação entretanto recolhida. Aliás, leva a designação de Longa Duração e não de Permanente, justamente porque se pretende que seja periodicamente renovada e enriquecida com peças e conteúdos interpretativos.
Tem como título genérico Viagem ao Interior da Cidade, porque, segundo o curador, “Lisboa é uma cidade de dimensões urbanísticas sobrepostas, uma agregação, sobreposição e subtração, de muitos tempos históricos que nos antecederam.”

O percurso expositivo encontra-se agora dividido em três núcleos essenciais. O primeiro é dedicado à história de Lisboa, com uma linha cronológica que se inicia na pré-história e que se estende até às vésperas do Terramoto de 1755. A este núcleo foi acrescentada uma área inteiramente nova, dedicada aos Registos de Santos em azulejo, oriundos da grande coleção do acervo do Museu. O segundo núcleo, igualmente novo, chama-se Lisboa Cidade Cerâmica e aborda a importância que Lisboa teve como cidade produtora e consumidora de cerâmica. O terceiro é dedicado ao próprio edifício que alberga o museu, enquanto símbolo patrimonial de uma vivência aristocrática da capital, a partir do século XVIII.
Há ainda salas para exposições e projetos especiais temporários. Para Paulo Almeida Fernandes, o modo como os conteúdos são expostos é uma das características mais salientes do novo projeto. “A iluminação criteriosa e os conteúdos interativos dão às peças outros níveis de leitura. É uma forma de explicar como essas peças funcionavam no tempo e no espaço em que foram geradas”, sublinha.

A famosa maqueta de Lisboa pré-terramoto, peça icónica do museu, foi uma das que mais beneficiou com a aplicação de novas tecnologias de interatividade, passando a integrar vários níveis de informação em vídeo e 3D, incluindo projeções de geolocalização. “Houve um grande aproveitamento do projeto de 2010 de digitalização e de associação de conteúdos multimédia à grande maqueta de Lisboa. Pretendemos ampliar esses conteúdos, permitindo-nos explorar mais sobre as Lisboas que precederam a atual e de que muitas vezes não temos perceção.”
A equipa curatorial desta exposição de longa duração incluiu também António Miranda, Margarida Almeida Bastos, Fernando M. Peixoto Lopes e Lídia Fernandes.
O Último Banho teve como ponto de partida a história real do nascimento, quase milagroso, de um bebé do sexo masculino numa zona pouco povoada e envelhecida de Portugal. A este facto, o realizador aliou a religião ainda muito enraizada nestas localidades. A narrativa segue Josefina que está prestes a fazer os votos perpétuos, mas que tem de retornar à aldeia onde cresceu para o funeral do pai. O regresso a casa relembra-lhe o passado sombrio e leva-a ao reencontro com o jovem sobrinho, abandonado pela mãe, pelo qual é agora responsável. A adolescência do rapaz, a profunda religiosidade, o perigo de pecado e a ameaça do reaparecimento da irmã, são os desafios que tem que enfrentar.

O filme retrata uma realidade angustiante, difícil, esta vivência contrasta com a alegria associada à história real que serviu de ponto de partida (o nascimento de um bebé numa terra envelhecida). Como é que uma coisa levou à outra, qual a ligação?
Quase todos os meus filmes são uma combinação de várias histórias, ou pelo menos de duas histórias maiores que se combinam e entrelaçam. No entanto, a verdadeira génese deste trabalho foi o sentimento de solidão profundo que vivi quando estava em Inglaterra depois de ter terminado o mestrado. Sentia-me muito sozinho, estava desempregado, os meus companheiros de casa tinham as suas vidas e trabalho, os meus amigos estavam longe. A desolação que vivia levou-me a escrever uma história sobre a solidão. Assim nasceu a personagem de Josefina, uma freira que está prestes a fazer os votos perpétuos e que tem de regressar à sua terra natal, local que odeia, e que a remete para um passado traumático, para cuidar do sobrinho que não vê há anos. A personagem vive a angústia de deixar uma vida em que se sente confortável. Depois ocorreu-me uma história muito antiga, que tinha visto no início da adolescência e que me fascinou: o nascimento de um bebé numa terra onde não havia jovens. No entanto, embora este facto verídico sirva de ponto de partida, o filme não é sobre um nascimento singular, isso é algo que já aconteceu, que é anterior à história que estou a contar.

A narrativa decorre no Douro. A escolha do local foi influenciada pelo facto do David ser do Porto, ou teve outra motivação?
Há uma ligação intrínseca ao facto de eu ser do Porto, por outro lado o Douro tem tido uma enorme projeção, tendo inclusive sido classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. A paisagem é incrível e quando fiz a repérage [o reconhecimento do local do filme] acordava todos os dias naquele lugar incrível, andava de carro por aquelas estradas de vales esculpidos, o que acabou por confirmar aquilo que eu já sabia inconscientemente: aquela paisagem enaltecia a sensação que eu queria que transparece-se no filme. Uma sensação de melancolia, solidão, de erotismo, de enviesado, de complexo. Visualmente aquela paisagem tem tudo isso. Há um mistério, uma beleza e um apaziguamento que não têm explicação e que traduzem aquilo que pretendo das duas personagens.
Como foi feita a escolha dos atores?
A Anabela era a atriz que já tinha em mente há algum tempo, e foi a primeira pessoa a quem pedi para vir ao casting, ela e a irmã, a Margarida Moreira, que faz de irmã da Josefina, a personagem principal. Em relação ao Martim, nunca pensei encontrar um rapaz como ele, com as características físicas que ele tem. Depois de várias pesquisas conseguimos descobri-lo através da True Sparkle, uma agência em Lisboa. Senti que me tinha saído a lotaria. Depois juntei-o com a Anabela num casting para ver se funcionavam em conjunto e percebi que sim – ali havia intimidade.

Como foi trabalhar com dois atores que estão em fases completamente distintas na carreira (a veterana Anabela Moreira e o estreante Martim Canavarro)?
Antes de começar o filme quis ter uma semana sozinho com os dois. Só lhes entreguei o guião muito tarde, porque queria que eles percebessem certas coisas. Estive uma semana em Santarém; primeiro, três dias com o Martim, e depois a Anabela juntou-se a nós. Houve várias conversas que me ajudaram a compreender as referências que ambos tinham sobre o filme e que permitiram conhecê-los melhor, as vivências que tinham tido, a relação com a religião… Descobri, por exemplo, que o Martim tinha vivido numa aldeia, que adorava desporto, no fundo que era um paralelo da personagem que ia interpretar, mas em versão feliz. A partir daí foi apenas necessário criar uma voz para o paralelo, ou seja para o Alexandre, que é a personagem interpretada pelo Martim.
E em relação às cenas de nudez, como foi para um estreante como o jovem Martim Canavarro lidar com essa exposição?
Abordei essa questão precisamente na semana em que estivemos a trabalhar a personagem. Estava preocupado com isso porque era muito importante para o filme ter esse lado visual da nudez, uma vez que é algo que está intrinsecamente ligado à história. Felizmente o Martim aceitou, com leveza, fazê-lo. Foram definidos alguns limites, mas no fim, o próprio Martim disse-me para aproveitar as melhoras cenas, independentemente de haver uma exposição mais explícita.

A sexualidade associada a uma certa transgressão, o desejo oprimido, a dualidade de sentimentos estão presentes neste filme, mas também nos seus trabalhos anteriores. Porque lhe interessa esta dimensão humana?
É o que me move, mas ao mesmo tempo acredito que é o que move o mundo: o desejo. O desejo intelectual e a curiosidade, mas também o desejo sexual, carnal. Somos feitos para ter desejo, é isso que permite a reprodução. Há o desejo, o cio nos animais, depois uma época, segue-se a crise e por fim a continuidade. O desejo e a atração são o motor da nossa continuidade. Instintivamente vou sempre parar a este tema, é algo que me fascina, que me faz questionar. Não o faço racionalmente, é uma coisa que surge de forma instintiva, que está ligada à emoção.
A estranheza instala-se de imediato quando se sabe que este é o primeiro trabalho de um autor e encenador que, até aqui, privilegiou sempre a capacidade plástica e musical das palavras, seja nos espetáculo que dirigiu com os seus próprios textos, seja nos de outros autores (como Martin Crimp ou Copi, por exemplo). Mas, neste insólito Hamster Clown, estamos perante um “Ricardo Neves-Neves”… sem texto.
“Na verdade, já andava há algum tempo com a vontade de trabalhar um espetáculo que assentasse, sobretudo, no lado plástico”, confidencia. Até que ao ver alguns vídeos e fotografias do performer e clown Rui Paixão, “que não conhecia pessoalmente”, Neves-Neves percebeu ter encontrado o parceiro perfeito para uma aventura onde “a transfiguração do corpo e do rosto” assumisse o protagonismo para contar “uma história sem palavras.”
Estamos, portanto, no campo do teatro físico onde, como explica Rui Paixão, “a escrita é radicalmente diferente”. “Aqui, as imagens é que são as palavras, o que leva quem vê a poder ampliar vários significados”, explicita, lembrando que Hamster Clown se situa “num território de grande liberdade conceptual e interpretativa, que permite pôr em cena todas as ideias possíveis e imaginadas.”
É essa liberdade que permite ao espetáculo assimilar incontáveis referências, que percorrem o non sense e o absurdo, tão caros ao teatro de Neves-Neves, e toda uma panóplia de citações plásticas e sonoras, algumas mais explícitas e assumidas que outras, que vão do universo retrofuturista a Lady Gaga, passando por uma multiplicidade de menções que incluem a estética drag (Juno Birch, RuPaul), a leitura quotidiana da pop art (Norman Rockwell), a K-Pop, o cinema de terror (o ulular da coruja ou a luta com um polvo) ou até a escultura renascentista e a pintura de Hyeronimous Bosch.

E tudo começou, como explica Rui Paixão, com a ideia proposta por Neves-Neves de “um hamster que vive dentro da gaiola e consegue escapar”. É a partir da fuga que começa o espetáculo. Através de um “longo e experimental” processo de trabalho, a dupla de criadores desenhou um personagem que assume formas distintas, que o levam do hámster que quer ser humano, ou vice-versa, à figura andrógina ou ao monstro alienígena – notáveis trabalhos de caracterização de Cristovão Neto e de figurinos de Rafaela Mapril.
O que se torna simultaneamente estranho e fascinante em Hamster Clown é a inexistência de limites temporais ou espaciais que possam impedir a fluência da imaginação – previamente, a dos artistas; posteriormente, a nossa enquanto espectadores. A partir do momento em que aquela figura antropomórfica sai da gaiola, começa a aventura de, nós mesmos, sermos colocados permanentemente “fora da caixa”.
Hamster Clown estreia a 23 de junho no São Luiz Teatro Municipal, onde permanecerá em cena até 4 de julho, seguindo depois para Loulé (16 a 18 de julho), Ovar (30 de julho), Odivelas (15 a 17 de outubro), Braga e Ílhavo (em datas a anunciar).
Lançou, recentemente, o disco Zeca, onde homenageia a obra de Zeca Afonso. Era um desejo antigo gravar este disco de tributo?
De certa forma sim, porque a música do Zeca está presente na minha vida desde a infância. O projeto estava lá de forma inconsciente, até que, há dois anos, num almoço com amigos onde estava o Fausto, estávamos a falar sobre o Zeca, e o Fausto lançou-me este desafio. Perguntou-me porque é que eu não gravava um disco dedicado à obra do Zeca. Aquilo serviu como uma espécie de catalisador, e foi a partir daí que a ideia ganhou forma.
Foi difícil fazer a seleção das músicas?
Não posso dizer que tenha sido difícil. Eu queria gravar melodias fortes. As músicas do Zeca não são muito complexas nem muito estruturadas, vivem muito da força das palavras e da força das melodias. Como, neste caso, eu não iria trabalhar sobre as palavras, tive de escolher aquelas melodias que são mais emblemáticas.
Como disse, as músicas de Zeca Afonso vivem muito das letras. Foi um desafio reinterpretar alguns dos seus maiores clássicos?
As melodias são tão fortes que sobrevivem às palavras. Por outro lado, tive a preocupação de produzir temas que “guitarristicamente” fossem interessantes. Havia esse fator, de querer tornar as músicas o mais complexas possível, dentro da elegância das suas composições, das suas melodias. Tornar estas versões objetos guitarrísticos complexos.
Este disco pode, de alguma forma, ter aberto a porta a outros discos de homenagem a cantautores portugueses?
Como instrumentista que sou, estou sempre interessado em transpor a música para a minha guitarra, mesmo quando se trata de música de outros artistas. Claro que já pensei “porque não?” Um dia, quem sabe, fazer versões instrumentais (muito personalizadas, é claro) do Fausto ou do Sérgio Godinho ou de outros autores portugueses contemporâneos. Pessoas que tiveram um peso enorme na música portuguesa.
A pandemia afastou os músicos dos palcos. Como viveu este período?
Passei os últimos 15 anos em perfeita loucura de viagens e de tournées. A pandemia trouxe uma mudança radical à minha vida. Vi-me na contingência de ficar em casa e descobri os pequenos prazeres de não andar sempre a viajar, sempre a fazer concertos e a dormir mal, cada noite num hotel, a perder milhares de horas em aeroportos… pode parecer um pouco egoísta dizer isto, mas, de certa forma, esta paragem forçada não foi nada má. Claro que a pandemia foi terrível para os profissionais da cultura, que ficaram sem trabalho e cujo rendimento desapareceu, mas as nossas vidas são feitas também disto. Não sei se vamos conseguir tirar alguma lição daqui… Já tive mais fé na nossa capacidade de aprender com os erros, mas cá estamos, prontos para seguir em frente.

Está muito ansioso por atuar na Culturgest?
Desde que o último desconfinamento começou, já regressei aos palcos para dar alguns concertos. Tinha uma tremenda saudade, claro. Nós, músicos – instrumentistas e cantores -fomos feitos para estar em cima de um palco, para podermos mostrar o nosso trabalho.
Neste concerto, para além de tocar temas do último álbum, vai também tocar versões de músicas de Carlos Paredes e Armandinho, bem como originais seus. Sente maior responsabilidade em mostrar os seus originais ou as versões que faz de outros músicos?
Sinto sempre mais responsabilidade ao interpretar a música de outros, nomeadamente do Zeca, que é um autor tão conhecido e que desperta tanta paixão em todos nós. Não me sinto nem intimidado nem pressionado, para mim é um prazer subir a um palco e tocar estas canções do Zeca na minha guitarra.
Estará acompanhado pelo percussionista José Salgueiro. É mais fácil subir ao palco com alguém cujo trabalho se admira?
Sinto enorme prazer em tocar a solo porque a guitarra é um instrumento que permite isso, é um pequeno mundo harmónico, uma pequena orquestra [risos], mas também tenho o maior prazer em fazer concertos com outros músicos, nomeadamente com o José Salgueiro, meu grande companheiro de há muitos anos. Respeitamo-nos muito, cada um tem o seu espaço a ouvir o outro. Conseguimos trabalhar o silêncio também, que é uma coisa fundamental.
É considerado uma das maiores referências da guitarra em Portugal. De que forma encara esse título?
Não atribuo a menor importância a isso. Cada músico é o que é, e essa ideia de ser um dos melhores não me diz rigorosamente nada. Cada músico tem a sua história, vive a música da sua forma e com a sua intensidade. Claro que gosto de ter o respeito dos meus pares e do público, mas a única coisa que quero é poder continuar a fazer música.
Depois das devidas apresentações em palco de Zeca, há projetos para breve?
Estou sempre a pensar em coisas novas. Aliás, não só estou a pensar, como estou a trabalhar nelas há bastante tempo. 2021 é o ano de regresso aos palcos e de voltar a respirar. 2022 será um ano para gravar música nova.
Quer deixar uma sugestão cultural aos leitores da Agenda?
Vou deixar uma sugestão literária, um livro do fantástico José Augusto França, grande historiador de arte e grande olisipógrafo. Chama-se Lisboa – História Física e Moral e é uma resenha histórica e artística da cidade de Lisboa desde o tempo dos fenícios até ao sec. XXI. É uma obra completa a todos os níveis, uma delícia de ler.
Não são todos os anos que uma companhia comemora cinco décadas de atividade e, como não poderia deixar de ser, alguns dos momentos mais esperados deste 38.º Festival de Almada estão associados às comemorações dos 50 anos da Companhia de Teatro de Almada (CTA), organizadora daquele que é o mais importante festival de artes performativas do país.
Em primeiros lugar, pela estreia absoluta de duas novas criações no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada: Hipólito, de Eurípedes, com encenação de um habitual companheiro de percurso, Rogério de Carvalho (2 a 4 de julho); e Um gajo nunca mais é a mesma coisas, escrito e encenado pelo diretor da CTA e do Festival, Rodrigo Francisco (14 a 25 de julho). Em segundo, por toda uma programação paralela, a qual inclui a exposição comemorativa, concebida por José Manuel Castanheira, e um conjunto de encontros entre personalidades que testemunharam o percurso iniciado com a fundação do Grupo de Campolide, por Joaquim Benite ainda em plena ditadura, e a consolidação da CTA como companhia de referência nacional e internacional, e impulsionadora da afirmação de uma cidade como Almada.

Ainda perante um tempo terrível para o meio cultural, e sucedendo a uma edição atípica, mas demonstrativa de uma consolidada relação com o seu público, esta 38.ª edição do Festival recupera a dimensão internacional, trazendo ao convívio dos espectadores alguns dos mais relevantes nomes do teatro e da dança – como o do coreógrafo Josef Nadj, com a sua mais recente criação, Omma; ou a de dois atores referenciais do teatro europeu, de regresso ao Festival: Viviane De Muynck (com Molly Bloom, a partir de James Joyce) e François Chattot (protagonista de Amitié, um surpreendente espetáculo de Irène Bonnaud, produzido pelo Festival d’Avignon, que cruza textos de Pier Paolo Pasolini com Eduardo De Filippo).
Como vem sendo habitual, o Festival de Almada estende-se a Lisboa, marcando passagem pelo Teatro Nacional D. Maria II e pelo Centro Cultural de Belém. E, fá-lo com dois protagonistas de peso: a atriz Monica Bellucci e o encenador Ivo van Hove.
Van Hove e Bellucci, inevitáveis ‘cabeças de cartaz’
Quase uma década volvida sobre a sua última passagem por Portugal (Husbands, a partir do filme homónimo de John Cassavetes, em março de 2012, no CCB), o encenador flamengo, e diretor artístico do reputadíssimo Toneelgroep Amsterdam, Ivo van Hove (n. 1958) regressa como inevitável “cabeça de cartaz” desta 38.ª edição do Festival de Almada.
Não é, de facto, de somenos: van Hove é um dos mais relevantes encenadores em atividade e, também, um dos mais disputados, deste e do outro lado do Atlântico, distinguido ao longo dos últimos 40 anos com os mais importantes prémios de teatro, incluindo o Tony, em 2016, pela encenação de A View from the Bridge, de Arthur Miller.
Quem matou o meu pai é a adaptação para palco da última obra do jovem autor francês Édouard Louis (n. 1992), romancista muito apetecível no teatro europeu, que tem vindo, com a chancela de outras grandes companhias e encenadores de relevância (em destaque também, nesta edição do Festival, a produção eslovena de História da Violência, dirigida pelo croata Ivica Buljan, a partir do primeiro romance do autor, em cena, de 2 a 5 de julho, em Almada), a ver as suas histórias sobre homofobia, racismo e desigualdade social serem encenadas nos grandes palcos.
Aqui, o autor parte de um tributo pessoal e íntimo ao pai – um operário envelhecido e doente como resultado de uma vida marcada pelo trabalho árduo, pela privação social e pelo álcool –, para apontar o dedo ao sistema capitalista e à elite política que trai constantemente as expetativas dos mais fracos.
A interpretar o monólogo está o ator neerlandês Hans Kesting, figura de proa do Toneelgroep, que pudemos ver na mais recente passagem da companhia por Lisboa, em 2019, com o extraordinário Ibsen House.

Entretanto, no palco do Grande Auditório do CCB, a heroína é Maria Callas. Mas, o que dizer sobre Callas quando, quem a interpreta é, tão só, Monica Bellucci, a atriz de cinema italiana que se tornou ícone planetário?
Maria Callas – Cartas e Memórias marcou a estreia de Bellucci nos palcos de teatro, em 2019 no Òdeon em Paris. Sob a batuta de Tom Volf, realizador e fotógrafo (sobretudo ligado à moda), a atriz encarnou a diva grega num monólogo escrito pelo próprio Volf, a partir do seu livro homónimo que resume uma longa investigação de sete anos em torno da figura da famosa cantora de ópera. Ao longo do espetáculo, acompanhamos o percurso daquela que foi uma, senão, a maior das sopranos do século XX, desde a infância modesta na Grécia aos últimos dias de solidão que antecederam a morte prematura, em Paris, com apenas 53 anos de idade.
Bellucci entrega-se de corpo e alma a Callas, num espetáculo que revela muitos aspetos até aqui desconhecidos da biografia da cantora que, como bem observa Rodrigo Francisco, “pareceu plasmar-se nas heroínas trágicas que cantou.”
Memórias de África e estreias nacionais
A cada edição, o Festival de Almada nunca se caracteriza por assumir uma temática específica. Contudo, este ano, e como sublinha o diretor artístico do Festival, “não deixa de ser evidente o diálogo encetado por vários dos espetáculos programados a propósito de África e do passado colonial português”. Para além da peça escrita e encenada por Rodrigo Francisco, pelos palcos de Almada vão passar ainda Aurora Negra, de Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema (2 a 5 de julho, na Academia Almadense), e Corpo Suspenso, de Rita Neves e Patrícia Couveiro (9 a 12, no Incrível Almadense).
Quanto às estreias nacionais, e para além das já referidas produções da CTA, Carla Galvão e Sara de Castro apresentam uma das últimas peças de Tennessee Williams, Duas Personagens (7 a 14, no Teatro-Estúdio António Assunção), e a Companhia Nacional de Bailado prossegue o ciclo Planeta Dança, com o capítulo 4 da série criada pela coreografa Sónia Baptista (Academia Almadense, dias 10 e 11).
Na reta final do Festival, de 23 a 25 de julho no Teatro Municipal Joaquim Benite, a “histórica” peça de Alfred de Musset Lorenzaccio, encenada por Rogério de Carvalho numa coprodução do Teatro do Bolhão com o Teatro Nacional de São João, volta aos palcos, depois da estreia em finais de 2020, no Porto. Trata-se da primeira vez que este marco da literatura dramática é encenado em Portugal, o que por si só o torna um dos grandes momentos da temporada artística.
Os bilhetes individuais para os espetáculos encontram-se já à venda, variando entre os 9 e os 50 euros. As Assinaturas, que dão acesso a todos os espetáculos do Festival, têm este ano o custo unitário de 80 euros. Toda a programação pode ser consultada no site oficial da CTA.
Uma das mais premiadas produtoras de espetáculos brasileira, a Fontes Artes, promove em Portugal a Mostra Brasil Teatro Online, através de um microsite alojado na Ticket Live Stage. Uma mostra que procura partilhar com o público cinco criações das mais de mil que no Brasil, e ao longo de mais de um ano, os artistas de teatro produziram para difusão online em contexto da pandemia.
A programação tem como especial atrativo reunir peças protagonizadas por algumas das estrelas femininas mais destacadas do teatro que se faz no Brasil, muitas delas reconhecidas pelos portugueses através de séries e telenovelas exibidas nos canais de televisão.

Irene Ravache é a protagonista de Alma Despejada, texto de Andréa Bassit dirigido por Elias Andreato. Neste monólogo, a ilustre atriz brasileira interpreta o fantasma de uma mulher que regressa, por uma última vez, à casa onde morava.
Em A Árvore, Alessandra Negrini encarna uma mulher que enfrenta um estranho e complexo processo de metamorfose, assistindo à transformação do seu corpo num ente vegetal. Escrito por Silvia Gomez, uma das mais aclamadas e traduzidas autoras brasileiras da atualidade, o espetáculo tem encenação de Ester Laccava e direção de vídeo de João Wainer.
As atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes protagonizam duas das propostas da Mostra: Neste Mundo Louco Nesta Noite Brilhante e Contrações. A primeira é um dos mais recentes textos de Silvia Gomez, estreado pouco antes da pandemia em São Paulo, aqui numa produção do Grupo 3 de Teatro, com direção de Gabriel Fontes Paiva. Quanto a Contrações, trata-se de uma peça assinada pelo britânico Mike Bartlett que aborda, com muito humor, as difíceis relações entre o mundo do trabalho e a vida privada.
A Mostra inclui ainda Galileu e eu. A arte da dúvida, espetáculo inspirado em Leben des Galilei de Bertolt Brecht, aqui segundo a visão da atriz Denise Fraga, que volta a interpretar o cientista renascentista, depois de o ter feito em 2015, numa premiada produção dirigida por Cibele Forjaz. O espetáculo é coassinado por José Maria e Luiz Villaça.
Para o diretor artístico da Fontes Artes, Gabriel Fontes Paiva, esta Mostra é demonstrativa da vitalidade do novo teatro brasileiro, mesmo durante a crise sanitária global. “O resultado foi muito criativo e interessante”, sublinha, ressalvando que o que agora se dá a ver é “algo difícil de classificar nas divisões atuais, mas tem sido denominado como híbrido ou espetáculo online.”
A Mostra Brasil Teatro Online está disponível em formato on demand, ou seja, com bilhetes virtuais (entre 8,50 e 6,50 euros) sempre disponíveis para o público poder aceder na data e no horário mais conveniente, até 27 de julho.

Mário Dionísio
Passageiro Clandestino
“Toda a gente traz consigo um passageiro clandestino, sempre agarrado à mala suspeita onde transporta o mais perigoso dos materiais: milhares de sentimentos, de ideias, de simples frases, de gostos, de impertinências, de abdicações, de cóleras, de saudades, de esperanças, que a sociedade não reconhece”. Passageiro Clandestino, até agora inédito, escrito intermitentemente entre 1950 e 1989, é o primeiro volume do diário de Mário Dionísio que cobre o período de 1950 a 1957. O autor foi o poeta lírico do Novo Cancioneiro, de Memória dum Pintor Desconhecido e Terceira Idade. De intensa atividade pedagógica e estética (A Paleta e o Mundo), escreveu também belíssimos contos, em O Dia Cinzento e Monólogo a Duas Vozes, e foi autor de um romance ímpar na nossa ficção: Não Há Morte nem Princípio. Sobre o presente texto que não pretende ser” literatura”, com todas as páginas “mal escritas”, Mário Dionísio escreve: Quero ver-me ao espelho despenteado e sem gravata, de tal modo me surpreendo quando me encontro, na rua, por acaso, no vidro de uma montra ou no espelho de um estabelecimento”. Edição acompanhada por um tomo de Notas, da autoria de Eduarda Dionísio. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio
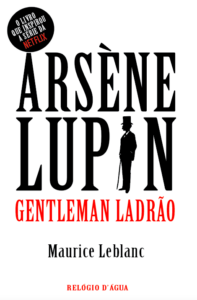
Maurice Leblanc
Arséne Lupin – Gentleman Ladrão
Coletânea de nove contos, inicialmente publicados na revista Je sais tout em julho de 1905, resultou de um convite do seu editor, que procurava uma alternativa às narrativas policiais de Sherlock Holmes criadas por Arthur Conan Doyle. A obra trouxe abordagem diferente ao género da literatura policial promovendo um gatuno como herói, em vez do habitual detetive. Porém, Arséne Lupin não é um gatuno qualquer: é um gentleman fantasista de monóculo e cartola, um diletante que trabalha por gosto e por vocação, mas também para se divertir. Mestre dos mil disfarces, “muda de personalidade como quem muda de camisa”. “Porque haveria eu de ter uma aparência definida? Os meus atos já me definem bastante”, declara o herói. O sucesso global da série da Netflix motiva a reedição, em português, das aventuras desta personagem icónica que pela sua versatilidade, inventiva e humor, que vem apaixonando gerações sucessivas de leitores. Quando se introduz na mansão do barão Schormann, deixa um cartão com a seguinte inscrição: “Arséne Lupin, gentleman ladrão, voltará quando os móveis forem autênticos”. Uma delícia! Relógio D’Água
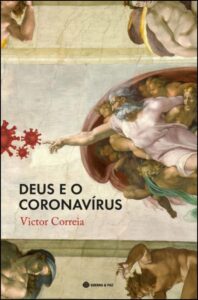
Victor Correia
Deus e o Coronavírus
Primo Levi escreveu em Se Isto É um Homem: “existe Auschwitz, logo não existe Deus”. Em plena pandemia de COVID 19, com mais de 3 milhões de vítimas mortais, que podemos dizer acerca do silêncio de Deus? Num mundo largamente dessacralizado, a questão de Deus, contrariamente ao que aconteceu nas epidemias do passado, não se assumiu como central no debate em trono do coronavírus. Ainda assim, este livro singular promove uma reflexão sobre a forma como as religiões do judaísmo, do cristianismo e do islamismo encararam a pandemia e as polémicas por elas criadas, com enfoque especial no cristianismo. Analisa a recusa do encerramento dos templos, a tese de que a pandemia foi um castigo de Deus, a rejeição religiosa das vacinas, o charlatanismo religioso e as superstições, a ineficácia das orações contra o coronavírus, a relação dos medos e das teorias da conspiração sobre o coronavírus com a atitude religiosa. Finalmente coloca um problema essencial: como encontrar um sentido para a vida durante a pandemia? Esse sentido é Deus? Guerra & Paz
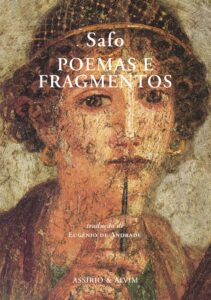
Safo
Poemas e Fragmentos
Safo, a “Décima Musa” como lhe chamou Platão, nasceu numa família aristocrática, na ilha de Lesbos, em meados do século VII a.C. Viveu quase sempre em Mitilene, capital da ilha, rodeada de raparigas, numa comunidade que cultivava a poesia, a dança e o canto, vedada a homens, e que tinha Afrodite como deusa tutelar. Os seus poemas de amor dirigem-se frontalmente a mulheres e traduzem a experiência intima e avassaladora da paixão aliada a uma profunda comunhão com a natureza, numa linguagem de plena naturalidade alheia a qualquer ênfase ou excesso. Da sua obra original, lamentavelmente destruída pelos cristãos nos séculos IV e VI, sob acusação de imoral, chegaram aos nossos dias uma ode completa – a invocação a Afrodite – e cerca de duzentos fragmentos. Estas recriações de Eugénio de Andrade, que sentia por Safo uma das suas “fascinações mais antigas”, foram feitas, nas palavras do poeta: “em duas ou três semanas febris, como se de criação pessoal se tratasse, e nunca outro trabalho me deu prazer semelhante”. Uma belíssima homenagem â autora dos versos imortais: “Amo o esplendor. Para mim o desejo / é um sol magnificente e a beleza / coube-me em herança.” Assírio & Alvim

António Mega Ferreira
Desamigados
A origem deste livro remonta a um episódio anedótico. Um amigo do autor recebeu um comentário desagradável e rasteiro nas redes socias e com o indicador direito premiu uma tecla e exclamou: “Pronto! Já o desamiguei!” De facto, hoje em dia, com as redes sociais, “desamigar” tornou‑se um verbo banal e um ato instintivo, rápido e eficaz. Contudo, para falar verdadeiramente de desamizade, que implica refletir sobre a amizade, há que ir além do digital. António Mega Ferreira recupera a história de 11 amizades famosas e que acabaram mal, de César e Bruto a García Márquez e Vargas Llosa, passando por Wagner e Nietzsche, Freud e Jung ou Sartre e Camus. Como escreve o autor no prefácio à presente obra: “Em qualquer caso, não basta carregar no botão: o desamigamento é um processo doloroso, por muito definitivo que seja, e deixa fatalmente marcas em cada um dos antigos amigos”. São os graus de dor e complexidade que se escondem atrás da rutura real destes afetos que Mega Ferreira procura analisar. Tinta-da-china

Helen Pluckrose e James Lindsay
Teorias Cínicas
A escritora e conferencista Helen Pluckrose juntou-se ao matemático James Lindsay, fundador do New Discourses (espaço online para os politicamente desalojados), na concretização deste Teorias Cínicas, guia para a interpretação da linguagem e dos costumes dos teóricos da Justiça Social, movimento que tem origem no pós-modernismo e que visa desconstruir as “metanarrativas” que constituem a tradição do pensamento humano: a religião, a ciência, e o liberalismo filosófico (democracia, direitos humanos universais, liberdade de expressão). Segundo os autores, “A ideia pós-moderna de conhecimento nega que a verdade objetiva ou o conhecimento sejam aquilo que corresponde à realidade tal como determinado pelas evidências”. Os novos teóricos que recolheram elementos do pós-modernismo para aplicação num punhado de teorias (pós-colonial, queer e crítica de raça), afirmam o seu combate para desconstruir a injustiça social, algo que os dois autores de Teorias Cínicas reputam de um trabalho que procura minudências de linguagem que visam tresler propositadamente. Guerra & Paz

Guerra Junqueiro
O Fato Novo do Sultão e outros contos
No alargado contexto da sua intervenção poética, cultural social e política, Guerra Junqueiro tomou posição sobre questões de pedagogia. Acérrimo partidário da alfabetização, defendeu uma escola de contornos lúdicos e libertários para a criança, apoiada em novas metodologias de educação que excluíssem toda a violência institucionalizada. Os contos presentes nesta compilação são retirados da obra Contos para a Infância, publicada em 1877, por Guerra Junqueiro. Apesar de não serem da sua autoria, mas sim adaptações de histórias tradicionais, neles estão patentes as preocupações pedagógicas, sociais e culturais deste autor. Os valores subjacentes — a bondade, a justiça, a solidariedade, a honestidade, a gratidão, entre outros — são transmitidos de forma simples e construtiva. As ilustrações de Elias Gato, expressivas xilogravuras a branco e negro, formam o complemento ideal destas histórias que têm acompanhado o crescimento de tantas gerações de leitores. Fábula
Há três anos abraçou a direção artística do único teatro municipal do país exclusivamente dedicado aos mais jovens. Como está a ser esta experiência?
Está a ser muito gratificante. Gosto do que faço e sempre me diverti a programar, a pesquisar novos enunciados e a procurar respostas nas criações artísticas, em particular dirigidas às crianças e aos jovens. Passar da programação para a direção artística de um teatro trouxe espaço para pensar no teatro como um todo orgânico e articulado entre diferentes objetos de programação, agilizou os processos e as tomadas de decisão e permitiu construir respostas para estes públicos de uma forma mais ágil e em permanente atenção ao aqui e agora, como aliás, pudemos experimentar nos últimos meses. Temos recebido muitas palavras de incentivo vindas de pais, professores e artistas. Por um lado, é satisfatório e deixa-nos a sorrir, por outro, relembra-nos a nossa responsabilidade.
Quais têm sido os maiores desafios com que se tem vindo a deparar?
Abrimos o LU.CA há três anos e, durante o último ano, estivemos a viver um tempo pouco usual. Tínhamos um programa montado para um espaço físico e tivemos de o remontar para um espaço virtual, repensando todo o programa, desenhando-o à medida das características deste novo contexto. Foi um desafio totalmente novo. Curiosamente, foi também esta mudança que nos ajudou a ultrapassar um dos grandes desafios que se colocam a um novo equipamento cultural: darmo-nos a conhecer para além do espetro previsível. Uma programação específica para online fez-nos chegar a pessoas de diferentes faixas etárias, distribuídas de norte a sul do país e ilhas. Foi um público totalmente inesperado e novo que teve contacto com o programa do LU.CA, o que nos levanta novas questões, como o que fazer para manter estas relações. Penso que, num futuro próximo, teremos uma série de novos desafios.
Qual é a sua maior preocupação aquando da escolha dos objetos artísticos a apresentar no Teatro?
A relevância, o valor artístico e o ajuste dos conteúdos ao público alvo do LU.CA. Procuro programar artistas que querem falar com as crianças ou para elas e que fazem pesquisas nesse sentido, favorecendo a construção de experiências novas e, de certa forma, marcantes. Penso que só assim é possível criar uma memória positiva nas crianças e nos jovens, favorável a novos e repetidos encontros com as artes.
Até agora, conseguiu concretizar todas as ideias que tinha para o LU.CA?
Ainda não, mas tenho um bloco de notas a que chamo Ideólogo onde junto as ideias que se vão cruzando comigo. Algumas ainda não se concretizaram, outras transformaram-se e estes tempos mais recentes obrigaram-nos, de certo modo, a mudar de ideias. Além disso, o contexto está sempre a trazer novos inputs e, por isso, quando o contexto muda nada fica como antes.
O que gostaria muito de levar ao palco do LU.CA e ainda não conseguiu?
É uma resposta quase sem fim…. Primeiro, os projetos que ficaram adiados no último ano.
Qual é, para si, o papel que a Cultura tem na formação pessoal dos mais novos?
A Cultura cria o contexto, molda as experiências e influencia o desenvolvimento das crianças. É responsável, em grande parte, pela forma como crescem e evoluem, como interagem com o mundo e se relacionam com o que está à sua volta. Aqui, a relação com as artes é fundamental para garantir um crescimento completo e rico. No entanto, não é possível quantificar com rigor o impacto que as artes e as propostas culturais suscitam na formação individual de cada criança, mas sabemos como é importante a familiarização com a Arte e a Cultura, não só pela sua interpretação e compreensão, mas porque alarga o sentido de liberdade e propõe múltiplos olhares ampliando a sua leitura.
paginations here