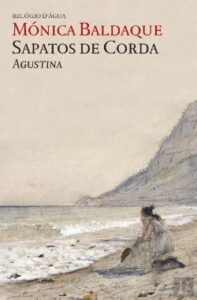Ai Margarida, Camané (2013)
É, indiscutivelmente, uma das maiores vozes masculinas nacionais. Camané transformou o poema Ai Margarida, da autoria de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa), em canção, com a ajuda de Mário Laginha, cujo piano assume aqui grande destaque. O tema surge na compilação O Melhor de Camané, 1995-2013.
Problema de Expressão, Clã (1997)
A canção dos portuenses Clã fala abertamente sobre o constrangimento que muitas vezes assalta quem fala sobre os seus sentimentos, e de como em português tudo se torna mais difícil de dizer. O tema faz parte do segundo disco da banda liderada por Manuela Azevedo, Kazoo, e foi o grande responsável pela explosão de popularidade dos Clã.
Zorro, António Zambujo (2010)
O menino bonito do fado gravou Zorro para o disco Guia, de 2010. O tema, escrito por João Monge e João Gil, é uma bonita declaração de amor, bem apropriada para dedicar à cara-metade. Aliás, todo o disco é uma boa banda sonora para a ocasião, com temas como A Deusa da minha Rua ou Poema dos Olhos da minha Amada.
No Dia do teu Casamento, A Garota não (2019)
Cátia Mazari Oliveira é a voz de A Garota não. A cantora setubalense lançou, em 2019, o disco de estreia, Rua das Marimbas, nº 17, onde se inclui o tema No Dia do teu Casamento. Uma canção que fala de um amor que terminou, em que uma das partes segue em frente com a sua vida enquanto a outra relembra o que correu mal na relação. Deprimente, mas bonito.
Primeiro Beijo, Cabeças no Ar (2003)
Os Cabeças no Ar surgiram pouco tempo depois do fim dos Rio Grande, um projeto dos grandes nomes da música portuguesa Rui Veloso, Tim, Jorge Palma e João Gil. Desta superbanda nasceu um disco, homónimo, que inclui os clássicos A Seita tem um Radar e Primeiro Beijo. Este último aborda um tema em que qualquer pessoa se revê: o amor inocente que surge em idade escolar.
Cedo, Samuel Úria + Monday (2020)
Samuel Úria é um cantautor que utiliza muitos recursos expressivos nas letras das suas canções, o que torna, muitas vezes, algo ambígua a sua interpretação. Em Cedo, do disco Canções do Pós-Guerra, de 2020, une a sua voz à da doce Monday (alter-ego de Catarina Falcão), para cantar sobre a beleza de envelhecer ao lado de quem se ama.
Cantiga d’Amor, Rádio Macau (2008)
Os Rádio Macau são uma das grandes bandas de rock dos anos 80. Donos de clássicos que viriam a marcar para sempre o rock português como O Anzol, O Elevador da Glória ou Amanhã é sempre longe demais, fizeram furor sobretudo no início dos anos 90. Em 2008, a banda lançou Oito, álbum onde se inclui o tema Cantiga d’Amor.
Deixa Ser, David Fonseca + Márcia (2015)
Em 2015, o camaleónico David Fonseca surpreendeu os seus fãs ao lançar, corajosamente, o seu primeiro disco em português, Futuro Eu. O álbum assume um cuidado rigoroso com as palavras, tendo obtido excelentes críticas. Num dos temas mais bonitos do disco, Deixa Ser, o tom grave de David Fonseca encontra-se com a melodiosa voz de Márcia.
Anda estragar-me os Planos, Salvador Sobral (2019)
Na edição de 2018 do Festival da Canção, Joana Barra Vaz interpretou o tema Anda estragar-me os Planos, de Francisca Cortesão e Afonso Cabral. A canção passou à final, mas perdeu para O Jardim, de Isaura. Salvador Sobral gostou tanto da música que resolveu dar-lhe uma nova vida, cujo registo se pode ouvir no disco Paris, Lisboa.
Namora Comigo, Cristina Branco (2018)
Em 2018, Cristina Branco lançou o disco Branco, que contou com várias colaborações de luxo (Kalaf, Jorge Cruz, Mário Laginha, Afonso Cabral, entre outros). Um dos temas, Namora Comigo, foi escrito pela também cantora Beatriz Pessoa. Um tema pueril, que fala sobre o amor jovem e inconsequente e que reflete a jovialidade da sua autora.
A Noite passada, Sérgio Godinho (1972)
Sérgio Godinho é uma das vozes mais icónicas do nosso País. Um autor que associamos à ‘canção de intervenção’ e um verdadeiro homem dos sete ofícios: escritor, poeta, músico, cantor, ator… Já pisou inúmeros palcos e gravou dezenas de álbuns. A Noite passada, do disco Pré-Histórias, é uma das suas canções mais emblemáticas. Para ouvir em loop, em qualquer dia do ano.
Os Búzios, Ana Moura (2007)
Ana Moura é uma das maiores cantoras nacionais da atualidade. É dona de um timbre único, e o seu nome indissociável do fado. No entanto, a artista tem uma voz verdadeiramente camaleónica, tendo dividido o palco com estrelas internacionais como Mick Jagger ou Prince. A canção Os Búzios, que surge no disco Para além da Saudade, de 2007, foi escrita por Jorge Fernando.
Paixão, Black Out (1995)
Os Black Out foram um grupo de soul e funk português que surgiu no início dos anos 90. Com a voz de Kika Santos nos comandos, o grupo lançou, em 1995, o disco homónimo, de onde saíram canções como A Sinfonia do Amor ou Paixão. Em 1998, a banda lançou um novo álbum, mas dissolveu-se pouco depois, tendo Kika Santos prosseguido com uma carreira a solo.
És onde quero estar, Mind da Gap (2012)
Os Mind da Gap surgiram nos anos 90, no Porto. O grupo de hip hop composto por Ace, Presto e Serial encerrou atividade em 2016, mas no seu percurso alcançou grande sucesso com músicas como Todos Gordos, Bazamos ou Ficamos ou És onde quero estar. Esta última faz parte do álbum Regresso ao Futuro, e conta com a participação do rapper Sam the Kid.
Frequentou o curso de cenografia da Escola Superior de Teatro e Cinema. O que passou desta aprendizagem para o seu trabalho no domínio das artes visuais?
Fiz um ano na Escola Superior de Teatro e Cinema não porque me interessasse trabalhar em teatro. O meu objectivo era mesmo ir para as Belas Artes, para escultura. Aquele foi um ano de aprendizagem de outras coisas que também me interessavam. Queria passar por ali e fazer essa transição.
Podemos dizer que a sua obra procura criar uma narrativa num determinado espaço?
Não estou interessada em construir essa narrativa. Penso que no meu trabalho existem uma série de pesquisas nas quais as pessoas entram ou não. Podem ficar pela forma que os objetos têm, mas se repararem nos títulos eles induzem, algumas vezes, certos personagens. A partir desses personagens percebemos algumas ligações a esculturas que podem ou não estar nesse espaço, relacionadas com um tempo e uma história.
A sua obra é sempre criada como resposta a uma dada situação espacial?
Nem sempre, mas nos últimos anos tenho tido a sorte de encontra pessoas incríveis que conhecem a minha obra e me convidam a fazer exposições em museus e instituições muito interessantes. Conhecendo a natureza do meu trabalho, convidam-me sabendo que gosto de me concentrar no contexto em que esses espaços se inserem.
Usa frequentemente materiais suspensos como a corda, o latão, a madeira, a cortiça. Porquê?
Faço muitas esculturas suspensas no espaço porque me interessa trabalhar sobre o sentido de gravidade e de sentir que o peso daqueles materiais seja o peso que as pessoas veem. Alguns deles vão deformando com o peso, outros não. As cordas são um suporte de resistência e comecei a trabalhar com elas por serem uma espécie de unidade de medida, uma unidade standard de comprimento, porque as questões de aferição e medição me interessam. Uso muito cânhamo que é natural e se vai degradando com o tempo. Uso também metais, nos últimos tempos o latão que está associado a alguns instrumentos musicais e é um ótimo transmissor de som, mas ao mesmo tempo também é utilizado, com um sentido mais decorativo, em edifícios e em mobiliário associado à questão do detalhe que é um elemento importante no meu trabalho. No caso do couro, ele é um material natural. Acho interessante pensar na arte como um ente que temos de tratar. Para ela perdurar temos que tratar dela. Por isso às vezes uso plantas que têm que ser regadas. O couro também tem de ser tratado, senão ao fim de algum tempo começa a secar e a perder a forma. Interessa-me a ação do tempo sobre os objetos e materiais. Serem datados da época em que foram produzidos, mas podermos reconhecer neles a passagem do tempo.
Quer falar da relação da sua obra com a arquitetura modernista?
Acho que a história que nos foi ensinada nem sempre é a mais interessante ao nível da arte, da arquitetura e do design. Houve muitas figuras que foram esquecidas e que acho muito importantes. Estou interessada em revisitar o trabalho dessas pessoas, nomeadamente uma série de mulheres arquitetas e designers. São uma cadeia de mulheres e não casos isolados, embora possa citar nomes como os da Lina Bo Bardi e da Clara Porset, mas são muitas mais. Há um entendimento de espaço e um conceito de modernidade inerente a todas elas. Tinham em comum o interesse por uma arquitetura vernacular e, em certos casos, pelas comunidades indígenas locais.
Que fatores apontaria na sua obra como determinantes para a sua internacionalização?
Saí de Portugal porque não conseguia arranjar aqui um contexto para o meu trabalho e queria muito viver dele. Sabia mais ou menos com quem queria trabalhar e que interlocutores gostaria de ter e fui mapeando o meu terreno. O contexto das pessoas com quem nos damos e por onde circulamos permite a construção de uma identidade quase comunitária.
Esteve radicada em Berlim durante 16 anos. Porque voltou para Lisboa?
Vim porque tive oportunidade de trabalhar no espaço dos Ateliês dos Olivais e porque me interessa produzir alguns trabalhos aqui. Quis conhecer pessoas em Portugal com quem colaborar, procurando estabelecer uma plataforma de trabalho. Mas não abandonei Berlim, estou entre cá e lá.
Que trabalho desenvolve no ateliê municipal dos Olivais?
Estou a trabalhar nalgumas exposições que vou ter este ano em Bruxelas, no Japão, em Los Angeles e em Paris. Estou a tentar trabalhar no ateliê sem me deslocar o que é um bocado estranho. Eu viajo muito, por causa das minhas pesquisas visito muitos arquivos. Um dos espaços onde vou expor nunca o vi. Nunca trabalhei assim. Vou aos locais, faço pesquisas e começo a desenhar e construir as minhas peças. Aqui comecei a trabalhar com materiais que nunca tinha usado: a cerâmica, o, bambus e as canas. Porém, os materiais surgem sempre associados a pesquisas que estou a fazer.
Que projetos tem para o ano de 2021 e de que forma a pandemia de COVID 19 os condiciona?
Com a pandemia as pessoas já não vem exposições já não viajam. É triste para os artistas. Nós trabalhamos tanto e esforçamo-nos tanto para as coisas acontecerem e de repente elas já não são visitadas. Acho que a arte só pode ser experienciada ao vivo, não através dos livros ou das imagens dos media. É importante estarmos na presença do objeto artístico, caso contrario não sabemos o que ele é. Não poder viajar é o maior entrave ao meu trabalho. Não posso deixar de montar as minhas próprias exposições porque são tudo trabalhos novos e mesmo que as coisas estejam construídas antes tenho que ver como funcionam no espaço. Muitas vezes as decisões são tomadas in loco.
Uma outra forma de ver teatro é ouvi-lo, e na plataforma RTP Play é possível encontrar inúmeros registos emitidos através da radio. Ao longo dos últimos anos, uma das presenças regulares nas emissões da rúbrica Teatro sem Fios da Antena 2 são os Artistas Unidos. De entre as dezenas de peças de teatro radiofónico apresentadas pela companhia dirigida por Jorge Silva Melo, selecionámos quatro da autoria de grandes autores contemporâneos.
O Tempo
Uma obra especialmente delicada e subtil sobre a relação entre um homem e uma mulher, separados pela classe social e pelo tempo, mas surpreendentemente unidos pela vida. Da autoria da dramaturga catalã Luisa Cunillé, Jorge Silva Melo, que a dirige, considera-a, através dos seus silêncios e diálogos prosaicos, “uma espécie de música secreta” que cabe ao espectador escutar e descobrir. Com Maria João Falcão e Américo Silva. Ouvir aqui.
Não me lembro de nada
Américo Silva e Isabel Muñoz Cardoso, dirigidos por Pedro Carraca, protagonizam esta peça curta de Arthur Miller. Numa cidade do interior dos Estados Unidos, uma viúva rica, cuja vida parece ter sido suspensa após a morte do marido, e um desenhista retirado, comunista convicto, amigo e colega de trabalho do seu marido, lamentam a passagem do tempo e a memória que se perde ao correr dos dias, e retira significado à vida. Ouvir aqui.
O Borrão/ O Consultório
Duas peças em um ato da autoria do dramaturgo português Augusto Sobral, datadas de 1961, que, segundo os Artistas Unidos, “romperam com o teatro que se fazia por cá”. Jorge Silva Melo lembra a estreia de O Borrão no Capitólio, pelo Grupo de Estudantes da Universidade de Direito, que imediatamente chamou a atenção de Amélia Rey Colaço, a poderosa diretora da Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, que depressa o levou para o Teatro Nacional D. Maria II. “Um teatro irónico sobre o pesadelo da identidade e da burocracia”, aqui dirigido por António Simão. Ouvir aqui.
Ilha do Desporto/ Ilha do Futuro/ Noé
Três peças curtíssimas que revelam o teatro “surpreendente, enigmático, divertido, ligeiro, profundo, analítico, rigoroso, disfarçado de ingénuo”de Ricardo Neves-Neves. As peças sublinham o universo muito particular do autor, esse “quotidiano fantasiado e brincado, mas também aterrador”, pintado com referências pop e uma candura quase infantil. Pedro Carraca, Vânia Rodrigues e Andreia Bento interpretam; Jorge Silva Melo dirige. Ouvir aqui.

O Teatro à conversa em podcast
Duas grandes instituições teatrais da cidade, o Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) e o Teatro da Trindade INATEL (TdT), já se renderam à moda do podcast.
Quinzenalmente, em várias plataformas de streaming (como o Spotify ou o YouTube), o TNDM II apresenta um novo episódio de Teatra, uma conversa “sem guião”, conduzida por Mariana Oliveira. O mais recente é protagonizado pela atriz, dramaturga e encenadora Teresa Coutinho, mas por lá podemos encontrar registos com atores incontornáveis do teatro português, como Rui Mendes, Miguel Guilherme, Rita Blanco ou Paula Mora; com valores seguros da nova geração, como Sara Barros Leitão e Ana Guiomar; e até mesmo com o artista plástico Alexandre Farto e a escritora Dulce Maria Cardoso.
Mais recente, o podcast (In)Equivoco, de periodicidade mensal, marca a chegada do TdT a este formato. O conceito é semelhante, com Margarida Pinto Correia a encetar uma conversa com alguns dos protagonistas dos espetáculos que passam pelo histórico teatro do Chiado. O elenco de conversas disponíveis inclui José Raposo, Marcantonio del Carlo e João Didelet, Custódia Gallego e Gabriela Barros.

Depois de, em março do ano passado, ter sido uma das primeiras companhias a reagir aos efeitos da pandemia na atividade cultural, com a disponibilização de vários espetáculos online, o Teatro Aberto responde ao novo confinamento com uma mini-série de quatro episódios em vídeo e em podcast, com realização de João Lourenço e Nuno Neves, a partir de entrevistas conduzidas por Tiago Palma ao elenco de Só Eu Escapei.
Preparada para estrear em maio do ano passado, a peça, da autoria da dramaturga britânica Caryl Churchill, que esteve em cena no Teatro Aberto até à atual suspensão da atividade cultural, numa encenação de João Lourenço, juntou em palco um leque excecional de atrizes: Márcia Breia, Catarina Avelar, Lídia Franco e Maria Emília Correia. Elas que são, nas palavras de Lourenço, “a história viva do teatro português, do século XX aos nossos dias.”
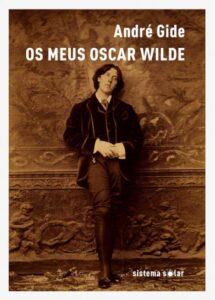
André Gide
Os meus Oscar Wilde
No final de 1891, em Paris, o jovem André Gide conhece Oscar Wilde. Quatro anos depois reencontram-se no Norte de África e desenvolvem uma influente amizade. A obra Os Frutos da Terra, publicada em 1897, celebração de uma relação mestre/discípulo, foi lida como uma evocação dessa amizade. Gide não confirmou este pressuposto referindo que continha “apenas um pouco de verdade”. O presente livro reúne três textos que o grande escritor francês, Prémio Nobel de Literatura de 1947, dedicou a Oscar Wilde: In Memoriam, escrito após a sua morte, um excerto da autobiografia Si le Grain ne Meurt e um texto de louvor à publicação de De Profundis. Gide, que elegeu a sinceridade como um dos motores fundamentais da sua obra, escreveu: “Wilde tomou o partido de fazer da mentira uma obra de arte. Nada há de mais especioso, mais tentador, mais elogioso, do que ver na obra de arte uma mentira e, reciprocamente, considerar a mentira uma obra de arte”. Tradução, prefácio, interfácio (que inclui uma selecção dos mais significativos momentos dos processos judiciais de Oscar Wilde) e posfácio de Aníbal Fernandes. Sistema Solar

Helder Carita e José Manuel Garcia (Coordenação)
A Imagem de Lisboa
Os textos reunidos neste catálogo constituem um conjunto de comunicações apresentadas, em 2016, no colóquio A Imagem de Lisboa: O Tejo e as Leis Zenonianas da Vista do Mar, com o objectivo de promover a reflexão sobre a relação entre o Tejo e a imagem da cidade de Lisboa, abrindo novas perspetivas sobre a história da capital e do urbanismo português da época moderna. As Leis Zenonianas, promulgadas durante o reinado do Imperador Cezar Zenão (474-491), no contexto do Império Romano do Oriente, resultaram de um conjunto de normativas para a reconstrução de Constantinopla após um grande incêndio, incluídas mais tarde no Codex Justiniano. Na passagem do direito romano para o direito português, estas leis vão ligar as metrópoles de Constantinopla e Lisboa, que apesar de situadas em extremos opostos da Europa, radicavam as suas origens e destinos na relação com o mar e as rotas marítimas. Assumindo as vistas como um direito e um privilégio e agregando à sua volta um universo de conceitos estéticos que valorizam a imagem da cidade em função do Tejo, estas normas contribuíram de forma decisiva para o urbanismo da capital. CML-FCSH/NOVA

Romain Gary
Uma Vida à sua Frente
Uma Vida à sua Frente, de Romain Gary, foi um dos maiores êxitos do único escritor duplamente galardoado com o Prémio Goncourt, em 1956, com As Raízes do Céu e, em 1975, com este romance, facto possível apenas por o ter publicado sob o pseudónimo literário de Émile Ajar. Verdadeiro tratado de humor e ternura, narra, na primeira pessoa, a história de Momo, um rapaz árabe de 14 anos, abandonado pelos pais, e da sua relação com a velha prostituta que o acolhe, Madame Rosa, uma judia sobrevivente de Auschwitz. O jovem narrador reúne, com surpreendente credibilidade, atributos aparentemente inconciliáveis: a inocência e ingenuidade da infância e a capacidade precoce de entender o mundo e de lidar com o sofrimento humano. A adaptação do romance ao cinema por Moshé Mizrahi, em 1977, valeu a Simone Signoret, no papel de Madame Rosa, uma das suas últimas grandes criações. Eloquente testemunho de como o amor pode vencer o preconceito e a discriminação, este é um livro que nos ajuda a viver a vida à nossa frente. Livros do Brasil

Edward Gibbon
História do Declínio e Queda do Império Romano
Segundo a opinião autorizada do historiador Edward Gibbon (1737-1794) “o período da história do mundo em que a condição da raça humana foi mais feliz e próspera decorreu entre a morte de Domiciano até à entronização de Cómodo”. Porém, salvaguarda o escritor: “Os anais dos imperadores [romanos] revelam um variado e enérgico retrato da natureza humana (…). A conduta destes monarcas dá-nos um quadro das linhas extremas do vício e da virtude; a mais elevada perfeição e a mais vil degradação da nossa espécie”. Usando unicamente fontes primárias – textos e documentos escritos por pessoas que viviam na época dos eventos descritos – Gibbon demorou mais de 15 anos a escrever este livro que acompanha o percurso do Império Romano desde o seu auge, no ano de 98 d.C., até ao ano de 1580. Esta edição apresenta a versão reduzida da monumental obra de Gibbon (6 volumes), que o jornal The Guardian elegeu como uma das cem melhores obras de língua inglesa de todos os tempos e o melhor livro de história, também em língua inglesa, preparada por D. M. Low e publicada em dois volumes. Bookbuilders
Mónica Baldaque
Sapatos de Corda
Mónica Baldaque começou a escrever este livro ainda a mãe (a escritora Agustina Bessa-Luís) era viva. A ideia surgiu-lhe aquando da leitura das cartas que Agustina escrevia à sua mãe (avó de Mónica), muitas delas aqui reproduzidas. A obra leva-nos ao encontro de uma outra Agustina, através das impressões da filha, fundindo-se as duas na memória que habita estas páginas. A autora fala-nos, com delicadeza e grande sensibilidade, do tempo passado com os seus pais em Coimbra, no Porto, em Vila do Conde e na região do Douro, revelando aspetos inéditos da vida e personalidade de Agustina, como este: “Quando lhe perguntaram se tinha tido pena de não ganhar o Nobel, ela respondeu que só tinha tido pena por não ter dançado com o rei! Pois vesti-lhe [quando morta] um vestido de baile para que fosse preparada para uma dança, com o rei, com Deus!” A capa do livro reproduz o esboço de uma mulher com o olhar fixado no mar. Tem um vestido comprido, está ligeiramente curvada, com o queixo pousado na mão. Toda a paisagem é da cor do linho. Do mesmo linho que Agustina vestia nos dias quentes de verão. Relógio D’Água
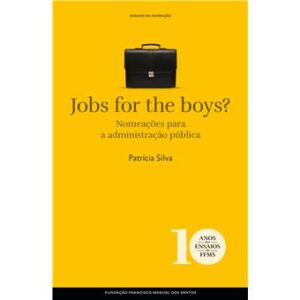
Patrícia Silva
Jobs For the Boys?
Sobre um fundo amarelo vivo recorta-se uma pasta negra fechada. Uma pasta vulgar, como as que usam tantos funcionários públicos administrativos. O presente ensaio pretende abrir esta pasta negra. “Jobs for the boys”. “Dança das cadeiras”. “Boycracia”. “Assalto ao Estado”. Todos conhecemos estas expressões, que sugerem a existência de favoritismo e politização na atribuição de empregos na administração pública. “É difícil encontrar um contexto democrático em que os atores políticos não procurem controlar a administração pública, socorrendo-se das nomeações”, escreve a autora, doutorada em Ciência Política. A obra enquadra a questão e identifica possíveis pontos de equilíbrio entre o controlo democrático da administração e a limitação da margem de manobra dos políticos na escolha de dirigentes. Termina avançando três propostas que prometem estimular a discussão sobre estratégias para conter os danos da politização dos serviços públicos. Porque é urgente “limitar, melhorar e exigir.” Fundação Francisco Manuel dos Santos
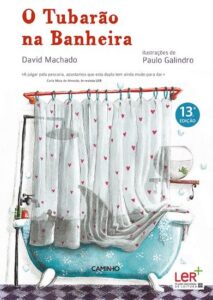
David Machado e Paulo Galindro
O Tubarão na Banheira
Um menino vai pescar com o avô. Mas, sem óculos, o avô não vê um palmo à frente do nariz, e acaba por levar para casa um tubarão em vez de um peixe! E agora? O tubarão não cabe num aquário! A única solução é pô-lo na banheira! Mas como reagirão as pessoas que moram lá em casa? O menino, aquele que pescou o tubarão, tem um caderno de palavras difíceis onde descreve todas essas reações. David Machado, vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura e do Prémio Salerno Libro d’Europa, tradutor de Bioy Casares e Mario Benedetti, conta uma história absurda e muito divertida. Paulo Galindo, ilustra de forma minimal, sem cenários, usando para a personagem principal roupa real: a roupa dos seus filhos. De regresso às livrarias, eis um dos grandes sucessos editorias da literatura infanto-juvenil portuguesa da última década, agora em 13.ª edição! Caminho
Vim ao mundo na Clínica de S. Gabriel, em S. Jorge de Arroios, às 04h20, do dia 21 de Fevereiro, de 1972. A minha mãe, então uma jovem de 19 anos, no momento do parto berrou e insultou as parteiras, a quem chamou de cabras e putas para aliviar a tensão das entranhas abertas e da passagem lenta da minha cachola. Nasci cabeludo, cabeçudo como um pepino, mas depressa fiquei careca, e assim estive, reboludo, bochechudo e calvo, durante um ano.
Alvalade foi o meu primeiro bairro. Ali fiz o tirocínio das artes da guerra que são as de crescer na rua, entre uma rapaziada danada da breca e ciganada dos bairros periféricos do Cambodja e Vietname (em Chelas).
Nos primórdios da adolescência, por curiosidade antropológica, comecei a visitar a aldeia cigana ao cimo da Avenida dos EUA (1). Queria ser adoptado pelo rei dos ciganos e tardava em voltar a casa, deixando-me estar até anoitecer deitado à etrusca nos tapetes da família Lelo que vivia de expedientes de feira e outros, dos quais não me apercebi ao certo, mas deviam ser marginais. Mais tarde vim a saber que eram contrabandistas e traficantes de haxixe e isso explicava os carros de luxo, os molares doirados e o ceptro (uma moca cravejada de diamantes) do grande chefe. Havia sempre guitarras, dança, cantos e lamentos, gataria e vira-latas e um vozear roufenho. Chamavam-me o russo de má-pêlo e acolhiam-me como um dos seus, mal sabendo que Salazar era de origem romani.
Fui parar ao ramo dos tuk tuks por causa do Frederico Duarte Carvalho, um carolas da História e das narrativas orais, além de escritor prolífico e de valor (com quem editei há pouco o livro Cartas do Confinamento [ed. Âncora]. Sabia dos ventos de glória de um par de antigos compagnons de route do Jornalismo, que ali viram uma forma de compensar a míngua das redacções, continuando a fazer da arte de comunicar a bordo de um riquexó o seu ganha-pão, com a tripla vantagem dos vazios legais, o ajuste de contas poético com o Sistema e o grito de liberdade. Dava-me jeito para compensar um azar de percurso e vim a descobrir na vida de feirante um verdejante pasto de crónicas e reportagens, que me levariam a escrever O Moturista Acidental [ed. A23], e a gravar uma série homónima para TV (por estrear). Para quem nunca experimentou a vida de tuktukeiro, isto é, visto de fora, e julgando o monge pelo hábito, quem o faz não passa de uma estirpe de diletantes. Um escol de janados, maltrapilhos, indigentes, impostores. A escória da sociedade, que, não tendo onde cair morta, caiu no cockpit de um tuk para arrebanhar uns cobres fáceis.
Ora, o guia, se tiver brio, estuda e dedica-se. Além de saber meia-dúzia de línguas, os meandros da História, e de entreter, tem que usar da fineza dos vendedores avisados. Está na rua, mas podia estar numa livraria ou alfaiataria, a dissertar sobre a obra de autores ou a vender fatos por medida. Se sabe quem foi o olisipógrafo Júlio Castilho ou quem são Appio Sottomayor e a Maria João Martins, tanto melhor. Se pode levar o viajante à mesa do British Bar onde Cardoso Pires escreveu o seu Lisboa: Livro de Bordo ou à viela onde desafinou o papillon de Baptista-Bastos por avanços sobre a sua esposa; ao Martinho da Arcada, onde Pessoa bebeu absinto e caligrafou A Mensagem; ou à passagem esconsa e sombria junto às Portas de Santo Antão onde Luís Vaz se travou de argumentos que o levariam ao cárcere ali vindo a escrever o primeiro canto de Os Lusíadas, melhor ainda. Se anda munido dos mistérios desvendados por Victor Mendanha ou sabe dos passos secretos e da geometria dos maçons, é pura questão de gosto e apreço pelo que não está à vista.
Alvalade, é falar do meu Sporting, indo um pouco mais além. Avô e pai Gomes, adeptos do Sporting, trouxeram-me, por ADN, a paixão leonina. Tenho bem presente o baptismo no velho estádio José Alvalade (2). Era uma tarde ensolarada e lá fomos, eu, pai e avô (das poucas vezes que nos recordo juntos) assistir a uma partida do campeonato. Vi-me fascinado com o espectáculo ao vivo, embora me lembre de ter passado mais tempo ocupado a comer queijadas e a emborcar sumóis de ananás. Ganhámos o jogo e por cada golo (uma cabazada) vi-me içado como um papagaio de papel entre leões em êxtase. A emoção do golo tem a sua razão de ser na explicação para a irracionalidade do clubismo.
Ao passear um turista em Lisboa dou por mim a pensar no poema Invitation au Voyage, de Baudelaire, e de como a minha ideia de Portugalidade insiste em ser a de um lugar ao sol onde povos sucessivos campearam para se instalarem, mas no final sobrou um gueto feliz, oásis de turistas em sobressalto, um dos poucos lugares do mundo onde é possível uma mesma rua alojar um muçulmano, um judeu e um ateu sem a noite acabar num paiol de pancadaria.
Penso em discussões pífias de futebol, em poetas e versejadores, em mandriões e mânfios e tanas e badanas e sacanas (como lhes chamou o Nuno Bragança) mas tudo malta convencida de que é porreira e de bom coração, penso no Ernesto Sampaio que dizia ser esta uma terra de bimbos, mas a ocidente não conhecer outra melhor.
Viajar fez-me concluir que o português emigrado é um tipo orgulhoso do seu torrão deixado para trás onde sempre voltará, de peito feito à conquista da terra escolhida como canteiro adoptivo mas sem nunca perder de vista a pátria por mais anafada a conta bancária.
Dei por mim, na qualidade de exilado (que me levou a escrever o livro de crónicas e contos Quo Vadis, Salazar? Escritos dos Exílio [ed. Escritório], saudoso de um pão capaz, uma sopa da avó, uma diatribe de bola olho no olho na tasca do senhor Abílio, o mar ao sair da porta, a luz coada do Verão quando ainda é Inverno, o burburinho das ruas estreitas da Mouraria e Alfama onde sempre voltei e me vi guia acidental.
Se professor é quem ensina (a andar, falar, pensar…) a minha avó Vessadas foi a primeira e grande mestra da minha vida. Antes de sentar o rabo na 1ª classe, no Bairro de S. Miguel, comecei por ir com a minha avó para o Campo de Santa Clara (3), onde ela dava aulas aos neófitos. Eu ficava à retaguarda, nos bancos dos fundos, ao lado de um calmeirão angolano. Como era o neto da “stôra”, olhavam para mim de lado, mas com o tempo, acabei por ser incluído e ganhei mesmo a alcunha de Tintim, graças a um redemoinho no meio da testa que perdurou até aderir ao semblante heavy-metal na adolescência. Nas aulas da avó Vessadas aprendi o bê-á-bá (e as linhas de caminhos-de-ferro e os rios e a tabuada) como os mais velhos costumam dizer “à moda antiga” (com açoites de régua e demais ensinamentos).
Qualquer miradouro de Lisboa nos leva à pose de contempladores de mundos, mas tenho especial carinho pelo alto do Parque Eduardo VII (4), onde D. Carlos e o rei inglês se divertiam como ardentes monteiros e bebedores de cátedra. Um dia, a passear um casal de americanos, ouvi este diálogo.
– Estou a fazer 43 biscas não tarda e que sei disto, do ofício de viver? Ando a ver se consigo pelo menos chegar à fase do quanto menos penso, mais existo. É tramado quando começas tarde a praticar e estás viciado em pensar achando que pensas bem mas apenas ruminas. Mas acho que os resultados estão a aparecer. Esta semana, por exemplo, consegui estar a olhar para uma parede branca meia hora sem pensar em quase nada tirando como pagar a este, àquele e aquele outro e como fazer com que me paguem a mim, para a coisa fluir com boas energias.
– Deixa-te lá de coisas e faz-te à vida. Estás porreiro, tirando essa malapata. Lê o Balzac e “A arte de pagar as suas dívidas e de satisfazer os seus credores sem gastar um cêntimo”. Pensa que há credores sensíveis e bondosos que acabam por se afeiçoar ao devedor. Olha para mim com 67. Devo a meio mundo, querem cortar-me o pescoço, depenar-me e continuo a fazer a minha vida como se nada se passasse.
Quando a Praça de Camões (5) se desvenda ao subirmos a Rua do Alecrim (6), e se dá de caras com a estátua do poeta, o mais certo é o embarcadiço do tuk tuk questionar quem é o fulano da pala. Conta-se então, conforme a inspiração do dia, estarmos diante do mais alto vate da nação. Se for cliente italiano, diremos estarem Os Lusíadas para A Divina Comédia, e Luís Vaz no degrau de Petrarca e Alighieri. Por razões que a razão desconhece, dou por mim a exortar os meandros da Ilha dos Amores, certo de que nenhum outro canto expressa tão avisadamente o que poderá ser a alma lusitana. Perro no italiano, desabrido no inglês e pomposo no francês, quando me chega a hora de impressionar a freguesia nada mais adequado do que pegar num velho exemplar camoniano da biblioteca do meu avô Garcia, empoleirado no banco do meu tuk tuk e de mão direita a desenhar voos picados por cada soneto lido. Aos franceses, comparo-o a Baudelaire como podia trazer à liça Verlaine ou Rimbaud, não tendo Celine parido poesia digna de registo. Aos brasileiros, nada mais os impressiona do que acordar o poeta Pessoa, e aí há que descer à Rua Garrett (7), ao Largo do S. Carlos (8) e às artérias da Baixa, se queremos esbarrar com a alma do poeta total. Camões, Bocage, Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Cesário Verde, o poeta Chiado, navegam a bordo do meu tuk tuk como podiam navegar nas ruas do Rio de Janeiro Clarice Lispector, Vinicius ou Tom Jobim.
Podia contar a história de um sem número de viajantes ocasionais, levados a bordo do meu tuk tuk amarelo, a quem chamo com carinho de machimbombo. Falo aqui de um casal aposentado do Surrey. Vi Kevin a primeira vez numa esquina da Rua Garrett. Linda, a mulher, esperava-o, e não se pode deixar uma mulher à espera ou trocar-lhe os planos. Estavam casados há 35 anos e viviam a reforma dourada. Os filhos criados, o negócio vendido e o suficiente para darem um par de voltas ao mundo até se esfumarem nos ares unidos pelo seu amor antigo. Depois de uma carreira bem sucedida de vendedor,salesman you know, dizia, Kevin era agora na reforma um fotógrafo apaixonado. Antes de zarparmos, deu-me um par de directivas. Queria frequentar ruas sem gente e paisagens dramáticas. Guinei ao cimo do Príncipe Real (9), aos ziguezagues pela Rua das Adelas (10), a Praça das Flores (11), a rua dos Prazeres, até chegar ao meu miradouro secreto nas traseiras do Jardim Botânico. O segredo, estava na hora de dizer-lhe, era apenas um: achar a famosa luz de Lisboa, e descobrir porque esta era a cidade dos céus mais altos do mundo. Diante de si tinha a cidade escancarada, apenas para ele e Linda e o chaperone Salazar, com a colina do Torel (12) ao longe e a cúpula da casa dos galegos a fumegar para fazer daquele instante um momento inesquecível.
A presença da Roma antiga na nossa sociedade atual é maior do que porventura nos damos conta, até no nosso quotidiano de Lisboa. A língua que falamos, a organização social e administrativa, a estética e tantas outras facetas da sociedade romana moldaram de várias formas a nossa. Não temos um monumento de grande escala que torne essa influência óbvia, tal como um Coliseu de Roma, um Teatro de Mérida ou mesmo, noutra escala, um Templo de Diana, como o de Évora. O que temos é um conjunto enorme de vestígios mais subtis, ou mesmo com alguma envergadura, mas disfarçados nas sucessivas camadas de reorganização da cidade ao longo das épocas posteriores.
À medida que vão sendo realizadas cada vez mais intervenções arqueológicas, começamos a compreender melhor a dimensão da presença romana, da sua organização e do estilo de vida que a Pax Romana permitiu. O projeto Lisboa Romana/ Felicitas Iulia Olisipo, arrancou em 2017 com uma ambiciosa agenda para possibilitar um conhecimento mais profundo, sitematizado e abrangente desse período histórico, dos seus antecedentes e consequências .
Ao criar uma rede de colaborações entre instituições lisboetas e dos concelhos limítrofes que integram aquele que foi o antigo território do municipium de Felicitas Iulia Olisipo, vai permitir valorizar, no seu conjunto, o vasto acervo arqueológico da Área Metropolitana de Lisboa. Entre as várias realizações deste projeto, ficou disponível, desde 14 de janeiro, o site bilingue, em português e inglês, Lisboa Romana / Felicitas Iulia Olisipo para impulsionar a divulgação deste conhecimento junto do grande público, e que inclui a georreferenciação dos principais vestígios conhecidos, para além de um vasto conjunto de informação patrimonial.
Edições temáticas, um congresso e exposições farão parte da programação prevista num futuro próximo, sendo de destacar uma programação de eventos online onde pode seguir a temática com a orientação de destacados especialistas.
Como preâmbulo ao espetáculo, Mónica Calle, rodeada das mais de três dezenas de atrizes e instrumentistas que integram o elenco de Carta, dirige-se ao público para caracterizar o que se sucederá como um ato de “fraternidade, resistência, superação e fé”. Qualquer palavra proferida durante aqueles breves minutos soará, certamente, ainda mais à flor da pele, quando se percebe que estamos a dias de um novo confinamento e que as portas dos teatros voltarão a fechar-se ao público.
É uma antestreia dupla para um espetáculo que já se debateu com as circunstâncias do tempo que vivemos. Muitas pessoas, muito risco e ensaios perturbados por casos de Covid-19 que afetaram o desenrolar dos trabalhos, como confidencia a atriz e encenadora. Mas Carta, vai ter direito a mostrar-se ao público em duas noites, enquanto não puder cumprir o número de récitas previstas pela temporada do Teatro Nacional D. Maria II. Acontecem a 12 e 13 de janeiro, às 19 horas, na Sala Garrett, naquela que é a primeira vez que uma criação de Mónica Calle pisa aquele histórico palco de Lisboa.

Carta é uma nova etapa de um processo iniciado há sete anos, ainda no Cais do Sodré, na sala da Casa Conveniente, na Rua Nova do Carvalho. Sucede a Ensaio para uma cartografia, um dos trabalhos mais aclamados da atriz e encenadora, que estreou há quase três anos na Sala Estúdio deste mesmo Teatro, e que, desde então, se apresentou em diversas salas do país e da Europa.
Agora, à “família” de atrizes que Calle reuniu ao longo dos anos, juntam-se 16 instrumentistas profissionais para dar continuidade a um ritual de teatro, música e dança clássica, onde o corpo se torna lugar de “questionamento perante as suas limitações e as suas capacidades de superação”. Atente-se que este “processo” se inicia com um conjunto de atrizes que, sem formação em música nem em dança clássica, se desafiam individual e coletivamente no movimento do bailado clássico e na execução de trechos de peças clássicas.
Por isso, como “sombra” de Calle no processo criativo de Carta está o maestro Martim Sousa Tavares, que considera este “trabalho como uma experiência única de aprendizagem incessante”. Cabe-lhe fazer a direção musical do espetáculo, “retirando do pedestal andamentos da Sétima Sinfonia de Beethoven e desconstruindo-os em trechos”, que ora são executados pelas instrumentistas, ora pelas atrizes, ou por todo o coletivo, nomeadamente com “a introdução de um novo instrumento”: a voz.
Tal como Ensaio, Carta é, como diz a encenadora, “um lugar de utopia e de afirmação onde só podemos existir enquanto indivíduos na ligação com os outros”. É este o combustível da cartografia que Mónica Calle vem construindo e que parece ganhar uma dimensão ainda mais esmagadora quando o espetáculo subir ao palco, a tão poucos dias de artistas e espectadores voltarem a estar separados. Outra vez.
As crianças são um público mais desafiante do que os adultos?
É uma experiência muito diferente da de apresentar concertos para adultos, sem dúvida. Gosto muito da espontaneidade das crianças e a peça Nocturno (2017) que criei com Victor Hugo Pontes, que envolveu idas a escolas durante o processo de criação e conversas pós-espetáculo, fez-me querer continuar a tê-las por perto, porque é simultaneamente exigente e divertido.
Qual foi a reação mais inusitada que obteve de uma criança durante um espetáculo seu?
No final de uma apresentação do concerto Eu gosto muito do Senhor Satie, uma criança veio ter comigo com um ar preocupado e disse ‘Agora estou com um problema. Eu achava que gostava do saxofone, mas agora acho que gosto mais do piano!’.
Em janeiro, leva As Árvores não têm Pernas para andar ao São Luiz. Porquê esta temática?
Em 2019 assisti a uma conferência de Emanuele Coccia no CIAJG, em Guimarães, onde o filósofo referiu que se apercebeu, a propósito da educação da filha, que às crianças é ensinada a diferença entre os animais mas não entre as árvores, o que limita desde logo a fruição desse mundo maravilhoso e tão diversificado. Na altura apontei esta ideia num caderninho e, quando recebi o convite da Fundação Lapa do Lobo para fazer um espetáculo portátil com toy piano, lembrei-me de passar do papel à ação e fazer o espetáculo à volta dessa temática, dando assim uma pequena contribuição para algo que julgo bastante pertinente.
Qual foi a parte mais difícil, mas também a mais gratificante, ao montar este espetáculo?
A cenografia tem um papel preponderante no espetáculo e foi literalmente um quebra-cabeças articulá-la com as outras componentes. Por isso dei por mim horas a fio a manipular cubos gigantes: quem me visse diria que estava a brincar – e não posso dizer que não fosse divertido – mas, até conseguir definir a logística associada, houve alturas em que me senti verdadeiramente em apuros.
Que efeitos pode ter a música no universo de uma criança?
A música é um mundo muito vasto e estimulante a vários níveis e os benefícios de estudar um instrumento não são uma novidade. É muito comum que as crianças gostem de cantar e dançar e é pena que, com o tempo, muitas percam essa naturalidade.
Em que altura percebeu que a música era o seu caminho?
Há sensivelmente 11 anos, quando o meu amigo Rui Ribeiro me ouviu a cantar em tom de brincadeira e me propôs gravar uma música em sua casa sem me dar grandes pormenores sobre o que estaria eventualmente a planear. Eu desconhecia totalmente que ele trabalhava para uma agência de música e que naquela altura estavam à procura de uma nova artista para lançar no mercado.
Os seus primeiros discos tinham uma sonoridade soul e funk muito forte, mas o mais recente, Confessions, tem uma estética sonora diferente. De onde veio esse desejo de mudança?
Quando lancei os primeiros discos, a soul music era um género que estava a descobrir e que ouvia muito, talvez isso tenha influenciado na altura de escolher os temas e a estética para o arranque de tudo. Na verdade, sou uma pessoa que não gosta de pensar em rótulos e que acredita que um cantor é muito daquilo que consome, que ouve, que vive no momento e deve, sem dúvida, deixar-se levar por tudo isso, porque acaba por tornar tudo mais orgânico e verdadeiro. Julgo que é isso que acontece no meu caso quando decido lançar um novo trabalho e me reúno com a minha equipa para decidirmos a sonoridade de um novo disco. Sinto a necessidade de seguir o coração e o que lanço tem tudo a ver com o meu estado de espírito, as influências que sobrevoam a minha cabeça e os meus ouvidos; e deixo que as coisas surjam naturalmente sem limitações ou entraves.
À medida que a idade vai avançando sente mais vontade de arriscar, de fazer música de forma diferente?
Sinto cada vez mais vontade de ser fiel a mim própria, isso sim! De passar mensagens que me sejam importantes, de contar histórias que me toquem o coração e o de quem as ouve, de cantar o que gosto realmente e de ser cada vez mais feliz a fazer música.
Confessions reúne segredos seus e de várias pessoas que lhe são próximas. A música tem também um papel catártico?
Sem dúvida! Costumo dizer que a música é uma terapia, não só para quem a está a ouvir, mas para quem a está a cantar ou tocar. Tem sido a minha fiel companheira ao longo destes dez anos e já me trouxe muitos momentos felizes, de purga, de recuperação, de força… A música tem o poder de fazer tudo isso, as artes têm o poder de fazer tudo isso! A cultura salva e ampara o ser humano de muitas formas diferentes!

Juntamente com Marisa Liz, criou o projeto Elas. Como surgiu a ideia?
A ideia de trabalharmos juntas já tinha passado pela cabeça das duas há algum tempo, parecia uma coisa inevitável de acontecer algures nas nossas vidas… Entretanto a Marisa antecipou-se e, num convite para jantar, acabou por me fazer a proposta, que era irrecusável e que me deixou extremamente feliz! É maravilhoso poder partilhar música com um ser humano que nos é próximo e de quem gostamos muito, como uma amiga!
Depois dessa experiência a cantar em português, pensa lançar, um dia, um disco totalmente em português?
Claro que sim, nunca esteve fora de hipótese e vai acontecer muito em breve.
De que forma é que o confinamento tem influenciado o seu trabalho? Trouxe-lhe inspiração e tempo para compor?
Durante o confinamento, curiosamente, não tive vontade de cantar, compor, nem me sentia criativa. Foi uma fase para refletir, para fazer um balanço daquilo que foram os últimos dez anos, tentar perceber o que seria o futuro e aceitar o presente. Não foi nem está a ser uma fase fácil, mas neste momento já estou a aproveitar para trabalhar, investigar, ouvir muita música nova e preparar-me para voltar com novos temas.
Para quando um novo disco?
Estamos numa fase complicada para gerir timings ou fazer planos, mas teremos certamente um novo trabalho em 2021.
Dia 15 de janeiro sobe ao palco do Campo Pequeno para um concerto inserido no festival Santa Casa Portugal ao Vivo. Como vai ser regressar ao palco em plena pandemia e com a lotação mais reduzida do que o habitual?
Estou muito ansiosa, com muita vontade que o dia chegue! Os concertos que fizemos este ano foram todos muito especiais, com a emoção à flor da pele por parte de toda a equipa. Queremos fazer o melhor para quem nos está a ver e nunca sabemos quando vamos voltar a ter um novo espetáculo, então é um misto de sensações que nos deixam o coração bem apertado e sem vontade de deixar o palco.
Um desejo para 2021?
2020 foi um ano de desafios, que nos fez parar e olhar para a vida de uma perspetiva completamente diferente, e que testou, sem dúvida, a nossa capacidade de luta e resiliência… Desejo, acima de tudo, muita saúde, e desejo que todos tenhamos esperança por um futuro melhor, empatia e espírito de entre ajuda. Acredito que só conseguiremos ultrapassar isto juntos, que assim melhores tempos virão e esperemos que seja o mais rápido possível.
Talvez devêssemos começar por esclarecer o porquê do seu espetáculo anteceder o título original da peça de Anton Tchekhov com o artigo indefinido “um”…
Em primeiro lugar porque é uma dramaturgia, uma adaptação e um olhar sobre a peça. Em segundo, Ivanov é escrito apontando duas razões: o repúdio pela mentira e pela intriga, e a compreensão humanista por todas as personagens – aliás como é característica de todas as suas obras, que nunca acusam nem criticam, deixando ao público a avaliação moral sobre as personagens. Neste caso, a mentira é repugnante, e como nós vivemos na era das não-verdades e das fake news, isto ganha um especial relevo. Outra coisa muito importante em Ivanov é o acentuar feito à possibilidade das pessoas não serem heróis, de poderem estar deprimidas, de não terem resistência ou resiliência, e não passarem a ser bandidos por causa disso.
Essa fraqueza ou incapacidade de ação das personagens é algo muito presente na literatura do final do século XIX.
Estava na moda por via dos pós-românticos, pelos “Baudelaires” e os poetas do spleen, e o Tchekhov vai escrever alguma coisa sobre isso. Mas não lhe chegou, e acaba por ir mais longe ao tratar o entorno daquela depressão que atinge o protagonista. E eu achei muito interessante enfatizar tudo isso, colocando o foco na mentira que mata e no direito a que todos temos de não conseguir resistir ao infortúnio…
Direito esse, de novo, muito em causa, agora não tanto pelo darwinismo social, mas por via do pensamento neoliberal.
Porque o mundo de hoje pede que sejamos heróis, mas muitos de nós não o conseguem ser. Isso acontece com muitos dos nossos semelhantes; e acontece com o Ivanov que, num ano, deixou de ser o homem forte e resistente, um semi-intelectual e proprietário rural, e passou a ver a vida desenvolver-se num sentido negativo, tornando-se depressivo. Refém de dívidas, passa por infortúnios, torna-se vítima da má-língua. E tudo aquilo que o repugna acaba por lhe ser imputado.
Chegou a referir não saber, quando começou a pandemia, se devia continuar a trabalhar esta peça. Mas, pelas suas palavras, parece perfeita para o agora.
Estávamos a começar a ensaiá-la em fevereiro, portanto, pouco antes de começar o desastre em que nos encontramos. Durante o confinamento pensei em abandoná-la mas, a dada altura, percebi que se isto é sobre a mentira, sobre a importância dos outros em nós e nós nos outros, sobre a capacidade e a incapacidade de resistência, nada poderia ser mais atual.
Terá sido a experiência do confinamento a dar essa luz sobre a peça e, consequentemente, a indicar o caminho que iria tomar a sua encenação?
A minha encenação é focada no sentido daquilo que ressalvei anteriormente. Dai o “Um” a anteceder o título original, embora esses sejam os temas da peça. Durante o período em que estivemos fechados em casa, ocorreu-me que, se calhar, devia fazer outra coisa que tivesse mais a ver com o momento. Mas, nesse período percebi: “isto”, o Ivanov, é o momento. Aliás, é um texto sobre todos os momentos difíceis porque passamos ao longo da vida, e por que passaram tantos outros que nos antecederam, noutras crises, noutras catástrofes.

Portanto, esta é a peça que encaixa no aforismo da “espada desembainhada contra a mentira e a demagogia” dos tempos, de que fala no texto de apresentação do espetáculo?
Eu acho que sim. Aliás, penso que essa era a intenção do Tchekhov no seu tempo, porque a peça opõe Ivanov, “o fraco”, ao seu inimigo Lvov, “o honesto, o sério”, o que passa a vida a julgar o “fraco” a partir dos seus preconceitos. Ora, no mundo há muitos Ivanovs e Lvovs. É muito engraçado como o autor, em carta a um amigo (que decidi traduzir para o programa do espetáculo), escreve: “se o público sair do teatro com a convicção que os Ivanovs são uns malandros e os doutores Lvovs são grandes pessoas, só me resta retirar-me e enviar ao diabo a minha pena.”
Será que a pandemia não nos terá tornado a todos personagens num drama tchekhoviano?
Talvez. As personagens do Tchekhov são um convite à reflexão sobre o que é o ser humano, no sentido de todas terem o bom e o mau, de mostrarem o quão difícil é ser pessoa. Agora, aquilo de que estou certa é que o contexto da pandemia só agudizou o que já estava mal no homem e na nossa sociedade, da saúde à educação, passando pela economia ou pela cultura. Mas tenho a esperança de que estes tempos tão difíceis acabem por ser uma revelação para todos nós. Digo-o no sentido do caminho que temos feito até aqui, na nossa relação com os outros ou com a natureza, o modo como vivemos e olhamos para as nossas necessidades. Até as culturais que, creio, uma larga maioria das pessoas não reconhece.
Entristece-a a falta de reconhecimento para com a cultura?
Infelizmente, a cultura nunca ganhou o estatuto de bem essencial. Para muitos ainda somos vistos como os párias, os preguiçosos, os neurasténicos, os que não têm resiliência. Por cá, a cultura foi sempre olhada como algo que não faz muita falta – não se come poesia nem pintura, não é? Mas mantenho a esperança de que, com toda esta crise, algo venha a mudar. Veremos!
Como é que tem sido, para uma companhia de teatro independente como A Barraca, sobreviver neste tempo?
Difícil. A nossa prioridade foi manter todas as pessoas que trabalham connosco, e até aqui conseguimos. Mas, A Barraca vive dos apoios do Estado, dos contratos com o sistema de ensino e do público. Ora, a bilheteira significa mais de um terço da receita da companhia, e ela desapareceu praticamente desde março, embora, nos meses de verão, tenhamos feito um conjunto de espetáculos [A Barraca a Céu Aberto] no Jardim de Santos. Porém, como tínhamos muito medo, limitámos tanto as lotações que a receita foi residual.
Isso obrigou Um Ivanov a ser um espetáculo adaptado às dificuldades?
É um espetáculo muito austero em termos de montagem, mas isso permitiu-nos um exercício muito interessante, com um conjunto de cadeiras a criar diversos climas e uns três ou quatro adereços muito impactantes. O verdadeiro investimento e a paixão d’ A Barraca são os textos e os atores, e é com isso que trabalhamos.
E como está a ser para os atores trabalhar neste contexto?
Mantêm a paixão e o entusiasmo de sempre. Não nego que há medos para vencer, que há uns raros constrangimentos que surgem, mas confesso que há muito tempo que não tinha tanto prazer a ver os atores crescerem em cena. É um regresso à vida para nós, e espero que o público nos acompanhe. O maior medo que tenho é, precisamente, que o público não venha, que se tenha habituado demasiado ao sofá. Porque o nosso trabalho só faz sentido com o público na sala.
paginations here