Quando teve pela primeira vez contacto com o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, sentiu de imediato que esta história daria um filme?
Qualquer um dos romances de Saramago poderia ser matéria apetecível para um filme. Mas O Ano da Morte de Ricardo Reis era o guião perfeito para falar de muitas das inquietações que o ano de 2019 trazia aos habitantes desta terra. Não havia ainda a pandemia invisível que hoje nos atinge, mas estavam outras a crescer: populismo, esboços de fascismo, ditadores, etc. O outro, o diferente começa a ser o inimigo que se deve desprezar, e até destruir. 1936, que Saramago descreveu como ninguém, é o ano do anúncio das catástrofes. Mussolini e os seus camisas negras erguem o fascismo e incendeiam Adis Abeba; Hitler e os camisas castanhas começam a engolir os países vizinhos na caminhada para a morte e o caos; aqui ao lado, a carnificina da falange vestida de azul na terrível guerra civil de Espanha. E em Portugal a consolidação do Estado Novo, o verde como a cor da Legião e da Mocidade Portuguesa, esmagando a liberdade e o pensamento.
Apesar de tantos anos de diferença continuam a existir muitos pontos em comum com os dias de hoje…
Parece que os humanos não aprenderam nada com os erros do passado, surgem agora os Trumps, Bolsonaros, Le Pens, Orbans, Erdogans, Putins, Lipins e tantos e tantos, ávidos de poder e servidores da ganância dos ricos e poderosos, trazendo com eles de novo o Mal que leva à subserviência, à miséria, à escravidão. E outras inquietações: os algoritmos que controlam, o individualismo implacável, o Nós transformado em apenas Eu, o pensamento a desaparecer, o consumo como existência. E o abandono da leitura e do saber partilhado. A vertigem que leva ao esquecimento. “A minha pátria é a língua portuguesa” escreveu um dia Pessoa (Bernardo Soares) no Livro do Desassossego. O texto elogiava, como mestre, o Padre António Vieira. E Saramago também escreveu, unindo-se ao poeta, que a língua portuguesa nunca se tinha elevado tão alto como nos textos do célebre padre jesuíta. Assim se encontravam, Saramago e Pessoa, cada um com escritas e oralidades diversas. Às vezes os textos bem escritos ainda crescem quando lidos em voz alta: Música. Assim o Teatro e o Cinema. Uma última inquietação: o Cinema de que eu faço parte há várias décadas. A degradação, o triunfo do entretenimento, do consumo das imagens e dos sons, o triunfo do movimento sobre o tempo. O cinema repito, não é o que se passa nem quando se passa, é como se filma. Luzes e sombras, seres humanos aflitos. Mostrar, ver e ouvir, fazer perguntas, as respostas pertencem aos espectadores, livres de escolher.
Fernando Pessoa tem inspirado a sua obra. Neste filme, a Fernando Pessoa junta-se o escritor genial que é José Saramago. Que dificuldades ou desafios se encontram ao realizar uma obra que tem por base estes dois grandes nomes da literatura portuguesa?
É difícil, sim. “Mas se fosse fácil estavam cá outros”, assim me ensinou um fuzileiro naval, meu amigo. Respeitar os textos, escolher, ligar sem trair. Cinema não é literatura, mas pode usá-la como matéria, como usa o teatro, a música, a arquitectura, a pintura, etc., que são artes mais nobres. Como vampiros, roubamos para construir outra coisa, tentando que as intenções artísticas se sobreponham ao negócio, esse pecado original desta “falsa” sétima arte. Pessoa e Saramago são um “luxo” português.
Podemos dizer que este é também um filme sobre a morte e o esquecimento. E que pretende de alguma forma refletir sobre a necessidade que a criatura tem de se libertar do seu criador?
Uma das invenções geniais de Saramago, a ideia dos nove meses que um morto ainda pode vaguear aí (antes de ser esquecido) para compensar os nove meses que se perdem na barriga materna. Outras invenções são a competição entre o criador (cínico) e a criatura que dele se quer libertar, ou a paixão entre dois homens, tornados físicos, palpáveis. Física da metafísica. Uma relação perturbada por duas belas mulheres e, como num western em que ao pôr-do-sol eles se afastam, aqui num nascer de dia, eles também partem abraçados, para um outro mundo porque neste, de cores cinzentas, já não conseguem viver. Ficam-nos os textos como dádiva gloriosa.

Porquê filmar a preto e branco?
A felicidade pode ser a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias. Como filmar em 2019, nesta Lisboa colorida de semáforos e antenas e lojas, o ano de 1936? Escolher bem, enquadrar com cuidado, fazer chover onde estava o sol, utilizar o Hotel Astória em Coimbra, como justo Hotel Bragança, no centro de Lisboa, Fátima no Campo de Tiro de Alcochete, mas muita Lisboa, “meu lar” e lar do meu filme.
A escolha dos atores foi uma escolha intuitiva ou um processo racional?
Racional, racional. Se olharem para as últimas fotografias de Fernando Pessoa em 1935, com 47 anos vêm um homem velho, inchado, diferente do ícone mas quase igual a Luís Lima Barreto que, com a excelência da representação, transporta com ele a ironia do texto. Ricardo Reis “viveu” no Brasil 16 anos. Um amigo meu, que viveu um ano no Brasil, veio a falar brasileiro. E depois, acima de tudo, Chico Diaz é um actor de génio. Fez um Ricardo Reis perfeito. E a beleza da Victoria Guerra e da Catarina Wallenstein, as suas excelentes qualidades de atrizes, o modo como a luz nelas se reflecte e incendeia o ecrã, são escolhas justas para Marcenda e Lídia.
Que significado atribui à figuração de Pilar del Rio no filme?
Através dela, a presença de Saramago, no meu filme. É um agradecimento.
Uma parte considerável do seu trabalho baseia-se em grandes obras literárias. É caso para concluirmos que é um cineasta especializado em adaptações literárias?
Eu não sou um especialista. Eu sou um apaixonado pelos grandes e inigualáveis textos portugueses. E afirmando-os, luto contra o esquecimento.
Em entrevista, o premiado romancista, cronista e argumentista fala sobre o jornalista que foi e que, ocasionalmente, ainda é, e de como uma peça de teatro, que rouba o título ao jornal, consegue mostrar tanto sobre o estado atual do jornalismo e as condições precárias de quem o faz, revelando ao mesmo tempo tanto daquilo que somos, jornalistas ou não.
Apesar de a considerar uma comédia, a peça Última Hora parece ser um réquiem ao jornalismo…
Um réquiem esperançoso, apesar de tudo. Várias pessoas leram a peça e concordam que é uma comédia; outras, que não é só uma comédia, e até houve quem achasse que não é de todo uma comédia. Eu continuo a considerar que é uma comédia no sentido lato do género. É para fazer rir embora, comigo, fazer rir é fazer pensar.
Mas o riso é, muitas vezes, amargo.
Acredito que o humor não é aligeirar, é aprofundar. Claro que, apesar de ter pensado nela como um corpo de comédia, quem escreve uma peça sobre jornalismo tendo sido jornalista, e ainda mantendo alguns trabalhos jornalísticos, não pode deixar de ter uma nota de desespero, de nostalgia e de realismo.
Essa nostalgia não a torna sedenta de um tempo que já não existe?
Não. O trabalho que faço neste, ou noutros campos da ficção, é uma espécie de amálgama cronológica em que as personagens, também de acordo com os pensamentos que têm, vivem vários tempos ao mesmo tempo. Como, na verdade, todos vivemos. E a cada pensamento corresponde uma ação. Aqui, as personagens aparentam estar paradas naquela espécie de museu de imprensa. Mas não – elas estão a reagir ao mundo, às mudanças, à invasão de outras linguagens e outras maneiras de pensar (mesmo que estranhas ao jornalismo) para tentar sobreviver. Nesse aspeto, é um grito de vida.
Reconhece haver, apesar de tudo o que acontece na peça, uma visão romântica da vida nos jornais?
Há aqui ainda o jornalismo dos tempos heróicos, em que até era possível fumar dentro da redação ou ter uma garrafa de whiskey para dar combustível ao texto [riso]. Eu passei por isso tudo. Assisti e vivi. No fundo, procurei fazer tudo dentro desta peça. Ao mesmo tempo quero que as pessoas sejam surpreendidas. Gostaria que o público, no final do espetáculo, sentisse o mesmo que o imperador russo ao intervalo de O Inspetor geral do grande Gogol, e dissesse: “ele está a falar de nós”. Ou seja, pretendi obter um retrato de Portugal, de uma época (que é larga) e de uma sociedade.
E o jornal é aqui um microcosmos?
Não só da portuguesa e dos jornais portugueses. Ao contar alguns dos truques sujos que são usados por alguns que usam o jornalismo no sentido que Kant dava ao “mal radical”, ou seja, pessoas que usam os outros em proveito próprio, fazendo tudo o que é possível para se beneficiarem a si através de outrem, estou a falar do jornalismo, e não só, de cá ou de qualquer outra parte do mundo. Acho que a peça pode ser facilmente compreendida em qualquer lugar, tanto hoje como daqui a uns anos. E embora sendo uma peça escrita por mim, espero que fale por muitos.
Estas personagens podem ser facilmente reconhecíveis por quem tenha passado pela redação de um jornal. Inspirou-se em pessoas concretas?
Curiosamente, e sem qualquer tipo de misticismo, acontecem coisas na vida que têm muitas vezes relação com o trabalho que estou a desenvolver. Este livro foi para a gráfica [Última Hora está publicada em livro numa edição da Tinta da China, com lançamento marcado para a data de estreia da peça] no dia da morte do Vicente Jorge Silva, que foi um dos meus mestres, meu diretor no Público, embora o diretor deste jornal não seja o Vicente. Estas personagens são uma mistura de muitas pessoas com quem me cruzei, têm muito de mim, de amigos, dos que estão, dos que já morreram e até mesmo dos que hão-de vir. Acho que consegui, e os atores reconhecem isso, que cada uma delas tenha densidade, tenha contradições, e que isso as torne reconhecíveis.
Há um retrato feroz daquilo em que os jornais e, consequentemente, o jornalismo se tem tornado, essa tendência para a tabloidização…
Hoje é tramado ser jornalista. Somos olhados de lado, parecemos estar sempre sob suspeita de estar a entrar pelo caminho que este jornal da peça está a tomar. Experiencio isso quando vou a tribunal [o autor assina uma crónica intitulada Levante-se o réu no Jornal de Notícias] e puxo do cartão de jornalista para falar com alguém. Mas eu acredito no bom gosto, e ainda acredito no jornalismo.

O Rui tem trabalhado regularmente para teatro, lembrando a coautoria de textos para Casal da Treta ou Zé Manel Taxista, ou a dramaturgia de António e Maria [peça do Teatro Meridional, a partir de textos de António Lobo Antunes]. Mas este é um trabalho diferente. Como foi o processo de escrita?
Partiu de um desafio do Teatro Nacional D. Maria II, do seu diretor, o Tiago Rodrigues, que, por sinal, é filho de outro dos meus mestres no jornalismo [Rogério Rodrigues], em inícios de 2017. Depois, concorri a uma bolsa de criação literária em Berlim e para lá fui escrever uma peça sobre jornalismo sem saber ainda o quê. Visitei bem a cidade, tive a noção que subsiste do Muro, fui a alguns jornais e, durante esse período, desenvolvi uma parte importante da história. Aliás, Berlim está muito presente e há um episódio delicioso, que não quero revelar, mas que está na peça. Posteriormente, já por cá, dediquei-me a este trabalho, que foi duro, abdicando mesmo de outros para aqui concentrar o meu esforço.
Nessa passagem por Berlim, na visita a jornais, encontrou um cenário semelhante ao que se passa em Portugal?
A crise na imprensa escrita é geral, eles vendem menos, mas são ainda assim na ordem do milhão de exemplares. Mas, essa estada coincidiu com um período muito interessante. A imprensa alemã estava, em articulação com a União Europeia, a organizar-se de modo a que, se não queremos uma sociedade dizimada pela desinformação, pelas fake news, pelos populismos (que por lá são uma enorme preocupação), é preciso agir. E a ação passou por chamar “à pedra” as grandes plataformas, como a Google e as redes sociais, que andavam a pilhar o trabalho de quem escreve nos jornais. Havia forte mobilização e um debate acesso sobre o assunto.
Por cá, à devida escala, esse debate também foi feito.
Mas muito tardiamente. Eles estavam a tentar mudar mentalidades, enquanto aqui havia jornalistas que publicavam de manhã no papel ou no digital e à tarde já estavam a divulgar, à borla, o artigo no Facebook. Considero, em primeiro, uma deslealdade para com quem está a pagar; em segundo, é uma forma de alimentar quem não lhes dá nada, ou seja, as redes sociais que vendem publicidade com o trabalho dos outros. Adicionando isto a outros problemas, as pessoas desabituaram-se de comprar jornais, de pagar pela informação. E assim, não pode haver imprensa livre.
Tudo isso e muito mais está em Última Hora, uma peça com ambição, muitas didascálias, muitos pormenores e descrição de ambiente, algo até em contraciclo com o que se vai fazendo na dramaturgia contemporânea…
Quis que a peça tivesse “atos” com “c” [riso, aponta para uma cópia da prova da capa do livro onde se lê Última Hora – Peça em três actos]. Ainda pensei escrevê-la em cinco atos, à Shakespeare (desculpe, mas é uma referência), embora, infelizmente, não dominar a técnica porque é muito complicado perceber quando as coisas devem acontecer ou quando chega o tempo de mudar tudo. Portanto, fui pelos tradicionais três atos e, mesmo assim, é uma peça longa, mas moderna. E quis que estivesse lá tudo: a sala de redação, o bar onde vão os jornalistas, o passeio junto ao Tejo…
E que houvesse muitas personagens.
Sim. Uma redação é um organismo vivo, com muita gente. [pausa] Bem, agora nem tanto devido à pandemia (tem graça que o Miguel Guilherme, que faz o papel do diretor, esteve no Público para sentir o pulsar da redação e acabou por não ver o que realmente é aquele bulício).
Para além de atores consagrados, como o Miguel Guilherme, a Maria Rueff e os atores do Nacional, o elenco conta com muitos jovens. Está satisfeito?
Muito. São todos fabulosos. O Miguel e a Maria vão estrear-se, por fim, no palco da Sala Garrett. E há aqui algo muito curioso que é termos estagiários de teatro a fazer de estagiários de jornalistas. Interessante, num mundo em que as pessoas perderam a perspetiva de terem um emprego duradouro que permita pensar no futuro, numa família… O jornalismo, particularmente, perdeu isso, tal como, calculo, o teatro e tantas outras profissões. A peça é também sobre isso.
Para concluir, a dado momento, o diretor do jornal tem um desabafo, que cito: “eu meti-me nesta vida desgraçada, nesta fábrica de divórcios, nesta máquina de trinchar filhos às postas, neste hospital de malucos, neste alambique de bagaço, neste tanque de nicotina e alcatrão, neste camião cisterna de tinta tóxica em defesa de um bem maior: a Liberdade! E a Democracia!” Este ainda é o bem que o jornalismo defende?
Lá está. Os meus heróis na peça, com todos os seus defeitos, têm um fundo bom, embora muitas vezes estejam confrontados com a sobrevivência. É por acreditar que a liberdade e, já agora, o amor, são o principal, que a peça nunca poderá ser um réquiem ao jornalismo. Apesar desta fase híbrida em que vivemos, o jornalismo não pode acabar e encontrará um caminho. Como nos dizia o Vicente [Jorge Silva] e os seus discípulos quando entrei no Público: “você não está a escrever para o diretor ou para o chefe, está a escrever para o leitor”. Esse é o compromisso.
O teu novo disco tem um nome muito forte e simbólico, Canções do Pós-Guerra. Porquê este título?
As primeiras canções que escrevi para este disco nasceram duma guerra conceptual. Deparei-me com expectativas em relação à progressão sonora na minha carreira, e a noção de que o próximo passo musical teria de acrescentar algo mais aos passos anteriores. Apeteceu-me refrear essas ideias, e assumir que uma carreira artística não é necessariamente feita de progressões e acréscimos, também pode contemplar recuos, insistências e subtrações. Comecei a fazer canções contidas, e isso foi uma guerra. Daí brotou o título, que era amplo o suficiente para poder albergar várias temáticas. Há muitas guerras, literais e simbólicas. E há muitas noções em torno do pós-guerra: reconstrução, esperança, desesperança, luto, nascimentos, rescaldos. Finalmente, o título também serviu de pretexto para evocar alguns poetas (de guerras e de pós-guerras) que admiro.
Segundo o press da tua editora, este é o teu disco mais maduro e direto de sempre. Isso está, de alguma forma, relacionado com a maturidade da idade?
Esse press foi o primeiro contacto que tive com uma análise ao meu disco, e por isso aprendi a concordar com o que lá está escrito. Revejo-me nessa ideia, porque revêm essa ideia em mim. Não sinto que fiquei uma pessoa madura dum dia para o outro, mas o abeirar dos 40 (que não são especialmente ternurentos como cantava o outro; parecem-me bem banais) deu-me a capacidade de simular melhor essa maturidade. É como se uma mera faixa etária me conferisse autoridade poética para rezingar, ou para ser incómodo sem amenizar tudo com ironias. O meu relógio biológico é uma coisa bio-poética.
O disco abre com Ao Pós. Atravessamos um período de ascensão de novos populismos, como se não tivéssemos aprendido nada com o passado. A cantiga pode ser uma arma contra a ignorância?
Pode, embora perceba que o poder de uma cantiga para estupidificar é mais forte do que para instruir. Não será uma arma direta contra a ignorância. Para apelar a um ignorante, provavelmente há que baixar o discurso ao nível da compreensão do destinatário, e assim tudo se inquina. Mas uma cantiga pode imiscuir-se no tecido cultural de pessoas, dum povo – e um povo que se habitua a cantar os valores certos dificilmente descai para povo errado.
O disco é composto por canções que são gritos de revolta sobre os nossos falhanços coletivos, mas também por outras que são uma lufada de ar fresco, em que parece que tudo vai ficar bem. Quiseste criar um equilíbrio entre as trevas e a esperança?
Não sei se chega a haver um equilíbrio. Não uso as canções luminosas como contrapeso às canções sombrias, porque acho que o Mal e o erro são mais abundantes do que o Bem e o certo. Mas estar rodeado de negatividade não me impede de fixar os olhos naquilo que lhe escapa. É aí que entra a esperança como elemento fundamental dos meus discos, mesmo que seja em doses pequenas. Não tento, por isso, o equilíbrio. Acabo sempre por abrir portas, mesmo que sejam portas estreitas.
Há também canções que parecem ter um tom demasiado íntimo e pessoal (embora o seu significado pareça algo encriptado), como Cedo ou O Muro. As tuas canções são uma espécie de catarse?
Não procuro catarse nas canções, mas pelos vistos a catarse acaba por me apanhar. É que mesmo as coisas mais mecânicas do meu processo criativo são ativadas por desabafos, por esvaziamentos. Tudo o que eu tenho acumulado, consciente ou recalcado, pode desaguar em canção. Apesar do cariz utilitário, apesar de ser trabalho, há claramente uma purga. E a essa purga podemos chamar catarse.

Utilizas muitas metáforas nas tuas letras, deixando sempre várias interpretações em aberto. Preferes que seja o ouvinte a fazer a sua própria interpretação da canção?
Não é bem uma preferência, embora sinta qualquer interpretação do ouvinte como um momento de extrema generosidade. É generoso, até quando não me encontra e se encontra a ele próprio na canção. Deu-se ao trabalho, escutou, escrutinou: é generoso. Quando escrevo, procuro a sinceridade, que é uma coisa muito pedante de se dizer, mas não deixa de ser verdade. E em quase toda a poesia que me interessa, a sinceridade é reforçada por símbolos, não por relatos concretos. Corro o risco de não ser entendido, mas, se finalmente me entendem, corro o risco de não ser esquecido.
O álbum – que contém nove faixas – é ilustrado por nove vídeos, filmados em sequência, e que te mostram a passear por Lisboa. É uma carta de amor à cidade?
É uma carta de amor a esse tesouro que é poder andar na rua. Não conseguimos fazê-lo durante uns meses, continuamos limitados e não sabemos muito bem o que nos espera. Este disco cumpriu o confinamento caseiro como qualquer um de nós; ficou fechado à espera da altura em que pudesse sair. Levei-o, portanto, a passear na minha cidade. A passear nas mesmas ruas onde, tantas vezes, já andei a pé à procura da rima certa, ou da frase mais conveniente.
A quarentena trouxe-te algum tipo de inspiração para este disco ou para discos futuros?
Embora não tenha escrito qualquer canção durante a quarentena, não deixou de ser um dos períodos mais marcantes pelo qual passei no meu tempo de vida. Assim sendo, duvido que consiga estar imune a isto tudo quando voltar a escrever.
Menina surge como uma canção de embalar que fecha o disco com um final que se espera feliz. Há luz ao fundo do túnel?
Menina abeira-se do contrassenso. Canto e toco-a como se fosse de embalar, mas é uma canção sobre despertar. Há luz, e vivo acordado para essa certeza.
É um dos mais emblemáticos músicos nacionais, que atravessa gerações e continua a apaixonar quem o ouve. Jorge Palma começou a estudar música clássica ainda criança, mas foi na adolescência que sentiu o chamamento do rock. Para além do piano, aprendeu a tocar guitarra ao mesmo tempo que foi crescendo em si uma curiosidade pela música popular anglo-saxónica.
Fugiu à guerra e exilou-se na Dinamarca, onde nunca deixou de compor. Depois do 25 de Abril, o músico regressou a casa para, em 1975, gravar o primeiro LP, Com uma Viagem na Palma da Mão, que inclui canções compostas durante o exílio. Depois de lançar o segundo álbum, voltou a sair do país, passando a ser presença assídua nas ruas de várias cidades, onde cantava e tocava guitarra. Fixou-se, entretanto, em Paris, onde tocou no metro durante alguns anos.
Quando regressou a Portugal lançou alguns dos seus discos de maior sucesso, como O Lado Errado da Noite (1984) ou o Bairro do Amor (1989), por muitos considerado um dos melhores álbuns portugueses do século XX. Seguiram-se outros álbuns que viriam a marcar a história da música nacional, como Só (1991) e Voo Nocturno (2007).
Embora seja mais conhecido pela sua carreira a solo, Jorge Palma integrou ainda os projetos Rio Grande e Cabeças no Ar e, mais recentemente, partilhou o palco com Sérgio Godinho no projeto Juntos.

Compositor, poeta, rock star, boémio. Qual destas facetas o define melhor?
Compositor/intérprete e boémio também, um pouco menos inquieto agora.
Como reage quando alguém lhe diz que a sua música lhes mudou a vida?
Sorrio e desejo-lhe(s) boa sorte, já que teria sido ao som de uma canção minha que se conheceram, namoraram ou casaram.
Se só pudesse ser recordado por uma canção, qual seria?
Talvez Só.
Tem algum álbum preferido, ou os álbuns são como os filhos?
Os filhos e os álbuns preenchem áreas bem diferentes nos meus “leques” emocional, cognitivo e sensorial, não consigo preterir um filho em favor do outro. Quanto aos álbuns a escolha é difícil, tendo em conta que cada LP corresponde a um período específico da minha vida, mais ou menos longo, e que todos eles me trazem à memória múltiplas e variadas estórias. A escolher, teria de ser o primeiro: Com uma Viagem na Palma da Mão (1975) (por ser o primeiro) e talvez o Só, que, não sendo de originais, ilustra o meu percurso entre 1975 e 1981.
De todos os duetos que fez, qual foi o mais inesquecível?
Os intérpretes com quem tenho feito duetos, em disco e em palco, são tantos, que seria preciso uma página (ou mais) para citá-los a todos. Saliento a minha colaboração de longa data com Sérgio Godinho, com quem recentemente partilhei o palco em concertos de duas horas na digressão Juntos, que nos levou a percorrer o país inteiro ao longo de quase dois anos e da qual resultou o CD/DVD homónimo. Destaco também os meus encontros musicais, em disco e em palco, com Cristina Branco, de novo minha convidada neste próximo concerto em orquestra, a 12 de setembro.
Com que músico/cantor da nova geração gostaria de trabalhar?
Talvez Salvador Sobral, excelente músico de grande expressividade, energia e imaginação.
Se fizessem um filme sobre si, que ator lhe daria vida?
Sean Connery.
Como é celebrar 70 Voltas ao Sol com um concerto sem público presencial?
Vai ser um pouco estranho mas, sobretudo, uma grande festa.
Para quando um novo disco?
Sou capaz de ter disco novo gravado até ao final do ano, logo se verá.
Escreveu José Saramago: “São os autores que fazem as literaturas nacionais, mas são os tradutores que fazem a literatura universal”. Por ocasião da Feira do Livro de Lisboa, que regressa ao Parque Eduardo VII, na sua 90.ª edição, de 27 de agosto a 13 de setembro, a Agenda Cultural de Lisboa falou com cinco tradutores.

Valério Romão
A informática ocupou grande parte da vida profissional de Valério Romão. O escritor, licenciado em filosofia, chegou à tradução por via da paixão pela leitura e pela escrita e “pela vontade de ver em português um determinado texto que não tenha ainda sido traduzido. Tentar fazer aquilo que os outros tradutores fizeram antes de mim, incorporar na cultura portuguesa a voz de determinado autor, dando-o a conhecer.”
Nascido em França, onde viveu até aos 10 anos, tem facilidade natural em traduzir do francês, mas também traduz do inglês, “com a ajuda do dicionário”. Traduz muita poesia que não está editada. “São traduções que tenho na gaveta e que faço por gosto, que eventualmente um dia proporei a uma editora. Estou a traduzir o livro La Main hantée, da poeta canadiana Louise Dupré que escreve em francês. Admiro a poesia dela que descobri numa livraria francesa. Enviei-lhe uma mensagem a dizer que gostava muito de traduzir o livro, mas que não tinha como pagar direitos de autor porque nenhuma editora iria suportar esse custo. A edição de poesia em Portugal faz-se com tiragens de cem exemplares e sem dinheiro. Ela ficou muito satisfeita. Disse que não era pelo dinheiro que estava na poesia e ficou encantada com a situação de um autor ter entrado numa livraria e ter lido um livro seu que lhe apeteceu traduzir e divulgar.”
A mais recente tradução de Valério Romão, O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, foi parar-lhe ao colo por via da editora para quem já tinha traduzido Houellebecq. “Foi uma honra porque é um autor tremendo, não só pelo valor literário, mas por todas as contribuições para a luta dos direitos humanos, nomeadamente dos negros e homossexuais. É um livro arriscadíssimo, dos anos 50, muito bem escrito por um negro homossexual, sem qualquer ambiguidade de discurso. O Baldwin é um daqueles autores de que uma pessoa pensa: gostava de ter conhecido este tipo! É um sujeito com uma coragem e uma lucidez espantosas”. Quanto à obra, refere que o livro não tem uma linguagem complexa: “Um pouco escola Hemingway, exilado, frases curtas, embora com um tópico e uma densidade emocional diferente”. Perguntado sobre se essa simplicidade de estilo não é difícil de transpor para a tradução, responde: “Depende, se a aparente simplicidade do autor é mais um efeito, ou não. No caso do Baldwin, existe uma grande honestidade na forma como escreve”.
E termina com um desabafo: “a atividade de tradutor é muito mal paga em Portugal. Se fizermos contas ao tempo investido, à qualidade que exige de si próprio, ao que fica depois dos impostos, só vale a pena fazer isto por amor ou por não saber fazer mais nada”.

Margarida Vale de Gato
Margarida é licenciada em Línguas e Culturas Modernas, mas o seu encontro com a tradução começou antes de ir para a faculdade. Aos 13 anos foi com a família viver temporariamente para a Califórnia enquanto o pai fazia o mestrado. “Já na altura gostava de línguas. Costumava interrogar-me como as pessoas pensavam em línguas diferentes. Entrei na escola local e, ao fim de alguns meses, comecei também a sonhar em inglês. Isso iluminou os meus dias que eram um pouco solitários, porque não é fácil transitar com essa idade para outro país. Como sabia que ia regressar a Portugal comecei também a aprender francês, mas como era bastante rudimentar, dediquei-me a aprender autodidaticamente ouvindo Jacques Brel. As minhas primeiras traduções foram letras de Brel. Logo aí percebi que esta era uma atividade onde me sentia muito bem.”
Neste momento não traduz do francês, a não ser que lhe venha algum poema: “não por ser mais fácil, mas porque há uma concentração na palavra que requer outro tipo de atenção que não tem a ver com expressão do uso quotidiano da língua. Para traduzirmos romances, temos que estar sempre a ver séries na televisão, que não gosto especialmente, ou filmes – que vejo mais. Ou vamos constantemente aos países onde se fala a língua na variante em que traduzimos, senão a coisa começa a congelar. A literatura é um mecanismo de inovação da língua onde se acompanham os rumores mais recentes.”
Margarida prepara uma antologia de poesia Beat com Nuno Marques e traz-nos um volume de Marianne Moore, O Pangolim e Outros poemas, a única proposta que fez à editora. “Queria muito traduzir este livro. Sou professora de Literatura Americana e no modernismo agradam-me aqueles que fazem experiências. Ao nível da poesia, gosto muito de arriscar perceber a experiência através da tradução. Marianne Moore é uma poeta que conjuga a curiosidade pelas pequenas vidas (o pangolim, bicho tão maltratado pela nossa pandemia, ou a nectarina e o morango, por exemplo) com a consciência de que a maneira de conhecer já depende de anteriores representações – mas de que ela procura oferecer um ângulo diferente através da cadência de linguagem. Enquanto autora, ela proporciona-me uma atenção ao objeto representado que sai da esfera do eu. A minha poesia tende a ser pessoal e a jogar com a autobiografia de uma maneira que continuo a prosseguir porque acho interessante, mas que ela contraria.”
Sobre o tema da tradução, afirma: “é muito difícil trabalhar com certos tipos de sistematização porque há textos que admitem uma maior literalidade, importante para conservar o estilo e a estranheza. Outras vezes, é preciso adaptar. Por isso, quando se fala em coerência em tradução, devemos desconfiar. É preciso arriscar contradizer-se, porque a unidade do texto é algo que a tradução nega por inerência”.

Miguel Martins
Arqueólogo que não exerce, Miguel Martins começou a ser convidado por editores para traduzir em virtude de ser poeta. Embora também faça crítica para a revista Colóquio/Letras da Gulbenkian, vive essencialmente da tradução. Traduz do francês, inglês e castelhano e já traduziu um livrinho a partir do italiano, Manifesto da Música Futurista de Luigi Russolo, que foi uma coisa por amor e mais morosa do que seria se tivesse verdadeiro domínio da língua. “Eu traduzo tudo para ganhar a vida, livros muito maus, de auto-ajuda, etc. De vez em quando, lá traduzo coisas verdadeiramente boas como sejam o Forster ou a peça de teatro Mariana Pineda, do Lorca, além de muita poesia para revistas literárias.”
Sobre a sua mais recente tradução de A Máquina Pára e Outros Contos, de E. M. Forster, uma coletânea de textos escritos ao longo de 20 anos, diz-nos: “para motivar os leitores falaria essencialmente do conto que lhe dá titulo, um texto verdadeiramente fantástico que, escrito há cem anos, prevê com rigor surpreendente muitíssimos dos aspectos do mundo atual e das suas características distópicas: a comunicação apenas através da máquinas, o afastamento das pessoas, uma espécie de internet ou coisas como os likes do facebook.”
Da atividade de tradutor, salienta: “penso que para uma boa tradução é muito menos importante o domínio da língua de partida, (com mais ou menos trabalho chega-se lá), do que o domínio da língua de chegada. Finalmente, o que chega às pessoas tem que estar escrito em bom português. Por isso, acho que, sempre que possível, as traduções literárias devem ser feitas por escritores. Mas, paralelamente a isto, a tradução implica cultura, referências de toda a ordem, histórica, científica, artística, política. É por aí que muitas traduções pecam. E é por essa razão que, apesar das exceções, tenho sérias dúvidas que possa haver grandes tradutores muito jovens. Quem trabalha em tradução profissionalmente não sabe o que lhe vai parar às mãos, portanto essa cultura tem de ser tão abrangente quanto possível, sem prejuízo das pesquisas necessárias a cada caso. Não se pode viver da tradução trabalhando só em coisas boas. Em Portugal, os preços são iguais, quer estejamos a traduzir Shakespeare ou a biografia das Spice Girls. Ora, de um livro de chacha, eu traduzo quinze páginas por dia; de Shakespeare, se calhar traduzo sete linhas. Os tradutores que só traduzem coisas verdadeiramente interessantes, ou não vivem disso ou vivem muito mal. Para mim, o problema deste trabalho é não ser ininterrupto, haver hiatos entre uma tradução e outra. Se estivesse sempre a trabalhar (o que também não era desejável, porque é mentalmente muito cansativo e porque, às vezes, preciso de me libertar do estilo e linguagem de um autor, antes de começar outro) seria uma profissão relativamente bem paga.”

Hugo Maia
“Comecei a aprender árabe quase por brincadeira. Tinha passado férias em Marrocos e fiquei curioso com a língua. Compreendemos castelhano, falamos inglês, mas não entendemos a língua de um país vizinho que nos parece totalmente diferente.”
Hugo Maia inscreveu-se então num curso livre de árabe na Faculdade de Letras e leu muito sobre a história do mundo árabe e da presença islâmica em Portugal. Como era o melhor aluno da turma conseguiu uma bolsa para um curso intensivo de verão na Tunísia. “Apercebi-me que, para aprender árabe, teria que o fazer num país árabe. Era a melhor forma de aprender o árabe padrão e o árabe coloquial e por isso decidi inscrever-me no curso anual intensivo, em Tunes. Na realidade sou licenciado em antropologia e interrompi a licenciatura, em 2001/2002, para fazer este curso. Não sou um especialista em literatura. Considero-me acima de tudo um leitor. Por vezes comparava traduções de árabe para francês e comecei a interessar-me por teoria da tradução. Constatava que, em Portugal, praticamente não existiam traduções directamente do árabe. Em 2006, apresentei alguns projetos de tradução a várias editoras que foram recusados. Felizmente, porque os meus conhecimentos não eram assim tão bons. O árabe não é uma língua muito difícil de aprender, mas tem uma grande complexidade do ponto de vista sociolinguístico, aquilo a que chamamos uma diglossia muito acentuada. Existe um árabe padrão, que é igual em todos os países árabes, e um árabe coloquial, que muda de país para país e mesmo de região para região. As diferenças entre as várias línguas árabes coloquiais são tão grandes como as que existem entre o português, o italiano e o romeno. Costumo dizer que, para aprender bem o árabe, temos que saber duas línguas: o árabe padrão e, pelo menos, um árabe coloquial. Entretanto, vivi cinco anos em Marrocos, onde aprendi o árabe coloquial marroquino que me ajudou a traduzir As Mil e uma Noites, uma obra que inclui muitas expressões árabes coloquiais do Levante, da Síria e Egipto, apesar de serem muito diferentes.”
Quando Hugo descobriu Périplo pelos Bares do Mediterrâneo numa livraria de Tunes, não sabia que Ali Duaji era considerado o pai do conto contemporâneo tunisino. Ficou fascinado com a ironia e o sarcasmo do autor que, nos anos 30, “satirizava as novas classes burguesas que surgiam aliadas ao poder político do protetorado francês, com aquela mistura de costumes muito confusa”. Mas a sua mais recente tradução, parece-lhe, sobretudo, um relato de viagens muito particular. “Uma viagem através dos bares da Europa e da Ásia, ignorando os locais tradicionais de visita como os museus”. Confessa que até se identificou com isso, dando um exemplo “vergonhoso”: viveu um mês em frente ao museu Van Gogh de Amesterdão e nunca o visitou. “E adoro o pintor. Já vi os quadros dele do Museu d Orsay!”

Paulo Faria
Licenciado em Biologia, o escritor e tradutor literário Paulo Faria chegou a dar aulas nessa área, embora não fosse aquilo de que gostava. O avô era professor de línguas no Colégio Militar e ensinou-lhe inglês e francês desde muito novo. Ficou-lhe a vocação para as letras que explorou como autodidata e, quando surgiu a oportunidade de fazer tradução literária, aproveitou.
Traduz do francês, mas essencialmente do inglês. Traduziu Emily Brontë, Jane Austen e Charles Dickens, porém, ressalva que quando as pessoas o referenciam nesta vertente, costumam dizer que “é o tradutor do Cormac McCarthy”, autor pelo qual nutre uma admiração especial e de quem traduziu doze títulos. “Traduzi três deles por duas vezes de raiz, porque o resultado das primeiras traduções me começou a irritar, quando calhou folheá-las uns anos depois: Meridiano de Sangue, O Guarda do Pomar e Filho de Deus.”
Ganhou o Grande Prémio Internacional de Tradução Literária da Sociedade Portuguesa de Autores 2015 com a tradução de História em Duas Cidades de Dickens e, talvez por isso, o seu nome surja quase sempre associados aos grandes clássicos. É também de Dickens a sua mais recente tradução: O Mistério de Edwin Drood. Trata-se do último romance do autor que ficou incompleto, pois Dickens morreu subitamente a meio do livro. Tem, por isso, “essa característica bizarra de ser um romance de vocação policial em que o mistério não é resolvido. O mistério do título torna-se assim um mistério duplo.”
Paulo cita Dire Quasi la Stessa Cosa: “obra em que Umberto Eco diz que na tradução nunca se consegue dizer a mesma coisa, mas consegue-se dizer quase a mesma coisa se o tradutor for bom. Eco define a tradução como uma interpretação que segue uma negociação. Concordo com ele. No caso da tradução de um escritor como Dickens é preciso perceber o que os leitores da sua época sentiam quando liam aquele texto que para eles era natural (embora nem todos falassem assim) e tentar depois criar uma artificialidade natural. Não conseguimos reproduzir em português a linguagem da época, nem o leitor contemporâneo quererá isso. A boa tradução deverá ir ao encontro do leitor sem distorcer o original. É justamente essa a razão pela qual as traduções envelhecem. Cada geração traduz o Dickens ou o Victor Hugo porque o nosso mundo já não é o mundo deles, mas também já não é o mundo das traduções dos anos 40. Enquanto escritor, quando redijo um romance não penso nos leitores, enquanto tradutor, penso sempre no leitor.”

Manuel Alegre
As Sílabas de Amália
Há mais de meio século, Manuel Alegre, exilado político em Argel, recebeu uma carta enviada de paris: Alain Oulman musicara Trova do Vento que Passa e pedia-lhe autorização para ser gravada por Amália Rodrigues. O autor de Praça da Canção respondeu dizendo da sua “alegria e honra em ser musicado por ele e cantado por Amália” e admirou a coragem da fadista “em cantar um poeta proibido”. Esta seria primeira colaboração entre o poeta, o músico e a intérprete que se estenderia a outros três belíssimos fados: Meu Amor É Marinheiro, Abril e As facas. Para o poeta, Amália “dava outra dimensão a cada verso e fazia da língua portuguesa uma música inconfundível”. Neste volume, Manuel Alegre reúne os poemas de sua autoria que a fadista cantou, os que sobre ela escreveu e aqueles que “exprimem uma visão do fado que em grande parte fiquei a dever a Alain Oulman e a Amália Rodrigues”. Um tocante tributo de um grande poeta ao Centenário de Amália porque, como escreve sobre a genial cantora, “tu mais que tu és todos nós.”
Dom Quixote
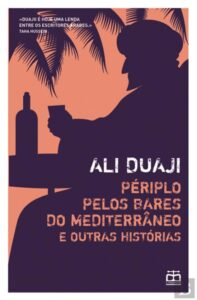
Ali Duaji
Périplo pelos Bares do Mediterrâneo e Outras Histórias
Apesar de ter escrito menos de uma trintena de contos, o novelista, dramaturgo, ensaísta cronista, critico literário jornalista e caricaturista Ali Duaji é considerado o pai da moderna novela tunisina. Falecido prematuramente em 1949, aos quarenta anos, vítima de tuberculose, Duaji foi um dos membros que integraram e dinamizaram o colectivo vanguardista e multifacetado conhecido como grupo Taht Essour, nome do café que frequentavam em Tunes, que defendia uma modernização, não só das letras e artes tunisinas, mas da própria sociedade. Périplo pelos Bares do Mediterrâneo promete um trajeto que “começa em França, passa por Itália, Grécia, Turquia e Levante, e cujo ponto – pelo menos na minha perspectiva – é a cidade de Alexandria, a última desta nossa viagem e também a mais importante”, porém termina em Esmirna sem qualquer menção posterior à Siria, ao Libano, à Palestina ou ao Egipto. Não se conhece a razão de assim ser, talvez se fique a dever ao temperamento anárquico do autor que começa “a ler qualquer poema pelo fim”. O escritor adverte que neste périplo verdadeiramente atípico “nada vimos a não ser os bares e os cafés” do esplêndido mar Mediterrâneo e que não irá referir “curiosidades dos museus”, “maravilhas da natureza”, nem “descrever as ruas, as praças, os jardins e os edifícios. “Realizei esta viagem para me divertir e, ao relatá-la, não tenho outra ambição que não seja a de divertir também o leitor”.
E-Primatur
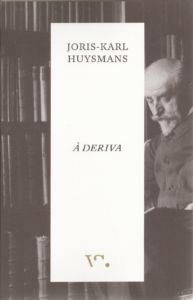
Joris-Karl Huysmans
À Deriva
De Huysmans (1848-1907) diz-se ter tido dois períodos enquanto escritor, primeiro o naturalismo, depois o decadentismo e o simbolismo. Tem em À Rebours (1884) o seu livro mais celebrado, que alguns lembraram a propósito do período de confinamento a que fomos sujeitos, e aos seus méritos, pegando na figura de Jean Des Esseintes, um dandy e um esteta que se fecha em casa para desfrutar de prazeres que excluem os seus semelhantes. Este desencanto com a vida quotidiana, com as suas gentes e lugares está já presente na novela À Deriva (1882), que pode ser lida, e o próprio Huysmans reconhecia, como um ensaio para À Rebours. Aqui o protagonista é Jean Folantin e o que pensa da vida é expresso após ter privado com a prostituta que se lhe impôs à mesa de um dos restaurantes decrépitos que frequenta: “abarcou com uma vista de olhos o horizonte desolado da vida; compreendeu a inutilidade das alterações de rota, a esterilidade dos impulsos e dos esforços (…) disse para si, a vida do homem oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio”.
VS. Editor

Mário de Carvalho
Epítome de Pecados e Tentações
Mário de Carvalho regressa ao universo do conto com um volume consagrado às relações entre homens e mulheres. O volume dividido em três partes inicia-se com duas narrativas de certo fôlego: a primeira conta uma relação de fascínio obsessivo de um homem por uma mulher (“Eu detestava-a em desespero por amá-la demais”), e a seguinte descreve uma série de encontros fortuitos no Hotel Azul, estância termal de luxo. Na segunda parte, uma sequência de contos breves protagonizados por mulheres e relatados na primeira pessoa narram aventuras de uma noite. Na terceira parte, a única narrativa em que “a felicidade dos amantes perdura” conclui esta belíssima colectânea. Amores juvenis ou tardios, tentações, pecados, fascínios, traições, adquirem um sabor especial através da prosa evocativa de Mário de Carvalho de grande riqueza e variedade lexical. O escritor olha para estes “casos” e seus protagonistas com domínio soberano da ironia, mas excluindo a crueldade e a ferocidade. Pois como refere um dos seus personagens “Em campo de ferocidade, mais feitio tenho para vitima que para verdugo”.
Porto Editora

Joël Dicker
O Enigma do Quarto 622
É com um cadáver estendido na alcatifa do quarto 662 de um hotel de prestígio dos Alpes suiços que se inicia o novo mistério de Joël Dicker. O escritor estreou-se com Os últimos dias dos nossos pais. Mas foi a publicação do segundo romance que fez dele um fenómeno literário global: A verdade sobre o caso Harry Quebert foi publicado em trinta e três países, vendeu mais de quatro milhões de exemplares e venceu o prémio de melhor romance da Academia Francesa de Letras, o Prix Goncourt des Lycéens e o prémio da revista Lire para melhor romance em língua francesa. O seu quinto romence, o primeiro ambientado na sua Suíça natal, é dominado por uma questão chave: que crime terrível teve lugar no quarto 622? A morte misteriosa ocorre em plena festa anual de um prestigiado banco suíço, nas vésperas da nomeação do seu presidente. A investigação policial nada conclui e a passagem do tempo leva a que o caso seja praticamente esquecido. Quinze anos mais tarde, o escritor Joël Dicker hospeda-se nesse mesmo hotel, para recuperar de um desgosto amoroso e para fazer o luto do seu estimado editor, sem imaginar que acabará a investigar esse crime do passado. Não o fará sozinho: Scarlett, uma bela mulher hospedada no quarto ao lado do seu, acompanhá-lo-á na resolução do mistério, ao mesmo tempo que vai decifrando a receita para escrever um bom livro.
Alfaguara
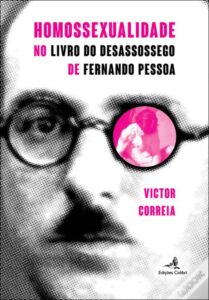
Victor Correia
Homossexualidade no Livro do Desassossego de Fernando Pessoa
Na obra Homossexualidade e Homoerotismo em Fernando Pessoa, Victor Correia, doutorado em Filosofia Política e Jurídica na Universidade da Sorbonne, em Paris, e pós-doutorado em Ética e Filosofia Política FCSH da Universidade Nova de Lisboa, reuniu os muitos textos de poesia e de prosa em que o escritor exprime sentimentos homoeróticos, ou em que aborda o tema da homossexualidade, de forma mais ou menos explícita. Neste seu mais recente estudo, estabelece relação entre o Livro do Desassossego e a generalidade da obra literária de Fernando Pessoa mostrando pontos de confluência e complementaridade recíprocos. Segundo o autor: “Entre os vários temas do Livro do Desassossego, encontra-se também o da homossexualidade, que era uma das razões do desassossego de Fernando Pessoa. Alguns dos textos aqui selecionados são uma referência direta à homossexualidade, outros são uma referência indireta, e outros são o resultado de uma interpretação nossa. Junto da seleção e da organização dos textos por subtemas, encontram-se aqui explicações de modo a tornar mais acessível cada um desses textos, que são por vezes de difícil compreensão, devido ao seu carater enigmático, aos seus subentendidos, às suas máscaras”.
Edições Colibri
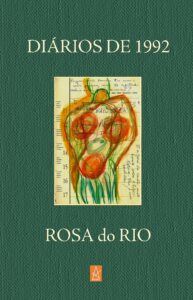
Rosa do Rio
Diários do 1992
A partir das notas rabiscadas na sua agenda Redstone de 1992, Rosa do Rio, pseudónimo literário de Rosário Soares Carneiro, que divide a sua actividade entre as artes plásticas e a escrita, guia-nos numa viagem pela Europa e pelos altos e baixos de um ano que acabaria por revelar-se marcante. No prefácio à presente publicação, Pedro Elston destaca: (…) esta vontade de mostrar e esconder ao mesmo tempo faz com que estes diários se tenham de ler como um jogo em que o leitor recebe apenas breves alusões que pode transformar em pistas de um caminho a reconstruir: algumas datas, acenos breves a encontros e desencontros com os que estão mais perto ou mais longe, uma geografia particular de idas e vindas pela Europa com a África em pano de fundo. Mas mais importante do que tudo isto, indícios de grandes abalos de alma, de um longo momento de passagem em que se pedem contas ao passado, se medem forças com desejos e desconsolos, se faz frente às temíveis possibilidades do amor e da morte”. Por sua vez, José Sousa Machado salienta na morfologia deste diário: “uma depuração e limpeza de linguagem de tal modo minuciosas que os acontecimentos sobre os quais pressentimos ter sido construído o texto esfumam-se muitas vezes num limbo poético, conformando categorias simbólicas universais, aplicáveis à generalidade da condição humana, tal como sucede com os relatos mitológicos.”
Adelaide Books Portugal

Ondjaki
A Estória do Sol e do Rinoceronte
“É sabido que o rinoceronte é um animal de grande sabedoria. Dizem que isso vem de uma lição que o sol lhe deu…” Estas duas frases dão início à nova história infantil de Ondjaki, Prémio Literário José Saramago 2013. Tal como nos belíssimos Ynari; A Menina das Cinco Tranças e Uma Escuridão Bonita, o local escolhido para a ação é, uma vez mais, a sua África natal. Esta narrativa tem com herói principal um dos mais impressionantes exemplares da sua fauna, o rinoceronte, que o escritor reveste de uma tocante humanidade. Numa floresta antiga, um rinoceronte de grande porte e com um só chifre perguntava-se que tristeza tão grande era aquela que sentia no coração. Não se contentava só com a força que tinha e foi então que pediu ajuda ao sol. Esta é uma fábula de encantar escrita em verso por Ondjaki, uma das vozes mais originais e talentosas da sua geração, e ilustrada por Catalina Vasquez, artista visual sul americana que cunha o seu trabalho com versatilidade e ousadia. Uma história inspiradora, comovente e bela sobre um rinoceronte, o sol e a importância da empatia, da gentileza, da ternura e da sensibilidade.
Alfaguara
A Casa Fernando Pessoa reabriu com uma nova exposição? O que mudou?
Estas obras de remodelação da Casa Fernando Pessoa transformaram significativamente os espaços. Eles são agora mais acessíveis, ganhámos em área e todo o edifício foi renovado em matéria de equipamentos tornando-se mais sustentável. Temos agora três pisos inteiramente dedicados à exposição que é um percurso pela obra e biografia de Pessoa. Escolhemos os três temas que nos pareceram mais interessantes: um núcleo dedicado aos heterónimos, outro à sua biblioteca particular e o terceiro à biografia, na relação com o facto de Fernando Pessoa ter vivido ali, no primeiro andar direito daquele edifício, durante 15 anos. Para além da exposição, a biblioteca que é um também um espaço central na actividade da casa, dedicada a Pessoa e à poesia mundial, foi renovada e o auditório mudou de lugar, está agora no rés-do-chão que o torna mais acessível.
De quem é a autoria do projecto museológico?
A partir de uma proposta de Paulo Pires do Vale, o Ateliê de Design GBNP avançou com o projecto que depois veio a ser detalhado e desenvolvido por dois designers com quem trabalhamos, Nuno Quá e Cláudio Silva. O projecto de arquitetura é de José Adrião Arquitectos.
Um dos objectivos foi o de colocar as peças da coleção a falar mais directamente com os visitantes. De que forma?
De várias formas. Passa pela construção do mobiliário ter sido pensada desse modo desde o início. Os próprios suportes estimulam a interacção do público. Por exemplo: em vez de termos uma vitrina uniforme, temos uma com realces, temos surpresas, móveis com gavetas, objectos escondidos. Tudo isso fomenta uma outra dinâmica por parte dos visitantes. A parte física do projecto teve em mente a ideia de como é que os visitantes podiam relacionar-se com a exposição de forma mais activa e participativa. Por isso há poemas para ouvir e segredos de gavetas e prateleiras para descobrir. Todos os textos e legendas foram também escritos desse ponto de vista, de como seria possível contar melhor esta história. Depois existem espaços que são mais de brincadeira, como uma curiosa sala de espelhos para todos nós vermos a nossa identidade refractada.
Quais os objectos da coleção que despertam mais interesse nos visitantes?
A colecção mais valiosa da casa é a biblioteca de Fernando Pessoa e agora vamos poder ver na sua quase totalidade os livros que a integravam. Com os devidos cuidados de conservação e preservação podemos correr as lombadas desses livros e ver que Pessoa leu autores e temas muitíssimo variados. É interessante compreender como esse lado de leitor veio a transparecer na escrita. Os livros chamam a atenção dos visitantes sobretudo porque a maior parte deles está muito anotada. Depois há outros objectos, mais relacionados com a biografia do Pessoa, que geralmente interessam muito os visitantes como o bilhete de identidade, os óculos, a máquina de escrever. O mobiliário original que faz parte da nossa colecção também é muito profícuo a produzir histórias. Temos a cómoda alta que é referida na carta a Adolfo Casais Monteiro de janeiro de 1935, sobre a génese dos heterónimos. E temos a estante directamente relacionada com os livros que lá estiveram um dia.
Que livros lia o poeta?
Grande parte da biblioteca é em língua inglesa: Milton, Shakespeare, Whitman, Poe. Muitos desses livros em inglês vêm do tempo da sua vida na África do Sul. Pessoa passou a juventude em Durban e foi lá que fez a escola e começou a construir a sua biblioteca. Encontramos também livros com dedicatórias de amigos escritores. Temos o Princípio de Mário de Sá-Carneiro com uma dedicatória muito afectuosa que é uma peça muito importante da biblioteca. É interessante observar que Pessoa tinha livros de todas as classes do saber. Não só de literatura, mas de ciência, de matemática, de ciências ocultas, de engenharia. Possuía um grande leque de áreas de interesse.
Referiu que Fernando Pessoa era um leitor que sublinhava e anotava os livros nas margens das páginas. De que forma é que esses testemunhos ajudam a conhecê-lo melhor?
As notas que deixou à margem, chamadas marginália, sublinhados, os comentários mais ou menos longos, inclusivamente um poema que foi encontrado na contracapa de um livro, em 2010, na altura da digitalização da biblioteca, são muitas vezes pensamentos que surgem em reação aos textos. São gestos, inscrições pessoais que mais tarde alguém pode encontrar ao ler ou folhear esse livro. Ali encontramos reflexões sobre a leitura, mas também impressões que essa leitura causa. Além disso, como já referi, existem mesmo trechos de criação literária do próprio Pessoa anotados em livros, porque do ponto de vista pragmático estava mais à mão ou porque o próprio livro levou à escrita desse texto.
Esta casa foi habitada por Pessoa durante os últimos 15 anos de vida. De que elementos dispomos para conhecer o seu quotidiano nesta casa e neste bairro?
O que fizemos neste exposição de longa duração foi tentar reconstituir o apartamento em que Pessoa viveu, parte desse tempo com a família, de acordo com testemunhos que recolhemos e de plantas do edifício. Juntando esses elementos conseguimos desenhar a organização do espaço naquele apartamento: os vários quartos, a sala, etc. Depois usámos o espaço para contar uma história separando várias fases da sua vida. Da infância temos alguns objectos que pertenceram aos seus pais; depois contamos um pouca da história em Durban, a relação com a escola, os meios-irmãos, as longas viagens entre os dois continentes; a seguir a sua vinda para Lisboa, os seus companheiros, a relação com Ofélia Queiróz, o circuito literário e a tipografia que criou. Por fim, ali no bairro temos algumas histórias para contar sobre as lojas da Rua Coelho da Rocha, nomeadamente a barbearia do senhor Manassés, e também um vídeo em que a sobrinha Manuela Nogueira (que, tal como o irmão, nasceu naquela casa) conta as memoria dos 10 anos em que conviveu com o tio nesse apartamento.
Quando é que Fernando Pessoa veio viver para Campo de Ourique?
Quando o padrasto de pessoa morreu na África do Sul, a mãe, agora viúva, quis voltar para Lisboa. Pessoa pretendia um apartamento maior onde coubessem a mãe e os três meios-irmãos, dois rapazes e uma rapariga. Os rapazes ficaram pouco tempo em Lisboa e foram para Inglaterra onde fizeram as suas vidas. A meia-irmã veio a casar e é a mãe dos sobrinhos que já referi.
Em linhas gerais, quais vão ser as traves mestras da programação?
Pensámos em dedicar o mês de setembro às visitas ao novo espaço, à exposição, à biblioteca. Procuramos para já evitar a programação presencial, tendo em conta o período que ainda atravessamos. Mas o propósito desta renovação continua a ser trabalhar sobre Pessoa, o seu legado, contar as suas histórias, estimular o gosto pela leitura dos seus textos, compreender a amplidão e complexidade dos seu universo e, paralelamente, continuar a trabalhar como casa da literatura, nomeadamente com a poesia contemporânea, e passar a palavra sobre a força que os efeitos da literatura podem ter.
Campo de Ourique é um bairro muito particular em Lisboa. O escritor Mário de Carvalho chamou-lhe “a cidade independente de Campo de Ourique”. Porém, atualmente, não há um cinema, um teatro, um museu. Ao longo dos anos, a Casa Fernando Pessoa tem sabido cumprir a sua função de pólo cultural do bairro?
É um espaço importante no bairro em conjunto com outros. Temos um trabalho bastante próximo com a junta de freguesia de Campo de Ourique. A biblioteca do antigo Cinema Europa é muito frequentada e dinâmica em termos culturais. A Casa Fernando Pessoa também o é, e esperamos que com esta requalificação do espaço os vizinhos nos queiram conhecer ainda melhor. Estas obras tiveram um apoio significativo do Turismo de Lisboa, através da Linha de Turismo Acessível, e isso é relevante porque o projecto tem na base a atenção ás acessibilidades e a abertura de portas a todos os que nos queiram visitar.
Fernando Pessoa é o poeta ideal para o presente período de pandemia e distanciamento social? Alguém que criou um mundo interior povoado por personagens que, afinal de contas, são ele próprio.
É certo que a literatura, como outras formas de cultura, estão a ser muito importantes nestes momentos em que passamos mais tempo em casa, afastados do convívio social direto O que Pessoa deixou escrito é de tão diferentes naturezas que muito facilmente vai ao encontro dos interesse de distintos leitores, seja pela irreverência, pela complexidade em termos de busca da identidade, pelo jogos de contradições, pelos textos do Livro do Desassossego que são de deambulação e devaneio. Uma série de campos que podem preencher as nossas tardes e noites mais recolhidos em casa na leitura.
O DESCOLA é o resultado do trabalho conjunto e da aposta continuada da Câmara Municipal de Lisboa na dimensão educativa do património cultural e artístico da cidade e da vontade de o fazer chegar a todos, e ao longo da vida, como fonte de inspiração e sentido de pertença.
O DESCOLA é dirigido especificamente ao público escolar e em tempo de pandemia apoia-se, mais do que nunca, na colaboração estreita entre mediadores, artistas e professores para fazer face aos desafios acrescidos que a todos se colocam.
As atividades propostas no DESCOLA têm o Perfil do Aluno do séc. XXI e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como referência, e o património cultural e artístico de Lisboa como campo de pesquisa, de questionamento e criatividade.
No DESCOLA estão cerca de quarenta agentes culturais municipais, entre museus, teatros, arquivos e bibliotecas, que acreditam na força educativa das artes e da cultura e querem participar, com professores e alunos, na construção de escolas que se afirmem como comunidades de aprendizagem abertas e interventivas.
Subscrever aqui a newsletter.
Programa completo por nível de ensino:
Pré-escolar
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Secundário
Nasceste em Cuba, viveste em Cabo Verde, Angola, Senegal, Alemanha, França… O que é casa para ti?
Casa é Cabo Verde. Lisboa é, sem dúvida, uma fantástica segunda casa.
Todos estes sítios onde viveste refletem-se no teu adn artístico?
As viagens acabaram por moldar totalmente a minha forma de estar no mundo e de ver a vida. A minha música é um reflexo de como vivo e de como vejo o ‘outro’. Nunca me interessou fazer a análise ao ponto de saber que influências vêm de onde, acho isso completamente desinteressante. O que é importante é perceber de que forma a vida nos torna mais ou menos abertos à absorção de outras coisas, e de que forma é que o nosso metabolismo artístico depois traduz isso.
Ao contrário da maior parte das pessoas, falas muito na necessidade de ter uma rotina…
Dou importância à rotina porque não a tenho. Comecei a fazer concertos há 20 anos. Fiz cinco anos de concertos antes de gravar o primeiro disco. A rotina é algo que nunca fez parte da minha vida, independentemente da música. Com seis anos saí de Cabo Verde e fui viver para o Senegal dois anos. Depois fui para Angola, voltei um ano para Cabo Verde, vivi três anos na Alemanha, voltei para Cabo Verde quatro anos, e depois fixei-me em Paris, onde estive 14 anos. Só com o Manga fiz, desde outubro de 2018, mais de 150 concertos. Rotina é tudo o que não tenho.
Custava-te, enquanto criança, estar sempre a mudar de sítio, de escola?
Sim, mas frequentei escolas onde havia muitos filhos de diplomatas, portanto eu sabia que não era a única pessoa no mundo a passar por isso. Como criança, vive-se uma separação cada vez que se muda de país, isto foi antes da era da internet… Há muitas pessoas que nunca mais vi… Tinha uma morada postal que, passado pouco tempo já não era a mesma e acabava por perder o contacto. Perdia-se ali uma ligação, mas arranjei forma de guardar em mim essas memórias e o que de bom encontrei em cada lugar.
Entre Lovely Difficult (2013) e Manga (2019) passaram 6 anos. Esse afastamento dos discos foi propositado?
Na verdade estive com o Lovely Difficult na estrada até 2015. No final desse ano mudei-me para Portugal, tirei um ano para mim, até final de 2016. Depois estive dois anos a trabalhar no Manga. Na realidade só tirei um ano para mim, de resto estive sempre na estrada ou a compor.

Em 2016, lançaste Reserva para Dois com Branko [Buraka Som Sistema]. O que achaste do convite?
Aceitei essa colaboração porque percebi que o Branko fazia algo muito diferente do que eu faço. No início, tinha mais tendência a colaborar com pessoas do meu universo musical. Com o passar do tempo, cresceu em mim uma espécie de inquietação artística que faz com que procure ou me deixe levar por convites de pessoas que fazem coisas que eu não saberia fazer. Gosto do desafio de sair da minha zona de conforto e ver o que nasce daí.
Esse projeto influenciou, de alguma forma, a sonoridade de Manga?
Quando combinamos vir a Lisboa trabalhar a música, ele teve a brilhante ideia de desafiar o Kalaf. Eu e o Kalaf escrevemos a letra a quatro mãos, o Branko fez o beat e eu criei a melodia em cima do beat. Foi assim que a música se fez, em dois dias. A sonoridade do Reserva para Dois não é propriamente a do Manga… Dentro da música eletrónica são famílias muito diferentes, mas semeou em mim a vontade de fazer algo mais atual. Não só o Reserva para Dois, mas também o Nha Baby, que fiz com o Nelson Freitas. Estas duas colaborações abriram uma porta e surgiram num momento em que não estava a lançar coisas minhas. Acabei por conquistar um público mais jovem, e quando o Manga saiu, parecia que já ninguém estava muito surpreendido.
Manga é uma mistura de afrobeat, música urbana e ritmos tradicionais cabo-verdianos, cantado em português e crioulo. Com tantas sonoridades é difícil manter o foco?
O que acho difícil é criar um som que seja coerente. Esse foi sempre o meu maior medo, fazer um patchwork mal feito. É por isso que demoro o tempo que demoro a fazer os discos. Criar uma alquimia entre ingredientes que nunca se encontraram é um processo demorado. Foi um caminho longuíssimo, em que tive de encontrar as pessoas certas. Isso levou quase um ano, em que experimentei coisas com pessoas diferentes.
O disco conta com colaborações de artistas como Luísa Sobral, Sara Tavares ou Cachupa Psicadélica. Como surgiram estas parcerias?
Já conheço a Sara há muitos anos, a Luísa Sobral e o Lula (Cachupa Psicadélica) conheci aqui. A cena musical de Lisboa acabou por influenciar muito também, correspondeu ao momento da minha mudança para cá. É uma cidade que acabou por me dar uma energia muito dinâmica, com todo este sol e esta forma de viver. Há cinco anos fiz uma viagem ao Gana e vim de lá com uma semente em mim que, juntamente com este ambiente de Lisboa, acabou por ajudar a trilhar os caminhos para o Manga. Fiquei feliz por trazer estes compositores para o meu universo, que me ajudaram a ter um disco que acabou por ser o retrato da minha Lisboa.
É uma cidade inspiradora?
Para o que eu faço, a Lisboa de hoje é inspiradora. Não sei como teria sido se me tivesse mudado para cá há dez anos. É importante que estes créditos de Lisboa sejam associados à cena musical atual, que é corajosa, que se reinventa… Lisboa tem um património histórico, mas o que a torna tão atraente são as pessoas e a sua multiculturalidade.
Porquê este título, Manga?
Porque é uma fruta que tem as cores do disco, que emana uma energia solar, tropical, quente… É uma fruta que vai amadurecendo, tal como este é um disco de maturidade, de uma certa emancipação de uma tradição à qual eu já prestei as minhas homenagens nos discos anteriores. Corresponde a este momento da minha vida, com trinta e poucos anos, idade em que a mulher se assume mais inteiramente. Este fruto é uma metáfora para a feminilidade.
Dia 12 de setembro atuas no Coliseu. O que vai apresentar?
O concerto é a continuação da tournée Manga com algumas alterações. Vamos rever alguns arranjos e introduzir alguns momentos diferentes. O conceito da tournée já evoluiu imenso, há novos elementos na banda, houve trocas de músicos, acho que já nem canto as músicas da mesma forma… O Coliseu é importante porque o público português é importante para mim. É expressivo, carinhoso, acompanha-me desde antes de eu gravar discos. É uma forma de retribuir esse carinho e marcar estes 20 anos.
É a grande surpresa deste mês de agosto: Lisboa vai mesmo ter FIMFA. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas acontece, habitualmente, em maio, porém, devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia, o evento foi cancelado. Mas Luís Vieira e Rute Ribeiro, diretores artísticos da companhia teatral A Tarumba e do FIMFA Lx, assumiram que não se poderiam dar por vencidos e, tecendo a sua rede de cumplicidade com vários artistas do teatro de marionetas e de objetos, bem como com alguns espaços da capital, montaram uma “programação relâmpago” com oito espetáculos de excelência de grandes nomes internacionais, como Agnès Limbos e Oligor y Microscopía, e portugueses, como André Murraças, Companhia Pia, Teatro de Ferro, Formiga Atómica e, claro, A Tarumba.
“Mesmo sabendo que estamos a navegar à vista, e a viver um futuro suspenso, queremos que este seja o agosto do nosso desconfinamento”, explica Luís Vieira, sublinhando que o Descon’FIMFA pretende dar um sinal de confiança ao público e mostrar que “é possível voltar aos teatros em segurança cumprindo todas as regras sanitárias exigidas”. Para “restaurar a convivência, condição essencial ao teatro, entre artistas e público”, o festival apresenta espetáculos “com plateias bastante reduzidas e várias adaptações em cena que, embora não comprometam o conceito criativo, asseguram a necessidade de se ir restabelecendo a confiança dos espectadores nos teatros e nos palcos.”
O teatro de objetos para pensar o nosso tempo
No programa do festival, cita-se Shaday Larios, dos Oligor y Microscopía: “os nossos objetos podem falar por nós, quando já cá não estivermos. Ou quando nos recusamos a falar, ou por muitas outras ausências. Então porque não poderíamos nós falar por eles?” Esta ideia serve como uma espécie de chapéu ao alinhamento do Descon’FIMFA que, como sublinha Luís Vieira, “encontra na manipulação de objetos a unidade formal”, o que torna esta edição do festival algo absolutamente “inédito” no próprio conceito do FIMFA. Através destes espetáculos, são “os objetos que ganham protagonismo e nos ligam à emoção e à humanidade que os rodeia.”
Os dois primeiros momentos do festival são bem representativos da capacidade formal e conceptual do teatro de objetos em criar imaginários ou descrever memórias. São ambos criados por Jomi Oligor (Hermanos Oligor, Espanha) e Shaday Larios (Microscopía Teatro, México), dois artistas que trabalham juntos desde que perceberam estar a trilhar caminhos paralelos.
O primeiro, espetáculo de abertura deste Descon’FIMFA, é uma estreia absoluta em Portugal e intitula-se La Melancolia del Turista, abordagem corrosiva ao turismo de massas que já não existe e “às construções mentais do paraíso que o turista procura, mas nunca consegue encontrar”. O segundo, La Maquina de la Soledad, é uma incrível história contada a partir de cartas de amor escritas no início do século XX, encontradas dentro de uma mala, no México, que regressa agora ao FIMFA, cinco anos depois de ter passado pelo festival e recebido a aclamação entusiasta do público.
O festival fecha no início de setembro com o regresso a Lisboa daquela que é considerada “a papisa do teatro de objetos”, Agnès Limbos, e da companhia belga Gare Centrale. Ressacs é um exercício de crítica bem humorado à sociedade de consumo e aos excesso do capitalismo, que acompanha a odisseia de um casal falido “à beira de uma ataque de nervos” depois de, afetados pela crise do sub prime, partirem à deriva em alto mar num pequeno barco. Como sublinha Luís Vieira, é mais um espetáculo “repleto de ironia e engenho de uma grande mestre do teatro europeu.”
A presença portuguesa
Parceiro de longos anos do FIMFA, André Murraças é um dos mais interessantes criadores do teatro português da atualidade e não são raras as suas criações com recurso à técnica da manipulação de objetos. Neste Descon’FIMFA, uma estreia absoluta: O Triângulo Cor-de-Rosa. A peça assinala os 75 anos da libertação de Auschwitz, invocando a tenebrosa vivência nos campos de concentração nazis dos judeus homossexuais.
Também cúmplice de longa data do festival lisboeta, de Gaia chega a mais recente criação de Igor Gandra e do seu Teatro de Ferro. Uma Coisa Longínqua é a primeira fase de um filme-performance, feito em colaboração com o compositor Carlos Guedes, onde se “procura compreender uma série de acontecimentos peculiares realizados por um grupo de objetos emancipados.”

A programação do festival inclui ainda os regressos a palco do magnífico A caminhada dos elefantes, de Miguel Fragata e Inês Barahona (Formiga Atómica), e dos desconcertantes “louros” de Luís Vieira e Rute Ribeiro (A Tarumba) com Este não é o nariz de Gógol, mas podia ser… com um toque de Jacques Prévert.
Por fim, um especial destaque para o teatro de rua da companhia PIA, um projeto sediado no Pinhal Novo, na margem sul do Tejo, que se estreia (por fim!) em Lisboa, depois de, ao longo dos seus 18 anos, já ter viajado com os seus gigantes a inúmeros países europeus, asiáticos e sul-americanos. Em EntreMundos, marionetas de grandes dimensões levam-nos a percorrer, com sensibilidade e imaginação, uma zona situada algures entre a vida e a morte. Um espetáculo imperdível para toda a família que pode ser visto no Castelo de São Jorge.
O Descon’FIMFA Lx decorre entre 5 de agosto e 5 de setembro, com a maioria dos espetáculos a serem exibidos no Teatro do Bairro, podendo o público usufruir da aquisição de vouchers para várias sessões a preço reduzido. Tudo para descon’FIMFAr em segurança e, claro, com teatro de excelência.
paginations here