Há um profundo trabalho de depuração no longo texto de William Shakespeare nesta nova versão de Ricardo III, dirigida por Marco Medeiros, que parte da tradução e do trabalho de dramaturgia de Maria João da Rocha Afonso, falecida em maio deste ano. Esse depurar intensifica o caráter quase insano da peça, que acompanha a estratégia letal de Ricardo para tomar o poder e, posteriormente, os efeitos dessa ascensão violenta e sanguinária no seu curto reinado.
Tal como no original de Shakespeare, tudo se ergue em torno da figura desse temível personagem que, nas palavras do encenador, “só pensa no poder em si, no seu uso e abuso”. Mas Ricardo surge aqui, na composição que Diogo Infante faz dele, como “um ser andrógino, um excluído que, guiado pela ambição desmedida, procura a sua identidade e o seu ser na aplicação da violência.” Será como levar à letra aquele desabafo da personagem quando diz “Ricardo ama Ricardo”, nada mais interessando.

Num cenário austero e frio, Ricardo move-se como um ser enjeitado, uma espécie de personagem de comic, que arquiteta a sua ascensão ao poder recorrendo a todos os meios, manipulando, ferindo, violando e matando quem lhe surge no caminho. Não existem contemplações nem pejos de misericórdia que o demovam de erguer a coroa, que “nem sequer lhe cabe na cabeça”, como é sublinhado na cena da sua coroação.
Através de citações de cultura pop muito acentuadas, Medeiros reforça a intemporalidade do texto de Shakespeare, como se colocasse a história de Ricardo III no aqui e no agora, neste mundo de pandemia que parece terra fértil para que brotem tiranos. Não é somente a composição que Infante faz do vilão, é o soar do tema de Billie Eilish Bad Guy, as armas de fogo que disparam ou o recurso a técnicas mais do cinema do que do teatro (como os flashes a descortinar as vontades ainda mais sombrias de Ricardo) que proporcionam um inquietante desconforto de tempo presente.
Ricardo III estreia a 26 de novembro, na Sala Carmen Dolores do Teatro da Trindade INATEL, e conta ainda no elenco com Gabriela Barros, Virgílio Castelo, João Vicente, Sílvia Filipe, Guilherme Filipe, Romeu Vala, Diogo Martins, João Jesus, Brandão de Mello, Constança Carvalho, Inês Loureiro e Joana Antunes. O espetáculo está em cena até final de janeiro do próximo ano.
O que é o Fair Saturday?
Fair Saturday é um festival para todo o tipo de artistas, espaços e organizações culturais. É uma iniciativa cultural positiva, inclusiva, sem fins lucrativos que acontece no último sábado de novembro. Artistas e organizações culturais de todo o mundo reúnem-se num festival participativo, cujos objetivos principais são estabelecer pontes entre comunidades e regiões através da arte e da cultura, assim como apoiar os setores culturais e sociais locais, contribuindo para posicioná-los no lugar predominante que merecem. O festival acontece em Lisboa desde 2019, graças à parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, sendo que a cidade é a primeira capital europeia a integrar a rede internacional de cidades Fair Saturday.
Como participar?
Todos os artistas, profissionais e amadores, podem participar tanto presencialmente como online. Cada artista que organiza um evento poderá escolher livremente o formato em que o irá apresentar. Para participar é necessário registar-se (app.fairsaturday.org), organizar um evento online/offline no dia do Fair Saturday em Lisboa ou adicionar ao programa do festival um evento já planeado para esse dia e, finalmente, consultar o site e contato através do e-mail lisboa@fairsaturday.org.
Quais as expetativas para esta edição em Lisboa?
Trabalhamos intensamente para nos adaptarmos aos tempos complexos em que vivemos da forma mais ágil possível. A nossa missão continua a ser trabalhar com paixão e empenho, com o objectivo de promover o sucesso dos/as artistas. Apesar das dificuldades que atravessamos devido à Covid, o programa da edição 2020 está a ganhar corpo graças aos mais de 100 artistas lisboetas que confirmaram o seu interesse em participar e aos espaços culturais da cidade que nos abrem as suas portas para receber os concertos, espectáculos, workshops, e exposições para todos os públicos. No dia 28 de novembro de 2020, iremos celebrar mais de 45 eventos culturais em mais de 25 espaços culturais, localizados em 15 freguesias espalhadas pela cidade de Lisboa. É emocionante sentir que tanto os/as artistas de Lisboa, as organizações culturais, os colectivos artísticos e os espaços culturais da cidade com os quais temos contacto, apesar das duras circunstâncias actuais, demonstram uma vontade clara de colaborar e caminhar junto/as para continuar a avançar e assim fortalecer o nosso setor por meio do trabalho em rede e da consciência coletiva de continuar a lutar pela arte e pela cultura como pilares essenciais da nossa sociedade. Esperamos-vos!
Devido aos constrangimentos decorrentes da crise sanitária, a programação foi agendada para as plataformas digitais. Mais informações em https://festival.fairsaturday.org/pt-pt
Santarém, 19 de novembro de 1920. Nasce António Martinho do Rosário. Depois do percurso escolar na cidade natal, parte para Lisboa para cursar Medicina, estudos que concluiria em Coimbra, cidade onde se especializa em Psiquiatria, em 1954. Nesse ano lança o seu primeiro livro de poesia, Morte na Raiz, com o pseudónimo que haveria de o imortalizar nas letras portuguesas: Bernardo Santareno. Porém, será em 1957, com A Promessa, peça teatral em três atos (levada a cena pelo Teatro Experimental do Porto nesse mesmo ano, e que depressa a censura tratou de proibir), que o nome de Bernardo Santareno começa a figurar entre os mais ilustres dramaturgos do teatro português.
Caracterizada por aquilo que o historiador José Correia de Souto considerou “uma bela imaginação dialogal e cénica”, a dramaturgia de Santareno, profundamente inspirada pela corrente neorrealista e alicerçada numa constante tensão trágica tributária do teatro de Federico Garcia Lorca, revela-se na reivindicação feroz do direito à diferença e do respeito pela liberdade e a dignidade humana face a toda e qualquer forma de opressão ou discriminação, seja ela de índole política, racial, económica ou sexual.
Entre as suas grandes obras figuram O Crime da Aldeia Velha (1959), António Marinheiro ou o Édipo de Alfama (1960), O Pecado de João Agonia (1961), O Judeu (1966) ou Português, Escritor, Quarenta e Cinco Anos de Idade (1974).
Profundamente ativo politicamente, tanto antes como depois do 25 de Abril, Santareno chegou a integrar a Assembleia Municipal de Lisboa. Morreu em Lisboa, em agosto de 1980, deixando por publicar O Punho, peça rara que, a propósito do centenário do nascimento, é levada a cena pela Escola de Mulheres.

Celebrar Santareno na despedida de Fernanda Lapa
Espaço cénico e figurinos, equipa artística e técnica foram definidos por Fernanda Lapa (1943-2020) antes de morrer. O objetivo era levar a cena pela companhia que fundou há 25 anos, a Escola de Mulheres, a último texto da autoria de Bernardo Santareno, O Punho.
Marta Lapa e Ruy Malheiro, atuais diretores artísticos da companhia, honraram a vontade e todo o trabalho já executado pela encenadora. Assim, no dia em que Santareno faria 100 anos, no Clube Estefânia estreia-se esta peça de resistência, política e feroz, que se manteve inédita até 1987, e que raramente pisou os palcos.
Em O Punho, volta-se ao Alentejo dos anos quentes da Reforma Agrária, e acompanha-se o arrebatador conflito entre D. Mafalda, a “senhora rica, dona de quase tudo”, e Maria do Sacramento, a resignada e fiel criada, que o rumo da história promoverá a protagonista. O espetáculo, em cena até 20 de dezembro, tem interpretações de Maria d’Aires, Margarida Cardeal, André Levy, Marta Lapa, Vítor Alves da Silva, André Leitão, Hugo Nicholson e Ruy Malheiro, e música de Janita Salomé.
Em paralelo, o Clube Estefânia acolhe uma exposição bibliográfica dedicada ao autor (a partir de 19 de novembro); dois colóquios, um com amigos de Santareno, como Sinde Filipe, Françoise Ariel e Luís Lucas (28 de novembro, 16h), outro com Nuno Carinhas e Isabel Medina, a propósito da produção do espetáculo da Escola de Mulheres BernardoBernarda (5 de dezembro, 16h); e ainda a exibição do documentário de Luís Filipe Costa para a RTP Bernardo Santareno Português Escritor Médico (21 de novembro, 16h).
Aviso: devido aos constrangimentos decorrentes da crise sanitária, a programação referida está sujeita a alterações.
Elsa Tabori teria 55 anos naquele dia de verão de 44, “um ano extraordinário de colheitas para a Morte”, como o caracteriza o seu Filho logo no início da peça. É ele o narrador deste conto dramático que acompanha 14 horas da vida de uma mulher. Em causa, um episódio real tão inacreditável que parece ficção.
A Coragem da Minha Mãe é “a resposta subversiva” do dramaturgo e encenador George Tabori à Mãe Coragem, do seu mentor e inspirador Bertolt Brecht. E, como repara Jorge Silva Melo que agora leva o texto a cena, não seria descabido chamar-lhe “a lata da minha mãe”, dada a quase inverosímil forma como a senhora Tabori escapou a Auschwitz, tendo lá estado por umas horas, e conseguido acabar a noite na sua Budapeste natal, a jogar rommé em casa da irmã.
Na génese da peça está um manuscrito de Elsa Tabori, escrito a seguir à guerra, após o filho George a ter desafiado a registar a história da sua vida. Ao que consta, o documento dedicava umas quantas páginas à surpreendente fuga da mulher à morte certa, no tenebroso verão de 1944. Após a morte de Elsa, em 1963, George Tabori escreveu um conto baseado nesse episódio de coragem, de desespero e de particular fortuna. Anos mais tarde, A Coragem da Minha Mãe deu origem a uma peça radiofónica, até chegar ao palco em 1979, protagonizada na estreia por Hanna Schygulla.

A peça tem, como verifica Silva Melo, “qualquer coisa a lembrar os gags dos filmes mudos”, usando a narrativa para “denunciar o mal mas, ao mesmo tempo, convocar o riso”. Tabori parte da autoridade de vítima para o fazer, ele que haveria de dedicar ao tabu em torno do Holocausto outras “paródias”, como a comédia negra Mein Kampf, que rouba o título diretamente a Hitler, e é, talvez, a sua mais famosa e polémica peça.
Silva Melo justifica a subversividade do autor na abordagem de um tema tão delicado, e ainda hoje fraturante (sobretudo na sociedade alemã), com o olhar para “o malévolo como qualquer coisa de tão absurdo e grotesco que deixou de ser verossímil para a vítima.”

Com elementos narrativos muito acentuados, A Coragem da Minha Mãe funciona como jogo da memória – a do Filho, que conta a história, intercalada pela da Mãe, que aponta, contradiz ou corrige factos e pormenores –, onde o faz de conta do teatro se esgrime com a autenticidade da história contada.
Essa tensão sublinha-se na encenação que, para além do Filho (Pedro Carraca) e da Mãe (António Terrinha), apenas coloca em cena uma outra personagem: o oficial nazi (Hélder Braz) que, entre o risível e o absurdo, se torna determinante para a boa fortuna de Elsa. Todas as outras personagens surgem em off. São “vozes da memória” (as de Carla Bolito, Américo Silva, António Simão, João Meireles, Nuno Gonçalo Rodrigues, Pedro Caeiro, Tiago Matias e do próprio Jorge Silva Melo) surgidas para acentuar esse “gosto de Tabori em conceber a personagem como uma estátua inacabada.”
O espetáculo tem estreia marcada para 18 de novembro, no Teatro da Politécnica, mantendo-se em cena até 19 de dezembro, com récitas de terça a sexta às 19 horas, e ao sábado, com dupla sessão, às 16 e 19 horas.
Atenção: Devido à crise sanitária, as récitas marcadas para os sábados foram suspensas.
Que evolução se deu nas funções que antes tinham no festival e as responsabilidades agora assumidas?
A programação desta edição é inteiramente do vosso critério?
Convosco na direcção artística, o Alkantara será predominantemente um festival de dança?
As vossas sensibilidades e escolhas enquanto programadores assemelham-se ou complementam-se?
DC – Ao longo do caminho, até chegar a esta programação que apresentámos ontem [13 de outubro], fomos discutindo as propostas e percebendo como é que elas se articulavam, o porquê de escolhermos um projeto em detrimento de outro, e fomos percebendo que visão pretendíamos dar com esses projetos, com os que ficaram e com outros que íamos vendo e discutindo.
Qual a importância da presença de artistas internacionais na identidade do festival?
Existe vontade de levar o Alkantara a outras cidades do país, ou manter-se-á exclusivamente em Lisboa?
No jardim de uma casa, todas as tardes, Lena (Maria Emília Correia), Viviane (Lídia Franco) e Célia (Catarina Avelar), três vizinhas, amigas de largos anos, reúnem-se para beber chá e laranjada. Na pacatez que as rodeia, conversam sobre assuntos do quotidiano, sobre os seus percursos de vida, sobre os tempos que mudam, revelando medos e desejos, anseios e agruras, mas também esperança e alegria, como quando brincam como se voltassem ao tempo de escola e dançam canções dos Beatles como se tivessem, de novo dentro delas, o sopro da juventude.
A elas, junta-se a enigmática nova vizinha, Regina (Márcia Breia) que, como uma sibila, vai anunciando ao espectador visões do fim dos tempos.

Como confidencia Maria Emília Correia, “há algo de muito críptico nesta peça”, onde a bolha harmoniosa do jardim em que convivem as quatro mulheres surge violentamente sacudida pelas visões apocalípticas sobre o futuro do planeta e da humanidade, anunciadas pela personagem de Márcia Breia. “Estas mulheres podem ser os quatro cavaleiros do apocalipse, uma representação simbólica da peste, da fome, da guerra e da morte”, sublinha a atriz.
O próprio título da peça, Só eu escapei, provém de uma passagem bíblica do profético Livro de Job (“só eu escapei para trazer a notícia”). Incumbência que cabe a Regina, a mulher que entra naquele círculo de amigas, envolvendo-se, embora mantendo simultaneamente a distância, “e que se levanta da mesa de chá para sacudir a plateia.”
Uma peça “profética”
“Há qualquer coisa de profético”, afirma o encenador João Lourenço, lembrando que a estreia estava programada para maio e que, devido à pandemia, só agora será possível levá-la ao palco. E lembra: “Caryl Churchill escreveu-a em 2016, ainda antes de Trump e Bolsonaro chegarem ao poder, antes de tomarmos consciência de que o planeta está verdadeiramente em perigo, e tão distantes de imaginarmos que um vírus iria alterar as nossas vidas. Tudo isso está na peça.”
Este adiamento, no contexto em que ocorreu, “acabou por ser importante para que adquiríssemos, eu e as atrizes, um pensamento político coletivo, baseado em tudo o que nos rodeia devido a uma evolução que deixou de ter em consideração a dimensão humana e a necessidade de respeitar a natureza”, sublinha o encenador.

Quatro atrizes que são “a história viva do teatro português do século XX aos nossos dias”
“Nunca estive tão tranquilo antes de uma estreia, ou não soubesse que em palco estão quatro atrizes que sabem muito bem o que têm a fazer e são capazes de lidar com qualquer adversidade. Elas são a história viva do teatro português do século XX aos nossos dias”, sublinha João Lourenço, não escondendo a felicidade e a gratidão de juntar no mesmo espetáculo Márcia Breia, Lídia Franco, Catarina Avelar e Maria Emília Correia.
Com carreiras tão díspares e diferenciadas, o encenador lembra cada uma delas: “a Lídia, que começou como bailarina, fez teatro, filmes e televisão; a Maria Emília, atriz, grande, grande encenadora; a Márcia, com todo o percurso da Cornucópia; e a Catarina, que marcou toda uma época no Teatro Nacional. Que privilégio tê-las aqui a trabalhar comigo.”
João Lourenço lembra ainda a importância de serem mulheres, já que o teatro português tem a particularidade de ser “um bastião das mulheres”. “Quando comecei a trabalhar”, recorda, “a grande mulher do teatro era Amélia Rey Colaço, que ironicamente seria ‘um Salazar de saias’, no sentido em que era poderosa e mandava. Quando fui para o Trindade, era a Eunice [Muñoz] e a Carmen [Dolores]… As mulheres são quem verdadeiramente marca a história do teatro português.”
A juntar à importância de ver estas enormes atrizes em cena, o encenador frisa ainda “o empenho e a coragem” de cada uma delas em dar corpo a estas quatro mulheres “irónicas, engraçadas, inteligentes e intrigantes” que Caryl Churchill criou. Tendo em consideração a idade, fazem parte do denominado grupo de risco. “Em nenhum lugar do mundo a peça está a ser feita, precisamente por isso. Mas, a “resiliência e a vontade destas atrizes” venceu o medo e, a partir de 7 de novembro, de quarta a domingo, no Teatro Aberto, sobe o pano e acontece espetáculo.
As celebrações dos 50 anos dos Ateliês dos Coruchéus, situados em Alvalade, têm início dia 25 deste mês com a inauguração de uma exposição organizada em núcleos – Os Artistas, constituído por painéis junto das entradas dos ateliês; O Lugar, composto por painéis colocados no jardim, e O Edifício, a instalar na biblioteca. Além disso, serão lançados um site e uma monografia e haverá um banco de memórias dos artistas pioneiros.

Diogo Evangelista
Diogo Evangelista é um estreante no complexo dos Coruchéus. O seu trabalho, que reflete sobre o estatuto da imagem e o seu potencial como veículo contracultural, é geralmente influenciado pelo ambiente gerado em estúdio. O artista acredita que o ateliê 36 não será exceção, até porque este espaço tem uma atmosfera única, favorável ao desenvolvimento de novos projetos. A maior vantagem de trabalhar num lugar com estas características está, segundo Diogo, na possibilidade de desenvolver uma rede de trabalho mais profissional que fortalece o conceito de comunidade. O complexo dos Ateliês dos Coruchéus reúne as condições ideais para se tornar num polo cultural forte na cidade de Lisboa e, para isso acontecer, será necessário criar uma sinergia não só entre os artistas que ali trabalham, mas também com outros agentes culturais externos.

Tatiana Macedo
Tatiana Macedo é outra recém-chegada aos Ateliês dos Coruchéus. No número 31 levará a cabo os seus próximos projetos: rever e organizar o seu arquivo, que resulta de anos de captura de fotografias e vídeos, editar as imagens, imprimi-las, colocá-las na parede, no chão e nas mesas, pensar sobre elas e criar relações entre elas. Para a artista vai ser muito importante trabalhar num espaço afastado daquele onde até aqui trabalhava – a sua casa. No ateliê vai poder receber mais pessoas, dialogar com outros artistas que aqui têm espaços, fazer mais studio visits, expor o seu trabalho de uma forma que ainda não tinha feito, pelo menos em Portugal. Tatiana Macedo formou-se em Londres e fez um ano de residência artística em Berlim. A sua obra desenvolve-se entre a fotografia, o cinema, a instalação, o som e as suas formas expandidas.

Laranjeira Santos
Foi-lhe atribuído o ateliê número 2 no ano de abertura do complexo e, desde aí, nunca mais saiu. Aquele espaço, habitado por 50 anos de estudos, desenhos e esculturas, foi onde todo o seu processo artístico começou, numa altura em que dividia o tempo entre o ateliê e o ensino no Liceu Camões. Para Laranjeira Santos, um dos maiores nomes portugueses da escultura contemporânea com um corpo de trabalho que oscila entre o figurativo e o abstrato, os Ateliês dos Coruchéus são uma obra fascinante, que considera fundamental para a arte em Lisboa. Conviver com os outros artistas, trocar impressões e partilhar experiências são a mais valia de um complexo como este. Nos seus primeiros anos como residente, o espaço era palco de festas, exposições coletivas e manifestações de amizade, momentos que o mestre recorda agora com saudade.

Nuno Cera
Nuno Cera ocupa o ateliê 23 do complexo há oito anos. Para o fotógrafo, este espaço é múltiplo: lugar de experiência e de teste de novos trabalhos, de fomento de colaborações artísticas, de leitura, de investigação e de escrita, de edição de vídeo e de fotografias, de arquivo e de organização de exposições. Nuno Cera considera que a existência destes ateliês é fundamental para o trabalho de todos os artistas, não só porque é um espaço dedicado exclusivamente ao trabalho e ao pensamento, mas também pelo facto de estar inserido num complexo, o que permite a partilha de experiências entre artistas. Ali, Nuno Cera tem desenvolvido os seus mais recentes trabalhos de fotografia e vídeo, que exploram as condições espaciais, arquitetónicas e urbanas através de formas ficcionais, poéticas e documentais.

Ana Pérez-Quiroga
É no ateliê 24 que Ana Pérez-Quiroga, artista visual e performer, produz, de há dois anos a esta parte, todas as suas peças, à exceção dos trabalhos mais conceptuais e que não são imediatamente materializáveis. A sua diversificada obra, que vai da fotografia à instalação, passando pelo filme, pelo desenho, pelo têxtil e pela escultura móvel onde brinca com a funcionalidade, centra-se em torno do quotidiano e seu mapeamento, na importância dos objetos comuns e problemáticas de género. Para Ana, a sinergia que se desenvolve num complexo artístico como o dos Coruchéus é uma grande mais valia. Independentemente dos artistas estarem, ou não, muitas vezes uns com os outros, o facto de se sentirem parte de uma comunidade artística gerada à volta de um polo aglutinador é de extrema importância e cria, sobretudo, uma grande massa crítica.

Manuel da Fonseca (Entrevista)
Amália Nas Suas Palavras
Em 1973, Manuel da Fonseca, nome cimeiro do neorrealismo português, poeta e autor dos romances Seara de Vento e Cerromaior, grava horas de conversa com Amália Rodrigues com o objetivo de escrever a sua biografia. O projecto foi abandonado, mas surge finalmente a transcrição inédita dessas gravações. A longa entrevista oscila entra a cumplicidade (quando se aborda a natureza do fado, se evocam as belezas da campina alentejana ou se partilham gostos literários) e a posição defensiva de Amália (sobretudo nas questões de índole política), levando-a a exclamar: “As coisas que este senhor me pergunta!” A publicação dessas conversas constitui, segundo o musicólogo Rui Vieira Nery, uma das contribuições mais inovadoras para a bibliografia amaliana neste ano em que iniciamos as comemorações do centenário do nascimento da artista”. Artista incomparável que traduz desta forma a sua profunda identificação com o povo: “É como quando uma pessoa vai por um caminho e vê uma erva que dá um cheiro que se reconhece. Acho que as pessoas quando me ouvem cantar, veem realmente que sou um produto de cá, sou uma portuguesa e, portanto, faço parte do que no fundo eles são.” Edições Nelson de Matos/Porto Editora

Atlas da Almirante Reis
A avenida Almirante Reis, que homenageia a figura do revolucionário republicano Carlos Cândido dos Reis, é uma das mais extensas artérias da cidade de Lisboa. Caracteriza-se por ser uma das principais vias de ligação entre a cidade da segunda metade do século XX e a Baixa de Lisboa, tratando‑se de uma avenida com características singulares, onde numa única linha de expansão são visíveis as várias épocas do crescimento urbano da capital. Atualmente, é uma das zonas mais multiculturais da capital. Curiosamente, é também uma das menos estudadas. Este estudo pretende colmatar essa lacuna abarcando toda a sua extensão e densidade. O presente atlas, estruturado em quatro partes que se dividem fisicamente por plantas desdobráveis, constitui um recenseamento dos diversos aspectos (urbanos e urbanísticos) desta icónica Avenida, congregando perspectivas históricas e geográficas, dados inéditos, análise arquitectónica e até, olhando mais à frente, uma abordagem projetual. Tinta-da-china
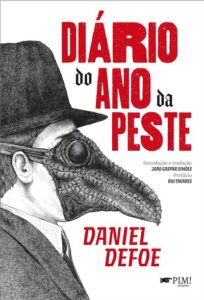
Daniel Defoe
Diário do Ano da Peste
Daniel Defoe escreveu este livro em 1720, mais de meio século após a peste de 1665. A obra surge na sequência do novo afloramento da epidemia em Marselha e do receio de que ela se pudesse voltar espalhar pela Europa e chegar a Inglaterra. João Gaspar Simões, tradutor da obra, na brilhante introdução, afirma que Diário do Ano da Peste é da mesma índole de Robinson Crusoe, obra-prima do autor, fundadora do romance moderno inglês: “Enquanto nesta um homem vencia todas as dificuldades de vida numa ilha deserta (…), na nova obra a própria cidade de Londres é que assumia a posição do náufrago naquela. Como iria Londres triunfar das dificuldades tremendas que o cataclismo provocaria na urbe imensa?” Esta obra que pretendia documentar um acontecimento verdadeiro, e que funciona quase como um manual de sobrevivência, surpreende hoje pelas semelhanças entre as circunstâncias que descreve e a situação de pandemia global que vivemos. Este facto permite a criação de um elo entre o leitor, o protagonista e os seus próximos, impensável antes da pandemia de 2020. PIM! Edições

Leonor de Almeida
Poesia Reunida
Em 1965, Natália Correia inclui um poema de Leonor de Almeida na Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, escrevendo: “A sua Linguagem exprime calidamente uma visão panerótica do Universo”. Leonor publicou entre 1947 e 1960, quatro livros de poesia saudados por João Gaspar Simões, Alberto de Serpa, Jacinto do Prado Coelho, Artur Portela ou E. M. de Mello e Castro. Depois não publicaria mais nada, eclipsando-se numa aura de mistério, vivendo incógnita em Lisboa onde morre sozinha em dia incerto de maio de 1983. A sua obra, uma das mais singulares da poesia portuguesa do seculo XX, é de difícil filiação: segundo Ana Luísa Amaral, autora do prefácio à presente edição, a poesia de Leonor de Almeida partilha das preocupações neorrealistas, da poética surrealista e do presencismo, em simultâneo de outras tendências como o simbolismo. Sem esquecer o profundo erotismo de muitos dos seus poemas que Natália Correia realçou. Este precioso volume põe termo ao silêncio que se abateu sobre a poeta que queria “multiplicar o Espaço e enchê-lo de Amor / procurar os homens que não tiveram vida / e salvá-los!” Ponto de Fuga
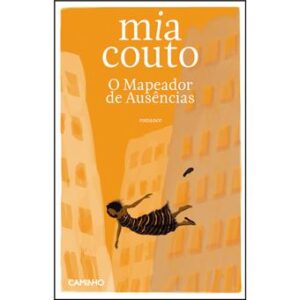
Mia Couto
O Mapeador de Ausências
Um dos ficcionistas mais conhecidos das literaturas de língua portuguesa Mia Couto nasce em Moçambique em 1955 e escreve “pelo prazer de desarrumar a língua”. O seu estilo desenvolve-se num permanente processo de contaminação entre prosa e poesia. Inventor de palavras, recorre aos cruzamentos e à mestiçagem de que o idioma português é alvo em Moçambique para captar “o lado menos visível do mundo”, que o fascinava na infância, procurando estabelecer uma relação profunda entre o homem e a terra. No seu mais recente romance privilegia o tema do regresso ao passado. Diogo Santiago, professor universitário em Maputo, poeta, desloca-se pela primeira vez em muitos anos à sua terra natal, a cidade da Beira, nas vésperas do ciclone que a arrasou em 2019, para receber uma homenagem que os seus concidadãos lhe querem prestar. Diogo recorda sua infância e juventude, quando ainda Moçambique era uma colónia portuguesa; a mãe, toda sentido prático e completamente terra-a-terra, e o pai, amante de poesia, perseguido e preso pela PIDE, relembrando duas viagens que fez com ele ao local de terríveis massacres cometidos pela tropa colonial. Entre os ausentes que evoca, sobressai o régulo Capitine que via uma mulher a voar e que inspira a bela capa de Rui Garrido. Caminho

Pé d’Orelha
Conversas entre Bordalo e Querubim
Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) e Querubim Lapa (1925-2016), dois dos maiores ceramistas portugueses, pertencem a gerações diferentes, porém os seus percursos artísticos apresentam múltiplas conexões. A exposição Pé d’Orelha – Conversas entre Bordalo e Querubim explora as relações entre as obras dos dois artistas através de um roteiro imaginário assente em seis temas: o humor e a sátira; as afinidades; as citações e as heranças; e, finalmente, as confidências e o erotismo. Face ao ilustre antecessor, Querubim Lapa revela as qualidades essenciais da sua extraordinária produção artística no domínio da cerâmica: um profundo entendimento da tradição aliado a um inesgotável ímpeto renovador. O presente catálogo, profusamente ilustrado, e com reveladores textos de João Alpuim Botelho, Rita Gomes Ferrão, Pedro Bebiano Braga e Sofia Nunes, constitui um testemunho eloquente deste magnífico encontro, materializado numa exposição imperdível, patente no Museu Bordalo Pinheiro até ao próximo dia 28 de Fevereiro de 2021. Museu Bordalo Pinheiro

Roxane Marie Galliez & Seng Soun Ratanavanh
Espera, Miyuki
Espera, Miyuki é o primeiro livo de uma trilogia que acompanha uma menina em várias aventuras com o seu avô. No primeiro dia de primavera, Miyuki está impaciente. Tem pressa de ir ao jardim, onde tudo floresce. Tudo menos uma pequena flor, ainda em botão. A menina, ansiosa por despertá-la, parte em busca da água mais pura. O avô diz-lhe: “Espera!”, mas Miyuki só consegue pensar na sua flor que não desabrocha… Com ilustrações delicadas de Seng Soun Ratanavanh, influenciadas pela arte e cultura japonesas, este belíssimo álbum combate a impaciência e convida-nos a parar e a respeitar a valsa lenta de cada momento. O Texto de Roxane Marie Galliez, escritora de livros para a infância, jornalista e investigadora de História das Civilizações, fala-nos com elevado sentido poético da arte de saber esperar. Orfeu Negro
O teu novo disco chama-se Uma Palavra começada por N. Essa palavra remete para o teu nome artístico?
É uma das hipóteses, mas não obrigatoriamente a única. O que mais gosto no título é precisamente o leque de possibilidades que oferece.
O disco saiu em setembro, mas foste lançando vídeos no YouTube a partir de final do ano passado. Por que motivo optaste por ir revelando todo o álbum aos poucos?
Quis que cada uma das músicas tivesse o seu tempo, o seu período dedicado, tentando contrariar a “ditadura” dos singles que por vezes ofuscam o resto do disco.
Passaram quatro anos desde o teu último disco, 00:00:00:00. Não te impões um prazo para lançar discos? Preferes amadurecer as músicas?
Imponho-me prazos, mas não fixos. Há uma altura em que sinto que quero começar a trabalhar um disco novo, mas acabo por lançá-lo apenas quando estou totalmente satisfeito com o resultado, e isso nem sempre demora o mesmo tempo.
O último disco era praticamente todo instrumental, apenas tinha alguns momentos cantados em português. O que te levou a gravar um álbum inteiramente em português?
Precisamente o início da tua pergunta, senti que depois do disco de 2016 era isto que queria fazer.
Que história(s) pretende contar este disco?
Os meus discos contam sempre histórias da minha vida, anseios, dúvidas, receios, coisas boas. Este passa também por aí.
Como sempre, o lado visual deste disco foi pensado ao mínimo detalhe. Para ti a experiência visual é tão importante como a sonora?
Acredito que tudo é importante. Tudo começa na música, mas acredito na coerência entre todos os materiais que acompanham a música. E é verdade que muitas vezes um disco começa a ser ouvido ainda não se pôs a música a tocar.
A tua música parece feita para uma banda sonora e convida à introspeção. É o reflexo da tua maneira de ver o mundo?
Acho que sim, talvez seja intropetivo em demasia às vezes, mas é assim que as coisas me fazem sentido. Musicalmente é também aquilo que mais gosto de fazer.
Nos teus concertos apresentas-te sempre num palco cheio de instrumentos, que manejas com uma habilidade incrível. Não sentes falta do apoio de uma banda?
Não penso nisso. Noiserv surgiu desta forma, com as suas vantagens e desvantagens, mas faz parte.
O concerto de 13 de novembro, no Tivoli, serve de apresentação ao novo disco. Os fãs podem contar com algumas das músicas mais antigas também?
Sim, acredito sempre que um concerto deve conseguir reunir músicas dos vários discos de cada músico, mesmo que o foco seja no novo trabalho.
Muitos artistas consideram que o confinamento foi uma altura bastante inspiradora e propícia a criar. Sentes o mesmo? Que impacto tem tido em ti toda esta experiência?
O que me inspira são as pessoas, as conversas cara-a-cara, os olhos das pessoas… O confinamento tirou-me isso. Criativamente, foi o pior período dos últimos anos. De resto, há que lidar da melhor maneira com o que temos e seguir em frente.
Right as Rain é o teu álbum de estreia a solo. Porque este título?
Há qualquer coisa de melancólico e de tranquilizante na chuva, uma sensação que me pareceu dar um bom enquadramento a este disco. Mas também gostei da multiplicidade de sentidos que esta aliteração simples e bonita contém. É uma expressão idiomática em inglês que significa que as coisas estão perfeitamente bem, mas numa tradução mais literal é talvez interpretado como algo que é certo como a chuva. Gosto dessa confusão de sentidos, de expressões, de linguagens – como se pode perceber pelo próprio disco.
Fizeste parte de bandas como L Mantra ou Nome Comum. Em que altura percebeste que estava na altura de voares sozinha?
Sempre fui pensando nisso num segundo plano, mas como tenho um carácter mais colaborativo e fui tendo vários projetos pelo caminho, nunca senti uma verdadeira urgência em ter esse espaço. E se calhar ainda bem porque aprendi muito com quem estava à minha volta. A partir do momento em que decidi trabalhar exclusivamente na música fui compondo mais e mais. E, então, foi um processo natural de triagem e de organização de canções que estavam a acumular-se na gaveta e – importante – o facto de ter conseguido o Apoio Fonográfico da Fundação GDA, sem o qual não teria gravado este disco.
Trabalhas em sonoplastia para espetáculos e compões bandas sonoras para filmes. Essa experiência inspira, de alguma forma, as tuas canções?
Sim, sem dúvida. A canção Limbo que está no disco e que canto com a Sara Carinhas é exemplo disso. Compus este tema para a equipa que trabalhou comigo no espetáculo Limbo (encenado pela Sara), como presente no dia da nossa estreia. E obviamente aborda temáticas que estávamos a trabalhar no espetáculo. Mas há vários tipos de contaminação, não só ao nível de conteúdo mas da forma também. No trabalho de sonoplastia normalmente utilizo um vocabulário sonoro mais vasto, o que por sua vez influencia a forma como componho e penso os arranjos para cada canção. Especialmente porque também gosto de gravar e misturar em casa. Mas parece-me inevitável essa confluência, sendo que faz tudo parte do mesmo campo sonoro, quer se trate de música, palavra, ruído ou silêncio.
Este disco inclui colaborações variadas, com personalidades de áreas artísticas muito diferentes, como Francisca Cortesão, Miguel Bonneville, MOMO. ou Sara Carinhas, entre outros. Por que motivo decidiste convidar tantas pessoas para o teu disco de estreia?
São pessoas com as quais fui trabalhando e que admiro. Mas também porque me interessa muito a combinação de diferentes mundos. Precisava de refrescar este álbum e a minha visão sobre ele, que já o andava a cozinhar em lume brando há bastante tempo. É um exercício que te obriga a ganhar alguma distância e a escutar as tuas próprias canções de outra maneira. Esse espaço de encontro ajudou-me a repensar e a produzir este disco com alguma novidade e frescura, o que é difícil de manter nestes processos longos, como o de fazer um disco.
O álbum é uma mistura de rock, folk, morna, samba, cantado em português, inglês e crioulo. Com tantas sonoridades é difícil manter o foco?
Quis fazer um objeto propositadamente caleidoscópico, com diferentes vozes, cores, ritmos, mas também como desafio para uma escuta mais plural e abrangente. Penso que apesar das diferentes formas de expressão existe uma linguagem, uma linhagem comum. Mas o foco do disco talvez passe por um sentido de viagem, uma toada mais livre que se passeia por diferentes paisagens.
Durante o confinamento gravaste ‘No Jardim com’, uma série de duetos disponibilizados no teu canal de YouTube. Como surgiu esta ideia?
Foi depois daqueles primeiros meses em quarentena em que nos entregámos aos lives, aos diretos e aos festivais online, e a dada altura dei conta de tudo o que estava a perder no meio disso. Às tantas estávamos a trabalhar sozinhos a partir de casa, a fazer de técnicos de som e de imagem, a criar e a interpretar em directo para o mundo – tudo gratuitamente. Foi isso que me moveu: tentar recuperar algum sentido de normalidade na nossa profissão e procurar o reencontro com outros intérpretes e com uma equipa técnica – dentro das medidas de segurança na altura impostas.
Muitos artistas aproveitaram a quarentena para compor. Consideras que este período tão atípico foi particularmente inspirador?
Inspirador sim, mas não necessariamente fácil. As circunstâncias eram até bastante propícias, em termos de tempo para introspeção, mas o confinamento não foi propriamente libertador. Houve alturas de euforia ou se calhar de fúria artística e outras de niilismo absoluto. Foi bastante violento, uma montanha-russa que ainda estamos a viver. A quarentena fez gritar a minha necessidade de fazer música, mas nem sempre senti o foco necessário e a vontade aguçada para concretizar as ideias. Ou seja, muito rascunho para ainda trabalhar.
Foi também durante a quarentena que surgiram As Rainhas do Autoengano (com Natalia Green e Zoe Dorey). Como definirias este projeto?
É um projeto bastante improvável, para começar. Conhecemo-nos num jantar mesmo antes da quarentena e no fim dessa noite sobrámos as três e começamos logo a compor juntas. Foi tudo demasiado imediato, mesmo apesar das nossas diferenças. Durante a quarentena fomos fazendo mais canções e alimentando este trio transatlântico de três mulheres cantautoras e multi-instrumentistas, com um som, diria, despretensioso e leve e num formato acústico e intimista.
Vais dividir o palco do São Luiz com alguns dos convidados do teu disco?
Sim, para se fazer a merecida festa no dia 7 de novembro, às 18h30. Não poderão estar todos, todos os convidados do disco mas terei comigo, para além da minha banda, com o David Santos no contrabaixo, o Manuel Dordio na guitarra elétrica e o Nuno Morão na bateria, a participação especial de: Ana Luísa Valdeira (violino), Bernardo Palmeirim (voz e guitarra), Giulia Gallina (concertina), Gonçalo Castro (baixo eléctrico), Inês Pimenta (voz), João Teotónio (voz e guitarra), Miguel Bonneville (voz) e Sara Carinhas (voz).
paginations here