Mais de 40 anos depois de Heiner Müller a ter escrito, ainda não é fácil definir um objeto tão complexo como A Máquina Hamlet. Em pouco mais de um punhado de páginas, o dramaturgo alemão conjuga uma crítica à História da Europa, ao teatro e à própria situação política do país natal, ainda dividido em dois e com regimes políticos antagónicos. Um texto, como sublinha Jorge Silva Melo que agora o leva a cena, escrito “como que entre o Maio de 68, que aconteceu 10 anos antes de Müller ter concluído a primeira versão, e a queda do muro de Berlim, uma década depois.”
Hoje, a história de A Máquina Hamlet “é ouvida de outra maneira”. “As ruínas da Europa agora são outras e o texto ganhou novas qualidades”, frisa Silva Melo num convite à sua redescoberta.
Clássico do teatro moderno, a peça rompe com as regras daquilo que é a convenção teatral. Aliás, Silva Melo, elenca-o entre “os textos mais estranhos da História do Teatro”, lado a lado com Os Cenci de Antonin Artaud e As Quatro Meninas de Pablo Picasso. “É tão fragmentário, tão incompreensível, que me fascinou desde o dia em que o li pela primeira vez, em Paris, na casa de um amigo meu. Depois, vi várias produções da peça, entre elas, duas, bastante distintas, do Bob Wilson.”
Para lidar com a estranheza e tornar menos críptico o contacto com o texto, a encenação “procura que cada frase do texto tenha a capacidade de ecoar no espectador como uma onda quando estamos a olhar o mar”. Afinal, A Máquina Hamlet tem de ser digerida porque “é uma peça analítica, não romântica. A peça analítica de um cadáver, o do homem que foi Hamlet.”

O cenário são “as ruínas da história”, a agonia do “macho”, que declara, precisamente, “eu era Hamlet”, naquele que é um premonitório anúncio da sua impotência para mudar o rumo das coisas. “Esse papel de força perante a História, até ai masculinizado, caberá, segundo Müller, à mulher, mais especificamente a Electra” (“ela é a violência sem a melancolia de Hamlet”), sublinha Silva Melo, recordando o monólogo final em que Ofélia, a submissa noiva de Hamlet, assume o papel da heroína da mitologia grega e evoca liderar a revolta contra o estado do mundo. “A peça fala, portanto, da passagem do masculino para o feminino, a mulher como futuro do homem, algo que só descobri anos depois de a ter lido pela primeira vez.”
Para interpretar “o jovem Hamlet, esse herói romântico falido”, Silva Melo escolheu João Pedro Mamede, sublinhando que o ator “conjuga de modo exemplar a ferocidade e a fragilidade, a agressividade e a ternura. Há um romantismo no João Pedro que é muito próprio da imagem tradicional do Hamlet. Depois, ele é um ator da palavra, perfeito a dar o tempo do texto, sem precipitar, sem cavalgar. Foi imediatamente nele que pensei para o papel.”
O espetáculo conta ainda com interpretações de Américo Silva, André Loubet, Hugo Tourita, João Estima, José Vargas e Inês Pereira, no papel de Ofélia/Electra. A participação especial do contrabaixista João Madeira entrega “substrato ao indizível” desta sempre fascinante obra-prima da dramaturgia ocidental, em cena no Teatro da Politécnica, até 22 de fevereiro.
São madeirenses. Que influência é que as origens têm na vossa música?
Bruno Santos: Foi na Madeira que comecei a tocar, durante a adolescência. Tinha muitos vizinhos que tocavam e houve uma altura em que tive aulas com o professor (e músico ligado ao jazz) Humberto Fournier. Esses contactos foram decisivos. Entretanto vim para Lisboa estudar para o Hot Clube, enfim, fiz um percurso mais ou menos natural, parecido com o do André. No meu caso, só alguns anos mais tarde é que a música tradicional madeirense, através dos instrumentos tradicionais, começou a ter uma preponderância naquilo que toco e na música que fazemos. Acho que isso tem a ver com o facto de estarmos longe… Parece que nos aproxima mais das nossas raízes.
O facto de serem irmãos traz mais vantagens ou desvantagens ao vosso projeto?
André Santos: Penso que traz sobretudo vantagens, porque damos-nos bem quer musical, quer pessoalmente. Não há guerras [risos]. Podemos não concordar a 100% com alguma coisa mas facilmente damos o braço a torcer e ouvimos a opinião do outro. Nunca há grandes discórdias.
Muitos miúdos criam bandas com irmãos e primos. Isso aconteceu-vos ou os Mano a Mano surgiram mais tarde?
AS: Temos uma diferença de idades grande, praticamente 11 anos. Na nossa família há um tio que tem uma coleção de discos gigante. Ele foi uma influência grande para nós. Os nossos pais também sempre ouviram música variada, mas este nosso tio era mesmo viciado em colecionar música e oferecia-nos discos com frequência. Em miúdo, via o meu irmão mais velho a tocar guitarra e também queria tocar. Comecei por brincadeira, e quando comecei a tocar melhor comecei a acompanhá-lo. Ele seguiu música e eu quis seguir as pegadas dele. Aos poucos e poucos, quando comecei a levar a música mais a sério, pensámos fazer um duo. Somos irmãos, tocamos os dois guitarra, eu sou esquerdino, ele é destro, e de repente, quando começámos a fazer os primeiros concertos, em clubes e sítios pequenos, as pessoas começaram a dizer que tínhamos uma grande empatia, que devíamos pensar em fazer algo mais sério. O nosso primeiro disco era de versões, mas depois começámos a querer crescer.
BS: A partir daí é que começámos a pensar nisto como algo a longo prazo: preparar repertório, pensar onde é que poderíamos tocar, pensar num cenário de palco, etc. O primeiro disco foi super descomprometido, gravámos aquilo que costumávamos tocar em casa.
E porquê o jazz?
BS: O jazz apareceu na minha vida porque tive uma banda de rock na adolescência da qual fazia parte um amigo que ouvia muita música brasileira. Foi ele que me convenceu a ter aulas de guitarra com o professor Humberto Fournier, do Conservatório. Ele deu-me a conhecer Tom Jobim, João Gilberto… Isso foi um momento de viragem para mim. Os sons, os acordes… Fiquei fascinado com aquele universo.
AS: Eu, mais uma vez, fui atrás [risos]. Lembro-me de ter vindo a Lisboa com os meus pais assistir ao primeiro concerto do meu irmão [no Hot Clube]. Depois fomos à FNAC comprar uma série de discos de jazz, e o bichinho foi entrando.
Por norma, compõem música instrumental. É um desafio escrever música para acompanhar voz?
AS: Não é necessariamente um desafio difícil, temos é que pensar como é que a coisa poderá funcionar, mas acho que a nossa música é cantável por natureza, por isso não é um universo assim tão distante. Inicialmente, o nosso projeto era um quarteto: duas guitarras, um contrabaixo e uma bateria. A certa altura achámos que esses dois instrumentos estavam a interferir na nossa empatia, por isso decidimos seguir o caminho a dois, mas sempre deixando em aberto eventuais convites a instrumentistas ou vocalistas que acrescentem qualquer coisa ao nosso duo.
BS: O facto de sermos dois guitarristas, um canhoto, outro destro, dois irmãos em despique saudável… Acho que essa é a nossa força e a nossa base. Tudo o resto vem diversificar aquilo que fazemos. A nossa música faz sentido assim porque somos, de facto, instrumentistas.
AS: Tanto eu como o meu irmão costumamos trabalhar com cantores, e gostamos disso. Tanto de tocar, como de ouvir. Volta e meia surge alguma parceria com cantores que gostamos…
Tocam, sobretudo, temas originais, mas também algumas versões. Como fazem essa escolha?
AS: Nos primeiros discos começámos com as versões, músicas que sabíamos os dois e que gostávamos de tocar. Este último disco tem muito mais originais do que versões.
BS: Sentimos essa necessidade. Sentimos que tínhamos espaço para criar música original.
AS: E porque tínhamos sempre boas reações das pessoas quando tocávamos os originais. Para compor é preciso ter essa meta, é preciso obrigarmos-nos a isso, se não a preguiça pode levar a sua avante.
BS: Neste disco, as músicas que não são originais estão relacionadas com a Madeira. Temos o Noites da Madeira e a versão de um standard, um tema do repertório jazzístico, mas que é tocado com instrumentos tradicionais da Madeira.

Para além dos Mano a Mano, cada um tem outros projetos com outros músicos e dão aulas. Como conseguem conciliar tudo?
BS: Dei aulas durante muitos anos, mas neste momento dirijo a escola do Hot Clube, sou diretor pedagógico. Fui lá aluno e dei lá aulas, mas optei por fazer uma pausa nas aulas porque a minha prioridade é tocar. A certa alturei parei e pensei que precisava de mais tempo para tocar, para compor, para estudar, para praticar. Foi uma opção fazer essa redução. O André também tomou essa opção recentemente, está a dar menos aulas…
AS: O percurso normal é darmos aulas, termos vários projetos em que tocamos pontualmente… Às vezes recebemos um convite para tocar pontualmente com alguém, mas nunca é só aquele dia. Tens que ter tempo para aprender o repertório, para ensaiar… Essa é uma gestão difícil de fazer.
BS: Enquanto freelancers nunca sabemos que trabalho vamos ter, por isso vamos aceitando os convites… No nosso caso, de agosto até ao final de outubro de 2019, tocámos todos os fins-de-semana. Neste momento, por ter tomado a decisão de ter mais tempo para mim, estou a correr mais riscos, mas isso também implica um investimento maior em procurar mais. Às vezes, o facto de aceitarmos tudo deixa-nos mais relaxados, estamos sempre ocupados, não temos que procurar nada. É uma decisão de algum risco mas que nos obriga a ir atrás.
AS: O ano passado tive uma semana alucinante: fui tocar à Madeira com um projeto de música tradicional madeirense. Fui no próprio dia, toquei, acordei às quatro da manhã para apanhar um voo para Lisboa, depois apanhei outro para Washington, onde estive dois ou três dias. Voltei, não saí do aeroporto e fui para Madrid tocar com o Salvador Sobral… Quando temos estas alturas assim e chegamos a casa, só queremos descansar. Mas depois até temos dois ou três dias livres que devíamos aproveitar para trabalhar, mas o corpo já não consegue. Como somos os patrões de nós próprios e temos de saber gerir o nosso tempo, sabemos que devíamos aproveitar esses dias para trabalhar, mas só queremos descansar… Torna-se difícil fazer essa gestão.
No dia 25 de janeiro, atuam no CCB com outros músicos em palco, como a Rita Redshoes. Em que consiste este concerto?
AS: Há cerca de três meses fizemos um concerto no Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias, onde quisemos fazer uma coisa diferente. Convidámos a Rita para cantar três temas e também já tínhamos esta ideia – como gostamos dos cordofones madeirenses, que foi um tema que estudei há uns anos – de um dia fazer uma espécie de orquestra de cordofones. Convidámos três amigos nossos que tocam cordofones para fazer um mini-ensemble de cordofones. Fizemos o nosso espetáculo habitual e a meio tivémos estes convidados.
BS: Um dos temas que a Rita canta é Mulher, que faz parte do último disco dela. Fiz um arranjo para incluir quatro cordofones nesse tema. Depois temos uma versão de um tema do Roberto Carlos que se chama Rosinha, cantado pela Rita.
AS: E há ainda um tema tradicional madeirense (e praticamente desconhecido do repertório jazzístico madeirense) que se chama Mil Estrelas. Ainda há muitos músicos de jazz na Madeira, mas houve uma geração de onde surgiu o Max, que, embora seja conhecido por cantar o Bailinho da Madeira, a Mula da Cooperativa ou Casei com uma Velha, também andava pelos meandros do jazz, ia às jam sessions do Hot Clube. Há uma geração de músicos madeirenses de jazz que foi muito forte. Este tema, que é lindíssimo, é do pianista madeirense Hélder Martins. Descobri-o há uns anos, mostrei ao meu irmão e desafiámos a Rita a cantá-lo, que inclui duas guitarras e três cordofones. Vamos também tocar Noites da Madeira, que gravámos no disco, uma versão de uma música do repertório jazzístico madeirense e que foi composto por outro pianista, Tony Amaral, e celebrizada pelo Max. Tocamos também um tema meu, chamado Canção em Lá, que inclui duas guitarras, mas que neste concerto tocamos só com cordofones.
Para este concerto mandaram fazer um cenário especial, assinado pelo ateliê de arquitetura Ponto Atelier. Valorizam muito o lado visual?
AS: Sempre tivémos essa ideia de criar um cenário que remetesse para uma sala de estar, para criar um clima de maior proximidade com o público. Durante o concerto também vamos contando histórias e a questão do cenário era importante. Desta vez quisémos fazer uma coisa mais sofisticada e desafiei os meus amigos do Ponto Atelier, que são excelentes arquitetos e que já tinham feito cenografias para outros espetáculos. Eles fizeram-no para o concerto do Funchal, e agora vêm de propósito a Lisboa replicar o cenário.
O que se segue individualmente e para os Mano a Mano?
BS: Para o duo, é continuar. Temos mil coisas que podemos fazer com o universo dos cordofones. A tendência será fazer mais música original e continuar a tocar. Já temos alguns concertos marcados para este ano e estamos em vias de confirmar outros. Talvez gravar um novo disco daqui a um ano… A nível individual, estou numa fase de ter tempo para praticar e para estudar, como não tinha há algum tempo. Está a saber-me muito bem, estou a explorar outras coisas e vou continuando a tocar e a fazer uns fins-de-semana no Hot Clube. Tenho umas quartas-feiras a tocar jazz puro e duro. Neste momento, mais a sério, estou focado em Mano a Mano e em ter tempo e espaço mental para mim, para estudar e praticar, e vou continuar como diretor pedagógico da escola do Hot Clube.
AS: Mano a Mano é o projeto principal, onde depositamos mais energia e foco, e depois há outros projetos, que surgiram há uns anos e que este ano vão continuar. Tenho uma parceria com o contrabaixista Carlos Bica, do qual surgiram dois projetos: um trio com ele e com o João Mortágua, e outro, que é um quarteto com ele, a Maria João e o João Farinha. Esses são dois projetos que me parecem que têm uma vida longa pela frente. Depois tenho coisas pontuais, como umas parcerias com o Salvador Sobral. Fizémos um projeto, uma brincadeira para a internet, que se chamava Quinta das Canções, em que todas as quintas lançávamos uma música, durante 22 semanas. Daí surgiram alguns convites para concertos. A nível individual, estou com vontade de gravar um novo disco em nome próprio, coisa que não faço desde 2016. Há essa vontade, vamos ver se tenho tempo, energia e cabeça para isso.
Para a edição de janeiro da Agenda Cultural de Lisboa, falámos com artistas, programadores, arquitetos, gestores de equipamentos e projectos, cujo trabalho reflete estas preocupações e que nos deixam algumas reflexões que apontam caminhos de mudança.
Bordalo II
Artista Plástico
Quando se fala destas temáticas de cultura e sustentabilidade, é um artista cujo trabalho assenta como uma luva. Porém, Artur Bordalo ou Bordalo II como é mais conhecido, refere que quando começou não teve em consideração o potencial pedagógico que o seu trabalho poderia ter. A utilização de desperdícios como matéria prima surgiu por acréscimo, de forma espontânea, e depressa percebi que havia mais qualquer coisa que eu podia fazer, dar um contributo não apenas visual, mas também pedagógico.
Os animais que escolhe retratar não são obrigatoriamente espécies ameaçadas, mas considera que vivemos num momento tão delicado que todas as espécies estão ameaçadas de extinção, incluindo a humanidade. As medidas que devem ser tomadas já levam 50 anos de atraso, desde os primeiros alertas dos cientistas. Se não as tomarmos muito rapidamente, começa a ser dúbio definir o que é uma espécie ameaçada. Há as que infelizmente já estão extintas, outras em sério risco, mas ainda vamos a tempo para que isto não seja mais abrangente. Concorda que a arte tem de ser livre: ninguém tem de me acorrentar a uma só ideia, mas pessoalmente acredita que deve aproveitar o facto de ter visibilidade para chamar a atenção para assuntos relevantes e contribuir para mudar alguma coisa, especialmente nos dias de hoje com toda a visibilidade disponível, devemos tentar influenciar e ajudar a encaminhar o mundo num sentido melhor.

Jorge Andrade
Diretor Artístico da Mala Voadora
A Mala Voadora apresentou um espetáculo em 2018 no Teatro São Luiz, em que se ironizava sobre esta temática. Chamava-se Amazónia e retratava um grupo de artistas de vanguarda que vai para a Amazónia fazer uma telenovela ecológica e nesse processo acaba por provocar a destruição de toda a floresta. Jorge Andrade prefere este tipo de abordagens: embora me possa interessar uma temática como a ecologia, o nosso trabalho não é dar lições de moral às pessoas e dizer-lhes como devem ou não viver. Considera que o papel da arte é de agitar consciências e levar as pessoas a reequacionar a sua realidade, mas não no sentido de apontar um caminho. Pensa também que se assiste hoje a um excesso de oferta, uma espécie de capitalismo cultural consumista em que, para se afirmar, uma companhia precisa de produzir cada vez mais espetáculos e coproduções. É uma lógica que a Mala Voadora gostaria de contrariar: esperamos que num futuro próximo, retirarmo-nos deste aceleramento, tentar criar menos. Com a rede de teatros que já há pelo país, as companhias podiam fazer uma peça por ano com garantia de capitalizar o investimento financeiro e artístico com a circulação da peça pelo país. Fazer menos, com maior qualidade acaba por ser mais amigo do ambiente.

Rosalia Vargas
Diretora Pavilhão do Conhecimento / Ciência Viva
O Pavilhão do Conhecimento tem responsabilidades acrescidas no que toca à sustentabilidade e consciência ecológica, como instituição dedicada à divulgação e pedagogia científica. Para Rosalia Vargas, diretora da instituição, este pendor expressa-se desde logo no desenho do espaço, na utilização de energia e outros aspetos físicos mas também nas condições de trabalho e na seleção e preparação dos colaboradores. Atualmente preparam uma grande exposição sobre a água: Água, Uma Exposição Sem Filtros, a estrear em outubro deste ano. Respeito, democracia, partilha, e o bom uso deste bem precioso serão as linhas mestras da exposição. Rosalia Vargas salienta o papel fundamental do Pavilhão do Conhecimento na pedagogia científica, sobretudo entre crianças e jovens: está provado que quanto mais cedo se intervém na literacia científica, melhores são os resultados. Mas, diz ainda, é um trabalho que é preciso manter porque quando os jovens saem da escola deixam de ter contacto com a ciência. Por isso trabalhamos em colaboração com muitas outras instituições científicas e não só, neste desígnio. Considera que têm a responsabilidade de divulgar as tecnologias e os desenvolvimentos científicos que possibilitam utilizações mais inteligentes e eficientes dos recursos naturais. São parceiros da CM Lisboa no programa Lisboa Cidade Verde 2020.

José Mateus
Presidente da Trienal de Arquitetura de Lisboa
A Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019 chegou ao fim, mas mantém-se no CCB até 16 de fevereiro a exposição Agricultura e Arquitetura: Uma Visão a partir do Campo que foca justamente um dos aspetos relevantes da sustentabilidade na arquitetura. Diga-se que esta edição Trienal tinha como subtema implícito a sustentabilidade, como nos referiu o seu curador principal Éric Lapierre em entrevista na edição de outubro. José Mateus, arquiteto fundador da ARX Portugal, docente e presidente da Trienal resume o conceito numa frase: quando a arquitetura é competente, é sustentável. Para ele, a sustentabilidade na arquitetura é um tema vastíssimo que vai desde a conceção do território ao desenho do edifício. E não tem de ser necessariamente erudita e tecnológica: a arquitetura popular pode ser muito racional e sustentável. Por exemplo, o monte alentejano, na sua relação com o vento, com o sol, o modo como preserva as temperaturas e utiliza materiais disponíveis localmente, tudo é sustentável, feito com poucos recursos, sempre melhorados ao longo dos tempos e deixa uma pegada ecológica pequena. É na relação entre o campo, produtor de alimentos, e a cidade, onde são consumidos, e a distância que os separa, onde jaz uma das vertentes da sustentabilidade. A distância deve ser encurtada e a cidade pode começar a contribuir para a produção de alimentos. Refere que hoje, o caminho para pensar as cidades sustentáveis é encurtar distâncias, densificar, e essa densificação tem de ser inteligente. É uma realidade aceite mundialmente como a estratégia a percorrer. Especialmente em países com recursos limitados como Portugal.

Rúben Teodoro
Colectivo Warehouse
O Colectivo Warehouse (com c, à antiga) existe desde fevereiro 2013. É um ateliê com três sócios fundadores que trabalha exclusivamente em projetos com relevância cultural ou social, e preferencialmente em projetos que abarquem ambas as vertentes. O seu processo de trabalho envolve uma participação muito ativa por parte dos clientes ou utilizadores finais, sempre com abordagens específicas e nunca repetidas. Rúben Teodoro, um dos fundadores, reforça a desta arquitetura participativa: envolvemos muito o público-alvo. Chamamos todos os envolvidos e procuramos compreender se é exatamente o que querem, procurando desde o início envolver o utilizador final, o morador ou até o visitante do espaço. Os clientes são tão diferenciados quanto os métodos, vão desde câmaras municipais, como a de Lisboa, e juntas de freguesia, a festivais como o Boom, à Associação de Vítimas de Pedrogão Grande. Fazem muitos projetos temporários e tudo o que criam obedece ao máximo possível de sustentabilidade, desde a origem e escolha de materiais, à reutilização dos mesmos: o conceito de economia circular é fundamental para nós, usamos materiais poucos processados, com pegada ecológica reduzida, e pensamos na vida dupla ou mesmo tripla dos materiais. Temos um reaproveitamento de quase 100% das sobras dos projetos. Fazem projetos em regiões fora da Lisboa e no estrangeiro em que procuram sempre envolver a economia local, poupando assim nas deslocações e facilitando assim a apropriação local dos projetos. Estão também ligados a uma rede europeia, a Construct Lab, uma espécie de coletivo de coletivos, uma rede informal que partilha valores e processos de trabalho em projetos colaborativos.
Alvaro Pirez d’Évora é uma dos mais antigos pintores portugueses de que há conhecimento?
É um dos mais antigos e é o primeiro de que existe obra conhecida. Alvaro Pirez está documentado em Itália, na zona da Toscânia, nomeadamente em quatro cidades à volta de Florença: Pisa, Luca, Prato e Volterra. Não é só o primeiro pintor com obra conhecida, é também uma das primeiras personalidades portuguesas com impacto na cultura europeia. Antes temos um papa e um Santo António, mas, no que respeita à cultura visual, o Alvaro Pirez é, de certeza, o primeiro português a ter um impacto relevante numa época e num local em que essa cultura é de uma efervescência enorme, já que estamos a assistir ao início do Renascimento.
A formação dele terá sido já feita em Itália ou anteriormente?
Não se conhece nada dele em Portugal antes dessa altura. E em Itália, embora ele só esteja documentado a partir de 1410, pensa-se que já lá estaria desde o início do século XV, desde os primeiros anos. Nessa época, praticamente não existia escola de pintura em Portugal. O rei contemporâneo de Alvaro Pirez era o D. João I, que é o primeiro rei a ter pintores ao seu serviço, entre os quais, curiosamente António Florentim, um italiano que vem para cá na mesma altura que Alvaro Pirez vai para lá. O mais provável é que, se Alvaro Pirez já tivesse ido para Itália com uma formação como pintor, ela tivesse sido feita em Espanha, onde existiam grupos de pintores, inclusive italianos, como o Gerard Starnina, que influencia muito o estilo do Alvaro Pirez. Mas tendo em conta que as primeiras obras do Alvaro Pirez têm um estilo menos elegante, mais rígido e mais próprio da pintura de Pisa, com figuras mais monolíticas que parecem maciços escultóricos e com linhas mais retas, dá ideia de que ele possa ter tido uma aprendizagem precisamente em Pisa. Algo que caracteriza muito a pintura de Alvaro Pirez é a forma extremamente imaginativa, diversificada e rica como ele trabalha o puncionamento do ouro, e, por essa razão, houve quem apontasse a ideia dele ter ido daqui não com formação em pintura, mas com uma formação de ourives, que essa, sim, era uma arte bastante mais desenvolvida em Portugal na altura.
No retábulo da igreja de Santa Croce de Fossabanda, o pintor assinou como Álvaro Pirez d’Évora. Como foi comprovada essa origem?
Se ele o diz e foi ele que escreveu, temos que acreditar. É, de facto, a única referência a Évora que se conhece do Alvaro Pirez. Hoje em dia conhecem-se três obras assinadas pelo Alvaro Pirez, embora se saiba, por relatos antigos, que outros três conjuntos estão também assinados. Em todos, ele assina ou em italiano ou em latim, como no retábulo de Volterra, que é uma das peças que está nesta exposição. Esta obra de Fossabanda é a única em que ele assina em português, o que levou Reinaldo dos Santos, que viu a obra em 1921 e a publicou no ano seguinte, a considerar que seria uma das primeiras obras assinadas do Alvaro Pirez, dado que ali assinava em português e depois passou a assinar em italiano e em latim. Mas o que a crítica hoje considera, de uma forma mais ou menos unânime, e esta exposição mostra isso de uma forma cabal, é que essa obra do Alvaro Pirez é de tal forma evoluída e requintada que não podia ser uma das suas primeiras obras, mas sim uma das obras da sua fase madura. Por alguma razão, ou de sentimentalismo ou de imposição do mecenas, ele resolveu inscrever Alvaro Pirez d’Évora na pintura de uma forma tão visível que dá a ideia de que ele quis verdadeiramente assumir a sua nacionalidade e a sua proveniência.

As poucas mais de 50 obras do pintor que chegaram aos nossos dias pertencem ao período 1410-1434 em que trabalhou na Toscana, ou sabe-se de alguma obra que tenha sido criada fora desse período?
Nesta exposição recuámos um pouco a cronologia do Alvaro Pirez para o início do século XV. Ele deve ter estado em Itália, pelo menos, desde a primeira década do século XV até 1434 e certamente não morreu logo a seguir a fazer o retábulo, por isso é provável que a sua obra tenha continuado durante mais algum tempo. Há três obras muito parecidas, sendo uma delas aquela que foi comprada pelo Museu de Évora no início deste milénio. Até há muito pouco tempo a crítica datava-a de 1410, mas hoje pensa-se que tenha sido pintada entre 1400 e 1405 porque reflete, exatamente, esse estilo mais monolítico, mais pisano, que o Alvaro Pirez vai depois abandonar para dar início a uma pintura mais requintada e cada vez mais elegante.
Esta exposição enquadra-o nos grandes pintores toscanos do seu tempo. Em que é que a sua obra se distingue dos seus contemporâneos?
Essa pergunta é muito curiosa porque, vendo de fora, temos tendência a considerá-lo um típico pintor da Toscânia do gótico final. No movimento cultural desta época há uma geração de pintores novos que está a iniciar o Renascimento, enquanto uma outra geração continua a trabalhar dentro do mais refinado gótico final, que está no auge da sua pujança. A crítica italiana antiga e contemporânea tende a reconhecer sempre nas obras de Alvaro Pirez um exotismo que lhe advém do seu passado cultural na Península Ibérica e em Portugal. Alvaro Pirez tendia a pintar as suas virgens com os panejamentos à volta da cabeça em forma de turbante e a colocá-las sentadas no chão, em almofadões, com gosto pela joalharia. O pintor português utilizava cores intensas, jogando com cores opostas lado a lado, o que dão um carácter de individualização, sem perder essa essência de pintor italiano da Toscânia.
Onde se podem encontrar obras do pintor em Portugal?
Antes da exposição de 1994 não existia nenhuma. Mais tarde, quando eu era diretor do Museu de Évora, comprou-se uma obra que foi a primeira dele numa coleção pública portuguesa. Há dois anos, o Museu Nacional de Arte Antiga comprou outra, A Anunciação. Para além destas, há mais duas em coleções particulares, sendo que uma delas se encontra em depósito neste museu.
Qual considera ser a importância desta exposição em Portugal?
Esta é uma exposição que nos devia encher a todos de orgulho, porque mostra a importância de um dos primeiros portugueses a situar-se num contexto cultural internacional. A obra deste pintor está muito fragmentada e, pela primeira vez, temos a oportunidade de conhecer o grosso do seu trabalho, já que está aqui exposta mais de metade da sua obra conhecida, que anda à volta das 60 pinturas. Nas próximas décadas, dificilmente se fará outra exposição sobre Álvaro Pires com esta grandeza, onde estão reunidas peças vindas de oito países e de 40 emprestadores diferentes.
Quais são os principais desafios em dirigir o mais importante museu de arte do país num contexto económico-financeiro difícil?
Neste contexto, o mais difícil é, sem dúvida nenhuma, conseguir obter e adequar os meios que um museu necessita à missão que o museu tem em apresentar-se como uma instituição cultural de referência em Portugal, quer ao nível de recursos humanos, que são cada vez mais escassos, quer ao nível da crónica suborçamentação, quer mesmo ao nível da dignificação dos espaços. Até no seu próprio espaço o museu necessita de crescer, necessita que haja um projeto que o prepare para o século XXI. Aqui no MNAA é preciso que, nestes próximos anos, se faça o esforço necessário para ser corrigido o que têm sido décadas de suborçamentação e de sangria de recursos humanos e financeiros e dar, de uma vez por todas, a dignidade de grande museu de referência que o MNAA deve ter.
Falou em recursos humanos: pensa que a falta de técnicos qualificados de manutenção e restauro é um dos principais problemas?
Esse é, de facto, um dos problemas, mas não é o maior. Neste momento o maior problema é a chegada à reforma, nos últimos anos, de uma grande quantidade de conservadores das coleções, sem que haja substitutos para os mesmos. Os conservadores devem ter um conhecimento profundíssimo das suas coleções, que são já de si muito diversificadas, e por isso era imperativo que os substitutos dos que agora se reformam já estivessem no ativo para que pudessem ser formados entretanto. Se não houver mudanças significativas nesta área, o museu deixa de poder cumprir o seu papel.
Visitámos lojas de vestuário, calçado, cosmética, uma papelaria criativa, uma mercearia biológica e um espaço que, para além de ser um cabeleireiro sustentável, tem um café e uma loja amiga do ambiente. Em comum, têm a preocupação de agir hoje para garantir que haverá um amanhã.

Stró
A história da Stró começa em 2012, com o nome Agulha num Palheiro. Inicialmente dedicado a chinelos de retalhos, rapidamente o negócio de Cláudia Mateus cresceu, passando a produzir também mantas, cachecóis, chapéus, sacos e, mais recentemente, peças de vestuário. As matérias-primas utilizadas são todas sustentáveis, evitando materiais que dificultem o processo de reciclagem/compostagem. Os artigos da Stró são elaborados com pura lã virgem, lã churra, lambswool, algodão, linho e caxemira. Aqui não existe o conceito de coleção sazonal e todas as sobras de tecido são aproveitadas para elaborar artigos mais pequenos, evitando o desperdício. Os direitos dos trabalhadores são também uma preocupação da Stró, que paga aos seus funcionários ordenados acima da média e se preocupa em produzir em zonas do país com baixo nível de empregabilidade. Atualmente o negócio conta com três lojas: duas na Rua da Escola Politécnica, mais dedicadas aos produtos de linho, e a mais recente, na Rua de São Mamede, onde se encontram os artigos de lã.
Rua Nova de São Mamede, 66
216 089 620
www.by-stro.com

Azert
A Azert existe há cinco anos. Esta “papelaria criativa”, como a dona, Marta Borges, lhe chama, nasceu do desejo de ter um negócio próprio. Cansada de trabalhar na área da ótica, Marta resolveu instalar-se em Alvalade. Inicialmente, o projeto abriu portas no Centro Comercial Roma, tendo mudado, um ano depois, para a atual morada, na Rua Dr. Gama Barros, não muito longe da primeira. O espaço vende os mais variados artigos em papel, seja para crianças ou para adultos. Aqui encontra brinquedos, malas de cartão, puzzles, calendários, ‘scrapbooking’, papel de embrulho, papel para origami, paperdolls, agendas, etiquetas, máscaras de papel, balões, e muito mais. É tudo produzido com materiais reciclados (e recicláveis) amigos do ambiente. A ideia é reduzir a pegada ecológica e contribuir para um mundo mais verde.
Rua Dr. Gama Barros, 37 B
912 325 137
www.azert-paperstore.com/

Couve
Vasco Monteiro é o proprietário da Couve, uma loja de calçado vegan onde artigos de pele não entram. Vegetariano há 19 anos e de espírito empreendedor, foi numa viagem que fez a Nova Iorque que lhe inspirou a ideia para o negócio. Na altura ficou fascinado com o conceito de uma loja que visitou, a Mooshoes (loja de calçado livre de crueldade animal) e percebeu que podia trazer a ideia para Portugal, de uma forma mais personalizada. Seguiu-se então uma busca por fornecedores e marcas com que se identificasse mas que fossem, ao mesmo tempo, vegan, ou seja, que não usassem pele nos seus materiais. Ao contrário do que se poderia pensar, não foi assim tão difícil. A localização também não foi deixada ao acaso. A loja situa-se nos Anjos, uma zona a fervilhar com novos projetos alternativos e culturais. Aqui encontra calçado e acessórios como gorros, cintos, meias, cachecóis, mochilas e até livros de culinária vegan. A ideia de Vasco Monteiro, que tem cerca de 9 marcas diferentes no seu espaço, é “normalizar o consumo de produtos vegan”.
Rua Maria, 47 A
218 121 057
www.facebook.com/pg/couvelisboa

Armazém das Malhas
Tiago e Tomás Marques são dois irmãos que herdaram o negócio do avô, o Armazém das Malhas. O conceito surgiu em 1941, na Rua dos Fanqueiros, tendo passado, nos anos 60, para a zona dos Anjos, onde se mantém até hoje. A decoração vintage da loja tem tudo a ver com os produtos que ali se vendem, que são intemporais. Como o nome indica, aqui comercializam-se artigos de malha, desde camisolas, cachecóis, chinelos, meias, echárpes, mantas e gorros, mas também acessórios como cintos ou carteiras. Esta marca de comércio justo preocupa-se em reduzir a pegada ecológica, recorrendo a produção 100% nacional. Os materiais utilizados não são nocivos para o ambiente e não existe exploração de mão-de-obra. O segredo da longevidade, segundo os donos, é a sua relação qualidade/preço, que tem levado a loja a manter uma clientela fixa. Aqui encontra básicos de qualidade, práticos e versáteis, das mais variadas cores. Os produtos estão à venda na loja do Forno do Tijolo, mas também noutros pontos de Lisboa, ou em plataformas online no estrangeiro.
Rua do Forno do Tijolo, 50A
218 145 034
www.armazemdasmalhas.com/

Maria Granel
Foi em 2013, numa viagem a Berlim, que Eunice Maia e o marido Eduardo tiveram a ideia de abrir a Maria Granel. Encantados com a oferta de lojas deste género, o açoriano e a minhota perceberam que Portugal continuava a anos-luz dessa realidade, e decidiram trazer o conceito para cá. Dois anos depois, abria o primeiro espaço, em Alvalade. A ideia é recuar no tempo, para uma altura em que quase tudo se vendia a granel, evitando o desperdício e embalagens desnecessárias. Aqui vendem-se produtos biológicos de consumo consciente, desde café, a todo o tipo de cereais ou especiarias, sementes, gomas vegan, sal ou bolachas. A loja de Campo de Ourique, que abriu devido à necessidade de ter um espaço maior, dividide-se em dois pisos: no primeiro estão os produtos alimentares e, no piso de baixo, artigos de higiene pessoal e para a casa. Também há uma cozinha que serve de apoio aos workshops de macrobiótica e espaço para receber palestras de sensibilização. O objetivo da Maria Granel é despertar consciências e alertar para um consumo consciente, diminuindo o desperdício alimentar.
Rua Coelho da Rocha, 37
214 056 077
www.mariagranel.com/

Pikikos
Natasha Cálem abriu a Pikikos há cerca de um ano. Ligada à área da responsabilidade social e da sustentabilidade, quis abrir um negócio que fosse três em um: Cut, Care, Coffee, um espaço que é simultaneamente cabeleireiro, loja e café, tudo amigo do ambiente e do bem-estar animal. Para ter uma ideia, a água usada na lavagem dos cabelos é utilizada nas descargas do autoclismo, e o mobiliário é feito com materiais amigos do ambiente. Se não se importar de lavar o cabelo com água fria, recebe um café. A loja vende produtos de materiais orgânicos, como velas ou detergentes feitos a partir de óleo alimentar usado. Mas há também uma vertente social: o café de especialidade, feito à mão e de certificado biológico, promove o comércio justo; os artigos de decoração são feitos em bairros sociais na Índia ou no Nepal, e, ao fim de três cortes de cabelo da mesma criança, é oferecido um a uma criança de uma IPSS. Este é o único espaço do género em Lisboa, mas Natasha pretende abrir mais. O objetivo é ser uma plataforma de sustentabilidade que ajude causas sociais e ambientais.
Rua 4 Infantaria, 53C
1350-243
917 849 132
www.facebook.com/PikikosCutCareCoffee/

Organii
A Organii surgiu há cerca de 11 anos, fruto de uma necessidade. Cátia Curica, farmacêutica de formação, sofria de diversas alergias. Depois de experimentar produtos biológicos adquiridos no estrangeiro e de ter percebido que isso fazia a diferença, decidiu, juntamente com a irmã, Rita, abrir em Lisboa um espaço ‘bio’. Nascia, assim, a Organii, uma marca de cosmética biológica que vende cremes, champôs, desodorizantes, sabonetes, maquilhagem e produtos de higiene oral, tudo livre de corantes e conservantes sintéticos ou aditivos químicos. Quando ficou grávida, Cátia decidiu abrir um espaço especificamente para bebés, com produtos de higiene, brinquedos ecológicos e roupa de algodão orgânico. A Organii vende sobretudo marcas internacionais, tendo criado, recentemente, a sua própria marca, a Unii, que produz produtos sólidos como sabonetes, champôs e até pasta de dentes. A primeira loja das duas irmãs abriu no Chiado, em 2009. Seguiram-se Alvalade, a LX Factory, o Príncipe Real e o Porto, mas a ideia é abrir espaços noutras zonas do país.
Lx Factory
Rua Rodrigues de Faria, 103
218 218 519
https://organii.com/
Em janeiro, o Coliseu recebe oito espetáculos de Madonna e o Campo Pequeno serve de palco a concertos de James Arthur e Keane. No mês seguinte, Devendra Banhart atua em dose dupla no Capitólio e a Aula Magna acolhe os Tindersticks.

Em março, os americanos Cock Robin atuam no Coliseu para um público nostálgico. Abril traz Nick Cave and The Bad Seeds e Bon Iver à Altice Arena. E maio é um mês de grandes concertos: o britânico Michael Kiwanuka atua no Campo Pequeno, os alemães Alphaville no Coliseu, e Harry Styles na Altice Arena.
Em junho, é a vez de rever James Blunt no Campo Pequeno e, em julho, a escolha promete ser difícil: a Altice Arena recebe os Kiss, os Aerosmith e Lenny Kravitz.

Fora de portas, mais especificamente no Passeio Marítimo de Algés, e antes da entrada em cena de um NOS Alive estrelado por Kendrick Lamar,Taylor Swift, Billie Eilish ou Faith No More, 20 de maio é a data de arranque da segunda fase da digressão europeia da Not In This Lifetime Tour dos Guns n’ Roses.
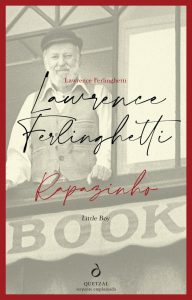
Lawrence Ferlinghetti
Rapazinho
Publicado em 2019, aos 100 anos de idade, Rapazinho constitui uma espantosa manifestação de vitalidade criativa. Lawrence Ferlinghetti é o decano dos poetas americanos e um dos membros mais importantes da Geração Beat. Considerado o seu testamento literário, este é um livro sobre a memória, descrita pelo escritor como: “uma ampulheta e quando a viramos todos os grãos de areia da vida passada fluem por ela confundindo-se as areias do tempo recentes e antigas todas aleatoriamente misturadas”. Por isso, esta obra torrencial e estimulante é, simultaneamente, autobiografia, recordação, balanço de vida, evocação de um universo literário, reflexão última sobre o sentido da existência, sonho, profecia… Como escreve o autor: “E isto não é nenhum romance é uma espécie de epifania contínua a que o tempo dará clareza (…) não há aqui história para um romance porque também não há na vida, há apenas a hesitante construção das palavras entre o sono e a vigília”.
Quetzal
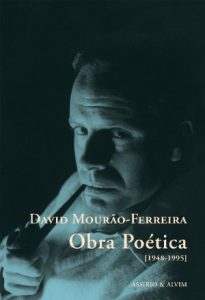
David Mourão-Ferreira
Obra Poética
Num poema que evoca os seus quarenta anos de poesia, David Mourão-Ferreira (1927-1996) escreve: “Já dez anos vezes quatro / deste meu órfico ofício”. “Órfico ofício” porque, como salientou Eduardo Prado Coelho, a poesia de David Mourão-Ferreira é, acima de tudo, “celebração da própria poesia”. E assim foi, desde 1948 com o início de uma “Secreta Viagem” inscrita sob o signo de Eros, dando, nas palavras do poeta, “primazia à alusão, à sugestão, à imaginação”. Na realidade, o corpo feminino surge como tema central da sua obra (“Esta mulher / no centro/ do corpo traz uma ilha”). Poesia do erotismo, mas que apresenta outros temas marcantes: a Itália e a cultura clássica de Roma (no poema Ar de Itália: “Mesmo que seja só de passagem / esta é a brisa que me renova”); a fugacidade do tempo (“E por vezes ah por vezes / num segundo se evolam tantos anos”); a memória e o esquecimento (“Há de vir um Natal e será o primeiro / em que nem vivo esteja um verso deste livro”). Da presente obra, organizada e revista por Luis Manuel Gaspar com a colaboração de David Ferreira, fazem parte todos os livros e conjuntos de poemas organizados e publicados pelo autor e a sua obra posterior: Lisboa – Luzes e Sombras (1992), Música de Cama (1994), e Rime Petrose, cinco sonetos publicados na revista Colóquio/Letras em janeiro de 1995. Inclui ainda o Cancioneiro de Natal, iniciado em 1960 e que o autor considerava uma “obra “aberta” ou “em suspenso”, e agora concluído com um poema de 1995, Som de Natal.
Assírio & Alvim

Michael Palin
Diário da Coreia do Norte
Michael Palin foi um dos membros fundadores do célebre e inovador grupo de comédia Monty Python. A partir do final dos anos 80 iniciou uma segunda brilhante carreira como escritor e autor de séries de viagens. Em 2018, partiu à descoberta da República Popular da Coreia para uma série a transmitir pela ITN e o Chanel 5. Este livro é o diário dessa viagem “fora do comum”. É um relato sem preconceitos, honesto e de grande humanidade, mais revelador do que muitas análises pretensamente políticas ou sociológicas. Palin retrata os norte-coreanos como “enclausurados num sistema que exige lealdade inquebrantável, mas oferece em troca segurança, e em cujos limites estreitos alguns têm a possibilidade de desfrutar da vida e prosperar”. Aqueles que conheceu, ao longo de quinze dias de viajem, vivem o quotidiano “não alquebrados ou vergados, mas orgulhosos do seu país e satisfeitos por nos interessarmos pela sua forma de vida”. Os leitores que desejem ter um vislumbre do dia-a-dia na secretista Coreia do Norte, encontrarão em Michel Palin o guia mais compreensivo.
Bizâncio

James Baldwin
Se o Disseres na Montanha
James Baldwin (1924/1987) fez parte, com Ralph Ellison e Richard Wright, de uma geração de escritores negros que, no pós-guerra, exploraram o tema da raça como questão fundamental para a identidade da América. Romancista, ensaísta, poeta e ativista dos direitos civis, foi, com Gore Vidal, um dos mais lúcidos espíritos críticos que a América produziu no século XX e um dos seus maiores intérpretes. Se o Disseres na Montanha é a obra mais pessoal de Baldwin (“Se só pudesse escrever um livro na vida, seria este”), um violento requisitório contra o papel repressivo da religião. O autor foi triplamente discriminado pelo racismo e pela igreja, como negro, homossexual e ateu (pregador entre os 14 e os 17 anos, experiência que lhe inspirou este romance, Baldwin perdeu a fé na idade adulta). A figura do pai, ministro da Igreja Pentecostal, hipócrita, fanático e prepotente, personifica a domínio da religião contra a qual o jovem protagonista se insurge em busca da sua identidade e da liberdade moral, emocional e sexual.
Alfaguara
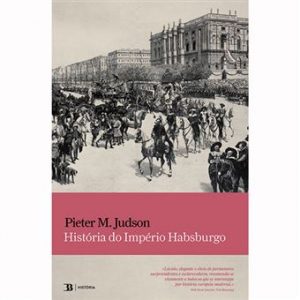
Pieter M. Judson
História do Império Habsburgo
Pieter M. Judson é professor de História Moderna no célebre Instituto Universitário Europeu, em Florença. Tem centrado a sua investigação na história europeia moderna, séculos XIX e XX, nos conflitos nacionalistas e nos movimentos sociais revolucionários. Recebeu em 2011 o Prémio Nina Maria Gorrissen, de História, da Academia Americana de Berlim, bem como, em 1997, o Prémio da Associação Histórica Americana e o do Instituto Cultural Austríaco, pela sua obra Exclusive Revolutionaries: Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire 1848-1914. Na presente obra historia a dimensão e a pluralidade do Império Habsburgo que, durante séculos, conseguiu governar um conjunto invulgar de povos e territórios em diferentes estágios de desenvolvimento, com credos diferentes e dezenas de línguas. Porém, as revoluções de 1848 e as aspirações da população, inflamadas por movimentos nacionalistas, e as várias guerras (a de 14-18 em particular), levaram à desagregação do Império e à criação de vários Estados. Ironia derradeira, na sua maioria, os Estados resultantes desta desagregação acabaram por replicar o modelo imperial: territórios multilingues, por vezes conquistados pela força, com várias minorias étnicas.
Bookbuilders

A Igreja de São Cristovão de Lisboa
A Igreja de São Cristovão resistiu particamente incólume ao Terramoto de 1755,conservando um espólio artístico de valor inestimável. O templo é um notável exemplo da arte total do barroco Português que alberga pintura, talha, imaginária, mobiliário litúrgico e outras artes, remanescências de um singular programa integral datável da época áurea de D. Pedro II, o final do século XVII e o início do século XVIII. Nascido de um movimento comunitário exemplar, o projecto “Arte por São Cristóvão”, mobilizou artistas, população, instituições públicas e associações locais em torno da belíssima igreja com o objetivo de angariar fundos para a urgente intervenção de que carece. A presente publicação insere-se nessa campanha e tem como local exclusivo de venda a Igreja de São Cristovão. As receitas revertem integralmente a favor das obras de restauro do edifício.
Câmara Municipal de Lisboa
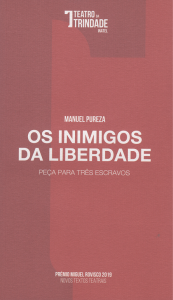
Miguel Pureza
Os Inimigos da Liberdade – Peça para Três Escravos
Estreada no passado mês de novembro no Teatro da Trindade, a peça de estreia de Miguel Pureza, nome reconhecido pela realização de séries de televisão e da curta-metragem A Bruxa de Arroios, distinguida com o Prémio MoteLx em 2012, surge agora publicada em livro. Vencedora da edição 2018/2019 do Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais, iniciativa anual da Fundação INATEL com o fim de promover e estimular novos autores para a escrita de textos originais para teatro em língua portuguesa, Os Inimigos da Liberdade – peça para três escravos é, segundo o autor, uma alegoria sobre “uma ditadura sem rosto”. Partindo do mito de Sísifo, o antigo monarca condenado eternamente a carregar uma pedra até ao cimo do monte, o texto acompanha a tragédia de três homens agrilhoados a uma pedra gigante, que puxam sobre as areias do deserto num círculo infinito. Excedendo as barreiras do tempo e do espaço, os homens acabam por esquecer quem são e, no dia em que se libertam das correntes, debatem-se com um conceito com o qual não sabem lidar: o da liberdade. FB
Inatel

Charles R. Cross
Mais Pesado do que o Céu – A biografia definitiva de Kurt Cobain
A 5 de abril de 1994, com 27 anos, Kurt Cobain pôs fim à vida, inscrevendo o seu nome num panteão de ícones rock onde já figuravam Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou Jim Morrison que, com a mesma idade, deixaram o mundo dos vivos. 25 anos depois, o jornalista Charles R. Cross lança aquela que é “a biografia definitiva” do líder dos Nirvana, depois de em 2001, por ocasião dos 10 anos do lançamento de Nevermind, ter publicado uma primeira versão. Suportada por mais quatro anos de intensa investigação e centenas de entrevistas, Ross decifra, ao longo de meio milhar de páginas, esse “puzzle complicado” que foi a vida de Cobain desde o nascimento em Aberdeen, Washington, até ao suicídio, ocorrido na efervescente capital do grunge, Seattle. Construída como espelho de uma época – ou não tivesse Cobain sido, provavelmente, o último grande rocker do “mundo analógico” – Mais pesado do que o céu (título retirado do slogan usado na digressão inglesa dos Nirvana e dos Tad, em 1989) é uma obra essencial para os fãs do criador de Smells like teen spirit. FB
Pim! Edições
Como surgiu a ideia de fazer um filme sobre os primeiros tempos da maternidade?
Comecei a pensar fazer um filme sobre este período quando estava a passar por ele. Quando fui mãe, embora não tenha gozado o tempo oficial da licença de maternidade, achei que era uma altura muito particular. Talvez por ser inverno, havia uma certa reclusão: o espaço da casa, os dias pautados pelas visitas e pela presença da minha mãe que me ajudava com o bebé. Todos aqueles visitantes estavam envolvidos naquele espaço de intimidade enquanto eu dava de mamar. Falavam das suas vidas e havia quase um lado confessional. Era uma verdadeira troca. Esse momento que estava a viver era uma espécie de cápsula do tempo e achei muito interessante a ideia de fazer um filme a partir desse ponto de escuta: uma mãe, enquanto dá de mamar, ouve uma série de histórias que têm ligação àquela vida que está ali a começar.

Como chegou ao casal presente no filme?
A ideia era prévia à experiência deles e havia um dado adquirido para o trabalho: teria de ser feito com uma mãe a amamentar. Conhecendo a Marta [Lança] e a abertura dela, e estando ela grávida, achei que seria a pessoa que procurava. Depois deu-se um processo que foi discutido e falado em diversos momentos. Penso que a Marta estava mais disponível do que o Pedro [Castanheira], uma vez que ele não me conhecia. Mas, com o tempo, fomos estabelecendo uma forma de fazer o filme, bastante adaptada à realidade que eles estavam a viver e que implicava rotinas de trabalho muito suaves.
Porque não recorreu a atores?
Ainda pensei nisso, mas teria de ser uma atriz que estivesse grávida. Seria bastante complicado fingir essa realidade.
Houve algum tipo de direção?
Houve sempre direção. O filme é feito totalmente com as ferramentas do cinema de ficção.
O filme é uma ficção, mas no fundo o dia a dia destas pessoas é real. Como distingue a fronteira entre o documentário e a ficção?
É um processo que estou ainda a delapidar. Não me interessa nada apagar as condições do real em que vou fazendo os meus filmes, ou impingir uma psicologia às personagens que não é a delas. Interessa-me muito trabalhar as histórias das próprias pessoas, fazendo talvez algumas sínteses, algumas elipses, alguns elementos de composição para contar essas histórias. Tenho tentado apurar os meus próprios meios que são um acumular de experiências, e o facto de filmar com alguma regularidade permite que neste processo os filmes vão trazendo coisas de uns para os outros.
O seu trabalho tem sempre por base a realidade, mesmo quando se trata de um trabalho ficcional. É este o registo que mais lhe interessa?
Quando comecei a filmar foi na lógica do documentário, de um cinema mais observacional. O Tempo Comum é o primeiro filme em que trabalho os textos. Trabalho as histórias que as pessoas me transmitem, transpondo essa oralidade para o plano. Interessa-me explorar linhas mistas, projetos em que não tenha de definir previamente um estilo. Talvez queira assegurar coisas que têm mais a ver com o trabalho de ficção, como ter os atores disponíveis para o trabalho de um filme.
Seria então mais fácil trabalhar com atores profissionais?
Do ponto de vista do resultado, acho que não é mais fácil. Mas no sentido da disponibilidade física e temporal de um ator profissional, sim. Preciso dessa disponibilidade, nesse aspeto é mais fácil do que trabalhar com uma pessoa que tem outra vida profissional para além do filme. Porém, o facto de não serem profissionais não é a questão.

A meio do filme há um confronto entre o passado e o presente do país, que é feito através da história de duas personagens: uma vizinha idosa que vive no Alentejo e um tio que esteve na Guerra do Ultramar. As histórias dessas pessoas surgiram naturalmente ou foram intencionais?
Eu gostava que no filme estivesse presente a ideia de como os filhos, os bebés, eram criados num certo passado não assim tão longínquo. E que houvesse um contraste com a ideia contemporânea de uma mãe da cidade fechada num apartamento. Encontrei a Maria de Jesus, uma vizinha da Marta, no monte alentejano onde eles passam algumas temporadas, e resolvi filmar a cena onde ela fala das dificuldades que as mães tinham no tempo em que era nova. Relativamente ao tio da América, o Joaquim é alguém que não faz parte da vida da Marta e que eu trouxe para o filme. A presença dele tem muito a ver com um lado meu que gosta de compilar histórias e factos, sem ter propriamente uma intenção ou uma ligação ao que se está ali a passar.
Já existem projetos para o futuro?
Estou acabar a montagem do meu próximo filme que se chama No Táxi do Jack, que é feito com o Joaquim, o tio americano no Tempo Comum. É um filme sobre amizade em tempos adversos. Para o próximo ano, conto preparar também uma longa-metragem de ficção que se chama Cidade Rabat.
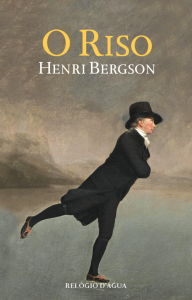
Henry Bergson
O Riso
O filósofo Henry Bergson, Prémio Nobel de Literatura de 1927, opôs-se ao positivismo e ao materialismo desenvolvendo uma análise crítica do conhecimento fundamentada nos conceitos de memória, duração e intuição. Ao adoptar a biologia, a fisiologia e a psicóloga como bases do seu pensamento influenciou várias áreas da criação artística como o cinema e a literatura (Marcel Proust incluiu na sua obra monumental Em Busca do Tempo Perdido conceções de Bergson sobre a memória). O presente livro reúne três artigos sobre o Riso, analisado através do método que consiste em determinar os “processos de fabricação “ do cómico e, ao mesmo tempo permite descobrir qual a intenção da sociedade quando ri. O autor escreve que não pretende responder às interrogações sobre o significado do riso visando “encerrar numa definição a fantasia cómica. Vemos nela, antes do mais, algo de vivo. Tratá-la-emos, por muito leve que ela seja, com o respeito que devemos á vida. Limitar-nos-emos a vê-la crescer e desbrochar.”
Relógio D’Água

Paulo José Miranda
Um prego no Coração
Natureza morta
Vício
Em 1999, Paulo José Miranda tornou-se o primeiro vencedor do Prémio José Saramago com a novela Natureza Morta, reeditada neste volume, 20 anos depois. Escreve poesia, ficção, teatro e ensaio e publicou recentemente uma biografia de Manoel de Oliveira, A Morte não É Prioritária. O presente livro, de requinte gráfico assinalável, com belíssimas ilustrações de Tiago Albuquerque, reúne os três primeiros romances do autor, através dos quais procurou penetrar, em linguagem límpida e pensamento fino, os meandros da criação a partir de três artistas de grande relevo, dois poetas e um músico: Cesário Verde, João Domingos Bomtempo e Antero de Quental. Mais do que uma trilogia de recorte histórico, estes textos escritos em diferentes estilos – epistolar, narrativo e diarístico – mergulham na relação dos autores com as suas próprias obras e com as interrogações que nelas expressam.
Abysmo

Michel Pastoureau
Vermelho
O presente livro é o quarto de uma série em curso iniciada com Azul (2000), Preto (2008) e Verde (2013).Um quinto deverá suceder-lhes, dedicado ao amarelo. Á semelhança dos anteriores, é um livro de história que estuda o vermelho nas sociedades europeias, do paleolítico aos nossos dias, sob todos os seus aspectos, do léxico aos símbolos, passando sobre a vida quotidiana, pelas práticas sociais, pelos saberes científicos, pelas aplicações técnicas, pelas morais religiosas e pelas criações artísticas. Segundo o autor, o vermelho é a cor arquetípica, a primeira a ser reproduzida pela humanidade em pinturas parietais e adornos corporais. Vinculado ao fogo e ao sangue desde épocas remotas, é a cor do Graal e do amor nos romances de cavalaria. Será também a cor dos proscritos, das forças do mal, indiciando perigos e interdições. Marginalizado por Newton e renegado pela Reforma protestante, perde o seu estatuto de primeira cor e torna-se demasiado vistoso, e até imoral. Permanecerá, no entanto, como a cor do erotismo, da alegria e da revolução.
Orfeu Negro

José Luandino Vieira
Luuanda
O escritor José Luandino Vieira estava preso há quatro anos no Tarrafal quando, Em 21 de Maio de 1965, a Sociedade Portuguesa de Escritores deliberou atribuir-lhe o Grande Prémio de Novela, pela sua obra Luuanda. Nessa mesma noite a sede da SPE foi assaltada e por elementos da PIDE e da Legião Portuguesa. Nessa mesma data, o Ministro da Educação Nacional, extinguiu a Sociedade Portuguesa de Escritores. “Fechou os olhos com força, com as mãos, para não ver o que sabia, para não sentir, não pensar mais o corpo velho e curvado da vavó, chupado da vida e dos cacimbos, debaixo da chuva remexendo com as suas mãos secas e cheias de nós os caixotes de lixo dos bairros da Baixa”. Este pequeno excerto da obra é revelador da rutura que causou ao estabelecer uma norma angolana, distinta da portuguesa, na escrita e representação cultural, através do recurso a uma mistura de português e inúmeras palavras e expressões em quimbundo que recriavam a oralidade da linguagem da vida real. Luuanda reúne três contos sobre o tema da sobrevivência nos musseques angolanos, os bairros pobres da cidade.
Caminho

João Eduardo Ferreira e Paulo Romão Brás
O Ciclo Curvo das Noites
Fundada em 2017, de periodicidade eventual, a revista A Morte do Artista tem ilustrado temas como A Queda, O Outro e A Mentira. Nos três números já editados homenagearam-se Mário de Carvalho, Gonçalo M. Tavares e Lídia Jorge, que contribuíram com textos inéditos. E publicaram-se textos de escritores como Adolfo Luxúria Canibal, Aldina Duarte, Carlos Bessa, Hugo Mezena, Nuno Moura, Rita Taborda Duarte, Yolanda Castaño, entre outros. A Morte do Artista estreia-se agora como editora ao publicar O Ciclo Curvo das Noites, obra que reúne 34 poemas e um texto de João Eduardo Ferreira e 16 trabalhos gráficos de Paulo Romão Brás. A obra alterna poemas intimistas e poemas que revelam a veia satírica do autor (Elevante, Carta a uma Senhora, Dilema, Definir Estratégias). Possui, sobretudo, o condão de relembrar que toda a boa poesia, como a vida, tem segredos por desvendar e que só aprendemos a disfrutá-la plenamente quando renunciamos a decifrá-los. Como escreve o poeta: “Se não houvesse segredos, / na prática poderíamos dispensar até a própria vida.”
A Morte do Artista
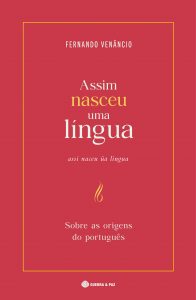
Fernando Venâncio
Assim Nasceu uma Língua
Formado em Linguística Geral e docente de língua e cultura portuguesas nas universidades holandesas de Nimega, Utreque e Amsterdão, Fernando Venâncio considera a Língua portuguesa “um idioma em circuito aberto”. Para o provar recua à época em que o idioma se formou orientando-nos numa caminhada que toca a língua galega ou o português brasileiro, evidenciando as profundas derivas que lhe deram forma. Para o autor falar da história da língua portuguesa é falar das origens, influências, elasticidade e ainda das derivações que resultaram, por exemplo, no português do Brasil. Do polémico Acordo Ortográfico de 1990, Fernando Venâncio garante que foi, no mundo real, um devaneio inútil e dispendioso. No mundo real, português brasileiro e português europeu acham-se num processo de afastamento irreversível em todos os aspectos do idioma. Ao autor, nunca deixaram de inquietar as formas e as estruturas da sua língua materna, e também os processos históricos na origem delas. Assim Nasceu Uma Língua é o relato, simultaneamente apaixonado e rigoroso, dessa inquietação incessante.
Guerra & Paz

Diogo Rocha e Mário Ambrósio
Queijaria do Chef
Perú ou bacalhau? Eis o dilema incessante do jantar de consoada. Independentemente da escolha, numa mesa portuguesa não pode faltar a tábua de queijos nacionais: a variedade é grande e a qualidade excepcional. O presente guia destaca os queijos de território nacional certificados com a designação de DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida), acrescentando ainda alguns queijos, seleccionados pelo Chef, de regiões como a Madeira e o Algarve. A acrescentar às características, método de produção, sugestão de petisco e harmonização com vinho de cada queijo, encontrará mais de 50 receitas em que poderá utilizar os melhores queijos portugueses. Passando pela facilidade com que preparamos qualquer refeição com queijo sem que tenhamos de cozinhar, limitando-nos a fatiá-lo acompanhando-o com pão, fruta, bolachas ou salada, até às receitas mais sofisticadas, incluindo vieiras ou lavagante, sem esquecer as apetitosas sobremesas, este livro constitui um eloquente tributo a um dos maiores tesouros gastronómicos do nosso país: os seus queijos.
Casa das Letras
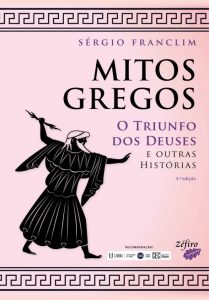
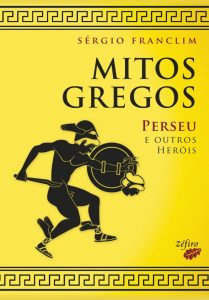
Sérgio Franclim
Mitos Gregos
O Triunfo dos Deuses
Perseu e Outros Heróis
“O mito é o nada que é tudo”, escreveu Fernando Pessoa na Mensagem. O poeta lembra-nos que apesar do mito não passar de uma explicação fantasiosa do real, mais do que o facto histórico concreto, possui um estatuto criador: é ele que “fecunda” a realidade, são as suas possibilidades criadoras que dão sentido ao real. De facto, é possível definir melhor um povo pelos seus mitos do que pela sua História. Quando pensamos na civilização clássica grega, são os deuses do monte Olimpo que imediatamente lembramos, mais do que os acontecimentos históricos da época. Recordamos o conjunto de histórias protagonizadas por figuras que conjugam características inerentes da personalidade humana e das forças da natureza e que propõem uma explicação para o surgimento do Universo e da vida. Nestes dois livros, Sérgio Franclim apresenta aos mais novos, de forma acessível mas rigorosa, as aventuras e desventuras destes heróis grandiosos, deuses e semideuses que espelham os comportamentos, os anseios e medos dos simples mortais. Estas duas obras cumprem uma nobre função que tem mais de dois mil anos: de geração em geração, fecundam a imaginação dos leitores ajudando-os a compreender o mundo a que pertencem através da gloriosa herança do passado.
Zéfiro
No texto de apresentação do espetáculo refere que o título é uma provocação, “porque deixa o espectador desconfiado”. No final, acha que Canja de Galinha (com miúdos) conseguirá curá-lo da desconfiança?
Espero que aconteça qualquer coisa semelhante ao que sucedeu em Viseu, quando lá apresentei Ermafrodite [espetáculo-conferência com Guilherme Gomes e João Reixa, exibido em junho]. Houve uma espectadora que veio ter comigo e perguntou-me: “Ó Luís Miguel, o que é que é isto?” E eu fiquei muito contente com essa reação.
Porquê?
Porque acho que se entrou num sistema em que os espetáculos já estão previstos antes de se fazerem, parecendo quase todos encomendas. Este é a tentativa de fazer o contrário. Canja de Galinha (com miúdos) pretende ser um espetáculo muito colado aos atores, tendo em conta o ponto de vista deles quando pegam num texto, deixando que se perceba todo o processo imaginativo que possa surgir a partir de um espetáculo de teatro. Algo que não seja previsível, algo que seja pessoal. É teatro, não a mera produção de um produto…
Apesar de agora vermos recorrentemente a utilização do termo “produto cultural”…
Exatamente. Os programadores, e por detrás deles o dinheiro, é que gerem a atividade. Portanto, quem vai fazer o espetáculo tem que cumprir as previsões, tem de lhe dar determinadas características, tem de ter em conta um tempo de duração predefinido, tem de apresentar determinados nomes no cartaz, tem de saber que não tem dinheiro para cenários ou guarda-roupa… Ou seja, dá-se-lhe uns ingredientes que permitam fazer receita, e eu acho tudo isso muito contrário à natureza do teatro.
Parece-lhe que a culpa é dos programadores?
Não culpo propriamente os programadores, porque eles não são autores, são “profissionais de escritório”. A tirania dos números é que manda e o público acorre às salas porque se sente bem como consumidor. E isso quer dizer que é manipulado para ser passivo enquanto espectador. Tudo porque hoje a vida cultural é, também ela, passiva.
Então, este espetáculo vem contra todas estas tendências?
Aquilo que tenho tentado fazer após o fim da Cornucópia são experiências de relação diferente com o espectador. Acho que o principal num espetáculo é o que se gera de extraordinário entre o público e o espetáculo em si. O fenómeno teatral tem a ver com a plateia. Como artista, aquilo que desejo para o público são maneiras não previstas de pensar, fazer acontecer surpresas que façam funcionar a imaginação das pessoas como outras coisas não fazem, que deem uma experiência de vida, de pensamento, de relação com o mundo fora do habitual. Exatamente o oposto àquilo que normalmente se faz. O público não devia ser consumidor, devia ser autor. E é aquilo que proponho com Canja de Galinha (com miúdos)…
Um título algo desconcertante.
Que até poderia ser “puré de batata”! [riso]
Ou seja, quis emprestar-lhe um toque gastronómico…
É uma brincadeira com o consumo, o do estômago. Aqui é para comer bem, e com uma receita tradicional. Mas, na verdade, é um espetáculo sobre as relações entre as pessoas, mais especificamente, as amorosas.
Para isso, foi buscar o Camilo dramaturgo, faceta quase desconhecida do grande romancista.
É verdade. Estranhamente pouco conhecido, raramente representado, apesar de ter escrito bem mais de uma dezena de peças, que podem ser encontradas na net, gratuitamente. Aliás, foi assim que descobri esta parte da obra do Camilo. Coisas muito engraçadas, de todos os géneros, incluindo musicais, com temas tradicionais portugueses, melodramas, uma peça histórica… Como se vê, a internet não tem só defeitos, também por lá há virtudes.
O Luís Miguel parte de duas peças: Entre a Flauta e a Viola e Patologia do Casamento…
A primeira é uma farsa, cujo título tem uma ambiguidade fonética muito engraçada. Trata-se da história de um pai que vai levar a filha para casar, pernoitando numa estalagem, em Barcelos. Preocupado com os riscos que a filha possa correr, tenta prendê-la num quarto. Entretanto, aparecem umas personagens que vão cobiçar a rapariga. O que está em causa é a expetativa do amor e do casamento para aquela jovem mulher…
E a segunda?
Ora, eu criei uma associação entre as peças. Imaginando a cabeça da rapariga perante o mundo que a espera, introduzi Patologia do Casamento, também um título engraçadíssimo. A peça faz um retrato das relações sociais das meninas burguesas, com toda a hipocrisia da sociedade daquela época. Camilo era muito interventivo na defesa da liberdade feminina e do amor verdadeiro, e quando trata desses assuntos é muito violento, mostrando um mundo de futilidade e mentira. Tudo isto é tratado no espetáculo como que num mundo imaginário da rapariga da outra peça. No conjunto, quis abordar as relações humanas e o modo como a sociedade castra a possibilidade de amar. Até no matrimónio.
Camilo é um autor de eleição?
O gosto pelo Camilo ficou-me muito do contacto com o Manoel de Oliveira. Por sinal, apenas participei numa das obras que fez a partir do universo do Camilo, um filme muito bonito chamado O Dia do Desespero. Em tempos fiz também uma leitura integral do Amor de Perdição, que está gravada. É um autor de que gosto muito. Lembro que em tempos os professores nos liceus costumavam perguntar “de que autor gosta mais: do Camilo ou do Eça?” Eu não tenho qualquer dúvida de que gosto muito mais da violência do Camilo, daquela verborreia genial, daquele domínio incrível da língua portuguesa, muito colorido. Muito mais do que daquela coisa civilizada e palaciana do Eça de Queiroz.

O espetáculo vai ser apresentado, aqui, no Museu da Marioneta. Teve em consideração este espaço e a temática?
Sim. Vamos fazê-lo numa sala muito simpática, a antiga capela do palácio, com a estrutura das paredes e as pinturas intactas. Isso encantou-me, e abriu caminho para fazer do vício virtude, como aliás é costume. Ou seja, como há falta de dinheiro para fazer um espetáculo luxuoso decidi-me por um que parecesse improvisado, que tivesse um ar artesanal. Acho que fica muito bem com as marionetas, para além de remeter para as recordações de infância e para as muitas peças de marionetas que fiz. Depois, como no texto há um jogo com as figuras de Adão e Eva, ocorreram-me os Bonecos de Santo Aleixo e o Auto da Criação do Mundo, por sinal, marcantes no meu imaginário. No final, faço uma referência direta, com a intervenção de uma réplica do Adão, que, pondo os cordelinhos à vista, expõe a manipulação das pessoas numa peça teatral. É um jogo completamente livre na utilização dos objetos e na atuação dos atores, tentando repescar aquilo que é mais lúdico no teatro: “brincar”.
Sendo assim, o espaço permeabiliza o espetáculo…
Não posso estar a competir com a própria Cornucópia, com o tempo em que eu e a Cristina Reis [cenógrafa e codiretora da companhia] tínhamos uma casa. Por isso, tenho que criar uma realidade fingida, exigindo a mim próprio fazer coisas com sentido. Isto é, faço espetáculos de acordo com as salas e, para mim, isto não é um teatro, é uma antiga capela, hoje, o auditório do Museu da Marioneta.
O espetáculo é produzido por uma jovem companhia do Montijo, a Companhia Mascarenhas-Martins, com que já havia trabalhado em Um D. João Português. Como surgiu esta relação?
Conheci o Levi Martins [codiretor da companhia] quando ele era jornalista, no decorrer de uma entrevista que me fez. Encantou-me a maneira como falámos e entendemo-nos muito bem. Soube que ele se interessava por estas coisas do teatro e que tinha uma estrutura no Montijo. Foi quando me propôs que trabalhássemos em conjunto. E assim foi: quase a seguir ao fecho da Cornucópia conseguimos fazer Um D. João Português, projeto ambicioso que precisou de alguém com grande capacidade e interesse para fazer a produção, uma vez que envolvia várias estruturas locais e tinha uma logística complexa. O Levi diz que foi uma experiência fundamental para ele, e eu quis continuar esta relação. Por isso, confiei-lhes a execução disto tudo.
E com o Montijo? Já estabeleceu alguma relação?
É uma terra especial. Tão perto e tão longe de Lisboa. Agrada-me a vida das associações e das filarmónicas, muito intensa. E eu gostaria de me envolver nisso. O presidente da câmara de lá sabe que eu gosto de touradas e já o desafiei para, um dia, me deixar fazer um espetáculo na praça de touros. Tem é de ser no verão. [riso]
Já voltou à sua antiga “casa”, o Teatro do Bairro Alto desde a reabertura?
Não sei se lá irei tão depressa.
Razões sentimentais?
Não, não. É desconcerto mesmo. Passaram-se coisas que deixaram uma ferida muito grande e que prefiro nem falar. Há um lado absurdo e de injustiça, não para connosco, mas, sublinho, para com o público. Era uma casa de espetáculos única, a última onde ainda se faziam cenários, guarda-roupa… De um momento para o outro, tudo se desmantelou e, hoje, tem um objetivo oposto ao nosso. Se começo a falar nisso fico mal disposto…
… Não quero que perca o seu bom humor. Mudemos de assunto… Ainda vai regularmente ao teatro?
Ir ao teatro é uma decisão difícil de integrar na vida das pessoas e, quando se vai, deve ser para ver uma coisa excecional. Embora fisicamente me custe estar sentado tanto tempo, não tenho tido propriamente o desejo de ver nada. Quando o faço, opto por coisas mais marginais, normalmente fora das grandes instituições.
Houve algum espetáculo visto recentemente que lhe tenha agradado?
No outro dia fui a um que, em princípio, seria o mais institucional possível. Fui ao CCB ver o Bob Wilson e a Isabelle Huppert [Mary said what she said, integrado no Festival de Almada], e adorei. Aquilo era da primeira linha do circuito comercial-cultural, mas a entrega de uma atriz como a Huppert foi absolutamente extraordinária. Revoltou-me foi o snobismo saloio de alguns comentários que ouvi, de que “o Bob Wilson é sempre igual a si mesmo”, de que “a Huppert está muito vista”… é preciso uma lata para dizer coisas destas! Aquilo é uma obra-prima.
Tem projetos para o futuro?
Aquilo que me vai ocupar depois deste espetáculo é um filme sobre mim que vai ser feito pela Sofia Marques. Ela realizou Ilusão, filme sobre o que se viveu em torno de um espetáculo que fizemos na Cornucópia com atores não profissionais, e que ganhou um prémio no DocLisboa. Infelizmente, por questões de saúde, tenho pena de não estar a representar. Sabe, não sei se me apetece ter coisas previstas depois de ter tido um instrumento de trabalho tão bom como a Cornucópia. Por vezes, lamento não ter dado a mim próprio mais tempo para viver sem ser ligado às coisas do teatro.
paginations here