O teatro vê-se ao vivo. Mas, numa altura em que a regra é ficar em casa e é a saúde de cada um de nós que está em causa, o teatro pode muito bem ser visto a partir de um ecrã. É certo, como alerta a equipa do Teatro Aberto, que não se trata de teatro, mas sim de registos videográficos de seis espetáculos encenados por João Lourenço nas salas da Praça de Espanha ao longo dos últimos anos. Seja como for, trata-se de um presente para todos aqueles que gostam de ver teatro e que, durante algum tempo, não o poderão fazer.
Através do site do Teatro Aberto, semanalmente, vai ser disponibilizado, a partir das 21 horas, um espetáculo que se manterá “em cena” uma semana. Durante a última quinzena de março, serão apresentadas A Mentira (de 19 a 25) e A Verdade (26 a 1 de abril), peças quase siamesas escritas de Florian Zeller, que o Aberto representou em simultâneo, nas duas salas da Praça de Espanha, estreadas em dezembro de 2018. O elenco é comum e conta com Miguel Guilherme, Joana Brandão, Paulo Pires e Patrícia André.
Em abril, o “palco” é de Vermelho (2 a 8), de John Logan, uma ficção histórica sobre a figura do pintor Mark Rothko, aqui interpretado por António Fonseca. Seguem-se Noite Viva (9 a 15), de Conor McPherson, um espetáculo de cine-teatro protagonizado por Vítor Norte, e o muito aclamado O Preço (16 a 22), de Arthur Miller, que reuniu em 2013 um elenco de luxo encabeçado por João Perry. A fechar, Amor e Informação (23 a 29), um frenético mosaico de relações humanas composto por meia centena de peças curtas de Caryl Churchill.
Bons espetáculos.
Para quem gosta de cinema e numa altura em que ficar em casa é palavra de ordem, vários sites – festivais, coletivos, realizadores – disponibilizam filmes online.
A maioria gratuitos, outros a preços acessíveis. Aqui ficam algumas das plataformas onde é possível encontrar filmes clássicos e experimentais, obras de ficção, documentários, vídeo arte, cinema alternativo e underground:
RTP Play – filmes/séries/documentários
Collectif Jeune Cinema – Estrutura de divulgação de práticas experimentais de imagem e cinema
APAR – Coletivo on-line de cinema alternativo e underground
Talking Shorts | My Darling Quarantine – Revista de cinema on-line de divulgação de curtas-metragens
IDFA | International Documentary Film Festival Amsterdam
Mosfilm – Um dos mais antigos estúdios de cinema europeus. Obras da União Soviética.
IFS – Experimental Film Society
SXSW Shorts – Plataforma online de curtas-metragens
Ishia Film Festival | Films Against Coronavirus
Medeia Filmes | Quarentena Cinéfila
À Pala de Walsh – Filmes de realizadores portugueses
Open Culture – 1150 filmes online
Ubu Web – Filmes avant-garde e vídeo arte
Lithuanian Short Documentary – Filmes e vídeo arte
NFI – National Film Institute Hungary
RareFilmm – The cave of forgotten films
Le Cinema Club – Apresenta Flores, de Jorge Jácome
The Ballad of Genesis and Lady Jaye, de Marie Losier
10 Years With Hayao Miyazaki, de Kaku Arakawa
Agência – Portuguese Short Film Agency
Monstra Festival – Uma curta por dia
Plataformas online de aluguer e compra de filmes:
Videoclube da Zero em Comportamento
Ler pode ser o melhor remédio para lidar com o estado de exceção que vivemos por estes dias. Numa notável iniciativa em prol da cultura portuguesa, a Imprensa Nacional Casa da Moeda disponibiliza os mais recentes ensaios publicados na coleção O Essencial Sobre…
São 15 estudos assinados por figuras de referência como José Augusto França, António Mega Ferreira, Guilherme D’Oliveira Martis ou Maria João Castro, sobre personalidades como Picasso, Chaplin ou Dante, ou instituições incontornáveis, como a Companhia Nacional de Bailado ou os Ballets Russes.
Eis a lista com respetivas hiperligações:
- O Essencial sobre Walt Whitman, de Mário Avelar
- O Essencial sobre Charles Chaplin, de José Augusto França
- O Essencial sobre Dom Quixote, de António Mega Ferreira
- O Essencial sobre Michel de Montaigne, de Clara Rocha
- O Essencial sobre Leonardo Coimbra, de Ana Catarina Milhazes
- O Essencial sobre Pablo Picasso, de José Augusto França
- O Essencial sobre O Diário da República, de Guilherme d’Oliveira Martins
- O Essencial sobre Vergílio Ferreira, de Helder Godinho
- O Essencial sobre A Companhia Nacional de Bailado, de Mónica Guerreiro
- O Essencial sobre Mario de Sá-Carneiro, de Clara Rocha
- O Essencial sobre Os Ballets Russes em Lisboa, de Maria João Castro
- O Essencial sobre Dante Alighieri, de António Mega Ferreira
- O Essencial sobre O Teatro de Henrique Lopes de Mendonça, de Duarte Ivo Cruz
- O Essencial sobre Jorge de Sena, de Jorge Fazenda Lourenço
- O Essencial sobre Mário Cláudio, de Martinho Soares
#aagendaculturalestaemcasa
Em A Última Estação, o ponto de partida foi a tua semelhança física, plasmada numa fotografia, com o assassino em série Ted Bundy. Agora, recuperas uma história de família sobre as expetativas do teu pai quanto ao bebé que haveria de se chamar Elmano…
Depois de terem tido um filho, os meus pais convenceram-se de que iriam ter uma menina de nome Cleópatra. No espetáculo, parto da suposição de ter nascido menina, questionando que mulher me teria tornado hoje. Nesta ficção, e é importante recordar que é uma ficção, essa figura que nunca existiu chama-se Cléopâtre.
Porque convidaste o Pedro Simões (Filha da Mãe) e o Dennis Correia (Lexa BlacK), dois drag queens, para o espetáculo?
Além de dragqueens, o Dennis Correia é licenciado em Teatro pela ESTC e o Pedro Simões em Dança pela Escola Superior de Dança. Estão habituados a criar esse outro eu, não só para uma performance enquanto drags mas também para um espetáculo de teatro. A imagem foi, desde logo, muito importante: a Lexa BlacK é muito feminina, mais próxima daquilo que se “julga” entender como feminino, enquanto que a Filha da Mãe tem barba. O processo de construção das personas deles é aplicado meticulosamente para tentar dar vida à figura da Cléopâtre. Qual será a sua aparência? Para tal, interessou-me estudar as características do transformismo dos anos 80 e 90 do século passado, que procurava aproximar-se e ser fidedigno à imagem da “mulher “ e o drag do século XXI, que acompanha a própria evolução do que se entende hoje como género.
Eles foram essenciais no processo criativo?
Foi com eles que procurei encontrar essa figura feminina, e digo “figura” porque não sei se é uma personagem. E talvez não devesse dizer feminina…
Porquê?
Porque não sei o que a Cléopâtre é. Ainda estou a tentar perceber isso com a ajuda do Dennis e do Pedro.

Como foi trabalhar com drag queens?
Desde o I Can´t Breathe que tenho trabalhado com pessoas que, embora ligadas ao espetáculo, às artes performativas, ao trabalho de ator e à transformação, se encontram na margem, afastadas daquilo que consideramos o centro. São parceiros fundamentais para analisar alguns fenómenos atuais. No caso da Ana Monte Real, atriz de filmes pornográficos, para tentar entender o novo conceito de pornografia na sociedade contemporânea, e com a Lexa BlacK e a Filha da Mãe, drag queens, para explorar a complexidade do que entendemos por identidade.
Não temes que a convocação de artistas “não convencionais” ganhe protagonismo sobre a essência do espetáculo?
O tema principal deste espetáculo não é sobre os performers envolvidos, embora o corpo deles convoque temáticas como transformismo ou género, como é o caso de Damas da Noite. Isso já acontecia em I Can’t Breathe. A presença de uma atriz porno trazia o universo da pornografia para a cena, e no entanto, não havia qualquer toque entre nós, nem tão pouco nudez. Nas Damas da Noite, fala-se, essencialmente, de teatro. Somos convocados para tentar explorar algo muito maior do que nós.

Mas, ao mesmo tempo, o ponto de partida dos teus espetáculos são biográficos…
Trabalho com a dualidade do que se considera ser verdade e mentira. No I Can´t Breathe, perguntavam-me muitas vezes se a história da Ana Monte Real era verídica. Para quem procurou, nesse e noutros espetáculos, resgatar o mistério e a ilusão perdidas na “sociedade da transparência”, revelar essa informação não é importante e muito menos essencial. Há elementos biográficos e há elementos da ficção, como em qualquer obra. Gosto da ideia da biografia como o trampolim para aceder a uma ficção que acaba por se tornar ainda mais real.
Damas da Noite subintitula-se Uma Farsa de Elmano Sancho. Porquê a “farsa” e o nome próprio?
O título é uma metáfora. As damas da noite são flores que abrem à noite, deitam um cheio muito intenso e fecham-se quando o dia nasce. Tal como esses homens que se transformam à noite e, de dia, voltam às suas vidas quotidianas, muito embora, hoje, os drag queens vivam também de dia. Ao mesmo tempo, a flor tem uma simbologia feminina forte. O subtítulo surgiu à medida que fui construindo o espetáculo e me apercebi que estava perante uma farsa. Pareceu-me evidente que o público também o deveria saber antes de entrar na sala de espetáculos.
Enquanto criador, os teus espetáculos têm tido a particularidade de serem, também, apresentados fora dos grandes centros urbanos, em cidades mais pequenas. Como tem sido levar estas propostas a públicos que têm um contacto menor com objetos artísticos tão transgressores e experimentais?
A reação que tenho considerado mais interessante é quase sempre em relação ao texto, mesmo com aqueles que não são meus, como no caso das digressões com os Artistas Unidos. Para além disso, apresentar as Damas da Noite numa cidade do interior com dois drag queens provoca naturalmente mais curiosidade do que aqui em Lisboa ou no Porto e a tensão criada entre os espectadores e os intérpretes acaba por ser maior ou, pelo menos, sentida com mais intensidade. Por fim, a temática, por si só, parece criar, desde logo, todo o enquadramento necessário para que afrontemos esta transformação. Afinal, o lado alegre que caracteriza o universo drag acaba por mascarar, ainda que temporariamente, assuntos sérios e delicados.
Ao longo destes anos foram homenageados no Monstra – Festival de Animação de Lisboa mais de 20 países mas, neste aniversário, o destaque vai para “o Mundo”. O programa exibe, para além das obras que marcaram a história do festival, alguns dos filmes de animação que foram produzidos recentemente, casos de Setembro, de Ricardo Mata e de A Famosa Invasão da Sicília pelos Ursos, de Lorenzo Mattotti, que integrou a secção Un Certain Regard, no Festival de Cannes, em 2019. Destaque também para o filme-concerto Solar Walk, onde é projetada a curta-metragem de Réka Bucsi, acompanhada ao vivo pela Big Band da Escola Superior de Música de Lisboa.
Há ainda filmes históricos para ver na Cinemateca, sessões para escolas e famílias na programação da Monstrinha e a exposição com figuras dos filmes de Tim Burton, no Museu da Marioneta. Para assinalar o 20.º aniversário, a Agenda Cultural de Lisboa falou com personalidades ligadas ao festival e ao cinema de animação.
Fernando Galrito
Diretor artístico da Monstra e professor de animação

Para Fernando Galrito o balanço dos 20 anos da Monstra é muito positivo. Ao longo deste tempo o festival teve mais de 1 milhão de espectadores e transformou a vida pessoal de quase todos os que nele trabalharam ou trabalham. Abriu portas e deu protagonismo ao cinema de animação dentro e fora do país (esteve presente em mais de 150 cidades internacionais). Por isso, talvez se justifique que este ano o convidado especial seja o Mundo!
Guilherme Afonso e Miguel Madaíl de Freitas
Diretores da Nebula Studios e realizadores

A dupla de realizadores estreou no Monstra, em 2019, um dos primeiros filmes de animação portuguesa de produção independente. A curta Don’t Feed These Animals, apresenta um coelho bipolar que tem um apetite voraz e que certo dia, por acidente, dá vida à sua comida favorita: uma cenoura. Guilherme e Miguel são também dois dos diretores da Nebula, produtora audiovisual especialista em animação 3D e efeitos visuais. A empresa, criada em 2008, é responsável pela publicidade de grandes marcas, mas resolveu apostar no cinema de animação.
Susana Realista
Produtora da Monstrinha

A Monstrinha nasceu também há 20 anos apresentando aos mais novos o melhor cinema de animação produzido no mundo. Susana Realista, uma das responsáveis pela produção deste festival dentro de um festival, refere a importância que a Monstrinha tem tido na formação do público mais jovem. No primeiro ano do festival assistiram 3000 pessoas, em 2019, só a Monstrinha contou com 27 mil crianças, jovens e famílias. Mas mais importante que os números, é a partilha cultural, artística e humana que se constrói com milhares de crianças.
Nuno Beato
Produtor na Sardinha em Lata, realizador e professor

A produtora Sardinha em Lata nasceu pela mão de Nuno Beato, em 2007. Dos vários projetos destaca-se a série Ema & Gui, realizada em 2010 para televisão e exibida no programa Zig Zag da RTP 2. A Monstra dedica uma exposição à série, no Cinema São Jorge, e uma conversa que conta com a presença de Nuno Beato. Para 2021 está prevista a estreia da primeira longa do cineasta: Os Demónios do Meu Avô. Escrito por Possidónio Cachapa, decorre numa aldeia imaginária em Vale do Sarronco, povoada de humanos, animais e seres fantásticos inspirados no universo da ceramista Rosa Ramalho.
José Miguel Ribeiro
Produtor na Praça Filmes, realizador, ilustrador e professor

Um dos fundadores da produtora Praça Filmes, José Miguel Ribeiro foi este ano o autor do cartaz da Monstra. Realizador do filme A Suspeita, vencedor do Cartoon D’Or, o prémio mais importante de curtas de animação europeias, é também curador de um programa de curtas-metragens portuguesas, nesta edição do festival. Neste momento, o cineasta está a desenvolver o projeto Nayola, uma longa de animação com argumento de Virgílio Almeida, baseado na peça A Caixa Preta, de José Eduardo Agualusa e Mia Couto.
Cinco designers falam-nos brevemente sobre a sua visão e sobre o modo como a aplicam no seu trabalho. Ilustrando a vertente ecológica do tema desta edição da Modalisboa, fotografámo-los com exemplares de plantas dos jardins e espaços verdes públicos da cidade, oriundos dos viveiros da Câmara Municipal de Lisboa.

CONSTANÇA ENTRUDO
8 março: 14h – Lab, Oficinas Gerais
Planta: Begónia-de-inverno (Bergenia Cassifolia)
Depois de passagens por Londres e Paris, regressou a Portugal onde apresentou duas colecções, no âmbito da MODALISBOA. Trabalha sobretudo com linhas recicladas, recolhidas em fábricas, transformadas em materiais e padrões novos, criando tecidos para criações de moda ou decoração. Defende que as novas gerações vão trazer uma atenuação das diferenças de género, conceito que aplica nas suas criações. Vai apresentar-se no espaço LAB em formato de exposição e instalação artística.

DINO ALVES
Planta: Azinheira (Quercus Rotundifolia)
8 março: 21h – Oficinas Gerais
Quando criou o hospital de roupa no seu ateliê, no ano 2000, para reciclar as suas criações, tornou-se um dos primeiros a abraçar o conceito de eliminação de desperdícios e de sustentabilidade. Chamou-lhe Serviços de Operação Surpresa (SOS) porque a peça final é uma surpresa para o cliente e ainda mantém este serviço. Nas suas criações recorre a tecidos orgânicos e a stocks estagnados em lojas e armazéns.

BEHÉN
Planta: Medronheiro (Arbutus unedo)
5 março: 21H – United Fashion Happenings, Paços do Concelho
A BÉHEN é uma marca que vai muito para além da roupa e que nasceu da vontade em procurar uma alternativa aos habituais sistemas de produção. O nome, que significa irmã em Hindi, reflete a escolha de Joana Duarte por criar peças únicas feitas a partir de têxteis antigos, toalhas, colchas e todos os outros tecidos dos baús das avós, entregando a sua manufactura a comunidades de mulheres em situação de desemprego.

LUÍS CARVALHO
Planta: Palmeira de leque (Trachycarpus Fortunei)
7 março: 19h – Oficinas Gerais
Desde 2013, ano em que criou a sua marca própria, Luís Carvalho é uma presença habitual na ModaLisboa. No ano seguinte, abriu em Vizela a nova casa mãe da marca, onde reúne no mesmo espaço, ateliê e loja própria. Para ele, a proximidade com os fornecedores, o conhecimento e acompanhamento dos métodos de promoção, são práticas essenciais para tornar a produção mais sustentável. Considera também que o recurso a produções em menor escala permitem evitar desperdícios.

NUNO GAMA
Planta: Cameleira (Camelia Japonica)
7 março: 22h30 – Oficinas Gerais
Nuno Gama, um dos criadores consagrados com presença assídua na ModaLisboa, acredita que a mudança de atitude na moda para uma cultura de sustentabilidade passa também pelo nível pessoal, pela mudança de hábitos. Considera que os clientes finais querem saber como são feitos e quem faz os produtos antes de os comprarem. Trabalha essencialmente com produtores nacionais, cujos processos conhece, que optam por materiais ecológicos. A colecção que apresenta nesta edição é dominada por tons de azul, em homenagem ao tema.

António Mega Ferreira
Mais que Mil Imagens
“Uma imagem vale mais que mil palavras” é uma expressão popular de autoria do filósofo chinês Confúcio, utilizada para transmitir a ideia do poder da comunicação através das imagens. Contudo, para um escritor a emoção estética visual provoca frequentemente o desejo da escrita. A presente obra decorre, justamente, da vontade de dizer por palavras as razões pelas quais certas imagens foram tão importantes para o seu autor: António Mega Ferreira. É, justamente, nas suas palavras, um livro que resulta “de impulsos literários desencadeados por estímulos visuais”. O escritor submete ao seu escrutínio exigente, entre outras, uma pintura de Jan van Eyck, de Rafael de Fragonard ou de Picasso, uma fotografia de Edward Weston ou de Cindy Sherman, uma obra cinematográfica de Bergman ou uma peça de arquitectura de Oscar Niemeyer. A todas elas traz novas formas de percepção e de análise, numa valorosa tentativa de “transpor o abismo entre o que o criador diz e o que o espectador vê.”
Sextante
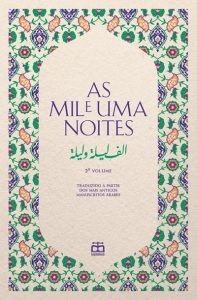
As Mil e uma Noites
2.º Volume
A labiríntica narração de Xerazade tem seduzido gerações de leitores conduzidos por um mundo lendário, mágico e alegórico, povoado de reis, califas, tapetes voadores, misteriosas princesas, enganos, e trágicos amores, em que exotismo e sensualidade se confundem. Porém, As Mil e uma Noites, é, simultaneamente, uma obra que faz parte do imaginário popular e uma das mais desconhecidas da literatura universal. As suas histórias, as mais antigas remontam ao século XIV, foram sucessivamente alteradas, aumentadas ou encurtadas e, até, inventadas por tradutores menos escrupulosos. As traduções portuguesas d’As Mil e uma Noites, começaram a circular no início do século XIX com base na tradução francesa de Antoine Galland, cheia de erros, de adaptações ao gosto europeu e, sobretudo, de acrescentos de histórias que dela nunca fizeram parte. Pela primeira vez em Portugal, Hugo Maia traduz este conjunto de textos a partir do árabe, com a preocupação de seguir o mais literalmente possível os originais. Eis, finalmente, as histórias de maravilhar de Xerazade reconstituídas com total autenticidade e esplendor.
E-Primatur

Gustave Le Bon
Psicologia das Multidões
“A alma de uma raça é constituída pelo conjunto de caracteres comuns que a hereditariedade imprime a todos os indivíduos dessa raça. Sempre que um certo número desses indivíduos se encontram reunidos em multidão para agirem, a observação demonstra que do próprio facto da sua aproximação resultam determinados caracteres psíquicos novos, que se sobrepõem aos caracteres da raça e, por vezes, deles profundamente diferem”. O presente ensaio de Gustave Le Bon sobre as funções que as multidões organizadas têm desempenhado na vida dos povos foi, na sua época, desprezado pela Academia. Le Bon incorporava Darwin e Haeckel nos seus conceitos de hereditariedade e da natureza humana e reflectia sobre o ambientalismo ou sobre o ensino igualitário. Exerceu, porém, uma reconhecida influência em personalidades tão distintas como Freud, Hitler, Ortega Y Gasset, Lenine ou Roosevelt. Num mundo em plena globalização este ensaio continua a ser uma das mais compreensivas análises sobre como os seres humanos se comportam em sociedade e em grupo.
Bookbuilders

Peter Handke
Poema à Duração
O filósofo Henry Bergson, opôs-se ao positivismo e ao materialismo desenvolvendo uma análise crítica do conhecimento fundamentada nos conceitos de memória, duração e intuição. Ao adoptar a biologia, a fisiologia e a psicologia como bases do seu pensamento influenciou várias áreas da criação artística como o cinema e a literatura (Marcel Proust incluiu na sua obra Em Busca do Tempo Perdido conceções de Bergson sobre a memória). Também Peter Handke, Prémio Nobel de Literatura 2019, se baseou em Bergson, neste caso no conceito de duração, para compor este extenso e belíssimo poema, longe do estilo provocatório das suas obras mais icónicas. Para Handke, a duração “exige a poesia” (“O impulso da duração / já começa por si a entoar um poema”). Neste “poema de amor não carnal”, evoca o tempo como sensação de continuidade, os lugares que permitem sentir a duração e a comunhão consigo próprio que ela representa. Define a duração como “o mais fugidio de todos os sentimentos”, “um brando acorde feito de silêncio, / que leva à união e à perfeita sintonia de todas as dissonâncias”.
Assírio & Alvim
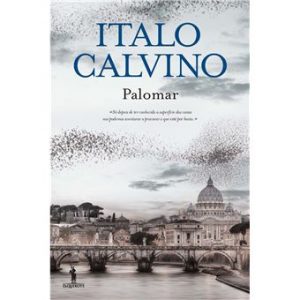
Italo Calvino
Palomar
Último livro publicado em vida por Italo Calvino, Palomar é uma narrativa fascinante sobre a vertigem do homem diante dos implacáveis mistérios do universo. Considerado o testamento literário do grande escritor italiano nascido em Cuba, nos arredores de Havana em 1923, conduz o leitor através de um inquérito de resultados surpreendentes: o senhor Palomar é sem dúvida um alter-ego autor, mas não só. São todos os seus leitores. Será possível encontrarmos um sentido nas coisas, no mundo à nossa volta? E dentro de nós próprios? O senhor Palomar está muito longe de ter alguma certeza quanto a tudo isso. Todavia, continua à procura. Homem excêntrico em busca de conhecimento, visionário num mundo sublime e ridículo, Palomar é um observador nato. «Só depois de ter conhecido a superfície das coisas», acredita ele, «nos podemos aventurar a procurar o que está por baixo.» Seja contemplando um seio nu, uma loja de queijos em Paris, a barriga de uma osga ou os céus de Roma invadidos por estorninhos, o senhor Palomar oferece-nos uma visão do mundo familiar, mas fragmentada pela perceção individual.
Dom Quixote

Júlio Dinis
Uma Família Inglesa
Revelado um ano antes em folhetins, no Jornal do Porto, o romance Uma Família Inglesa seria publicado em volume em 1868, afirmando a singularidade de Júlio Dinis na literatura portuguesa. Os dias de Carlos Whitestone, jovem herdeiro de um lucrativo negócio de exportações, são passados em pleno devaneio boémio nas ruas, nos cafés e na noite da cidade do Porto. Por alturas do Carnaval, num baile de máscaras, Carlos apaixona-se por uma rapariga belíssima, cuja identidade desconhece, mas que irá descobrir tratar-se de Cecília, filha do modesto e obediente guarda-livros que trabalha para o seu pai. É a história deste casal aquela que se narra em Uma Família Inglesa: a força do seu encontro e a mudança a que ele os obrigará, denunciando os dois grandes temas da obra – a família e o trabalho. A reedição deste belo romance vem possibilitar o acesso de novos leitores à obra de um dos escritores determinantes na literatura portuguesa do século XIX.
Livros do Brasil
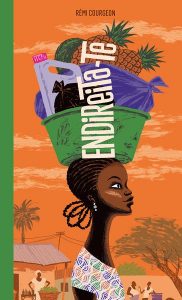
Rémi Courgeon
Endireita-te
Toda a sua vida, Adjoa levou à cabeça baldes, milho, gasolina, cabaças, desgostos, feijão, bananas, segredos difíceis de guardar… sempre de cabeça erguida e dentes cerrados, tal como lhe ensinaram. Até porque onde Adjoa vive, em Djougou, para que uma menina cresça, põe-lhe coisas na cabeça. De um jeito poético e inusitado, através de belíssimas imagens repletas de cor local, este livro singular mostra como se podem transformar objetos de dor em atos de amor. Rémi Courgeon é um autor de literatura para a infância, ilustrador e pintor francês. Realizou, igualmente, uma série de cadernos de viagem e reportagens desenhada: sobre os Dogons no Mali em 2002 para a revista Geo, sobre a sida no Quénia para os Médicos sem fronteiras em 2006 e sobre a reconstrução após o sismo de 2010 no Haiti para os médicos do Mundo. Realistou várias exposições de pintura nos Estados Unidos da América e em França.
Orfeu Negro
Vieste para Portugal com cinco anos. Que recordações tens do Irão?
Tenho recordações da minha casa, da minha família. Para a minha mãe, que é uma pessoa muito mais nostálgica do que eu, sair do Irão foi uma experiência difícil. Eu construí a minha vida aqui, a minha mãe tinha 40 anos quando saiu do Irão. Se vir um filme do Kiarostami comove-se muito… Tenho um apetite grande por todas as coisas de lá que acho bonitas, mas não tenho uma natureza nostálgica. Tendo havido aquela rutura aos 5 anos, acho que é natural que tenha ficado mais ‘desapegado’ do que eles.
Nunca mais lá voltaste?
Não. Estou muito grato aos meus pais por terem sempre falado farsi comigo em casa e por me terem mostrado todas as coisas bonitas do Irão, mas o Irão atual não corresponde às minhas recordações de infância. Mas tenho esperança.
Estudaste Direito, trabalhaste em fotografia, foste crítico de cinema e só por volta dos 30 anos te dedicaste à música. Porquê nessa altura?
Foi uma crise de meia idade [risos]. Sempre tive muito amor pela música. Os meus pais ouviam muita música em casa. Talvez pelo facto de a música ser uma coisa muito séria no Irão, o equivalente a tocar guitarra portuguesa: tens que te inserir dentro de uma certa tradição, ter grande respeito pelo instrumento. É algo que passa quase de geração em geração, de pai para filho, mestre para discípulo… Envolvi-me com a música não por achar que tinha particular vocação, mas sim como fuga às outras opções. Não queria assim tanto ser advogado. Em vez de seguir algo pré-formatado para mim, tentei encontrar um sítio onde fosse mais ‘eu’. Daí a música.
O Leonard Cohen é a tua grande inspiração…
O Cohen é provavelmente o grande culpado de tudo isto, foi quem me desviou do caminho mais óbvio. Foi uma revelação para mim. A certa altura da minha vida, sentava-me a ler as letras. Na minha cabeça aquilo era bíblico. Olhando para trás, acho que foi nessa altura que se deu o ‘click’.
Não te imaginas a fazer outra coisa, portanto…
Acho que fazer canções é um fim em si mesmo. Quando estou em casa e tenho um esboço para uma canção, o meu dia está justificado. Consigo dormir melhor porque sinto que estou quase a tornar-me um músico. Nesses momentos, sinto que o dia valeu a pena. Não me vejo a fazer outra coisa, não consigo imaginar uma atividade que me diga tanto quanto isto. Queria muito e continuo a querer muito ser músico. Há um certo ‘síndroma de impostor’ quando se começa tarde e quando não é vocacional. De quando vais para a música em fuga e não por chamamento.
Em 2005, a revista francesa Les Inrockuptibles considerou-te um dos melhores projetos musicais da Europa. Que impacto é que isso teve em ti?
Em 2005 gravei uma maquete e enviei para essa revista, que eu lia e em quem confiava. Lia as críticas, ouvia a música e tendencialmente gostava. A revista elogiou a minha música e eu sempre tinha acreditado na curadoria deles. Pensei que, então, se calhar a minha música tinha valor… Deu-me confiança no início. Às tantas deixas de olhar para fora à procura de aprovação, começas a procurar os teus próprios filões e a persegui-los. Abres uma porta que achas que pode ser uma canção e se alguém disser que não é por ali, tu dizes que sim, é por ali.
Escrever canções é um processo catártico e demasiado pessoal?
Às vezes estou a escrever e penso que estou a contar a minha história toda. Tenho algumas reticências quando estou nesse processo, mas estou a tentar tirar coisas cá para fora, a tentar ser honesto, porque a canção tem de sobreviver à experiência que a leva a ser escrita, tem de ganhar novos significados. Idealmente, quero escrever canções que possa cantar daqui a muito tempo, quero que tenham vitalidade. Isso obriga a algum despojamento. Depois de estar cá fora já não há nada a fazer. Se for útil a alguém, magnífico!

O que te inspira?
A coisa mais natural para mim é cantar. Escrevo para ter o que cantar. Quando se está a cantar é se uma espécie de viúvo, ou de órfão. Não se é pai nem filho de ninguém. Está-se sozinho. O trabalho de escrita é um trabalho evocativo. Há um grande escritor de canções que dá o seguinte conselho: “escreve o título da canção e ficas com uma canção por escrever”. Eu dou o título no final. Procuro descobrir o que estou a escrever à medida que o vou fazendo, tentando revelar o que está dentro de mim. É mais terapia do que outra coisa [risos]…
Já te aconteceu olhar para uma canção mais antiga e não te reveres nela?
Quando sabemos o que as coisas querem dizer, perdemos o interesse. Enquanto houver coisas por descobrir, enquanto houver um lado obscuro, elas continuam a ser importantes, porque podem ser surpreendentes e ter um desfecho novo. Quando desvendas o que o Leonard Cohen quer dizer, deixas de o ouvir. No caso dele, por mais que se ouça, é sempre misterioso. Há uma letra dele de uma canção chamada Tower of Song, que começa assim:“Well, my friends are gone and my hair is grey, I ache in the places where I used to play”. Sempre adorei essa música. Um dia, na cidade onde cresci, em Setúbal, estava a passar na escola secundária onde andei, olhei para os miúdos e senti-me tão distante daquela realidade… Essa música fez-me todo o sentido naquele momento!
O que sentes quando alguém diz que a tua música lhe mudou a vida?
Esse é o maior sucesso que se pode ter. Há dias estava a caminhar no Jardim da Estrela e reparei num casal que olhava muito para mim. Continuei a andar até que os dois, com 20 e poucos anos, meteram conversa comigo. O rapaz disse-me que tinha mandado uma música minha à rapariga. Eu perguntei se tinha funcionado, ao que ele me respondeu que ela agora era namorada dele. Noutra situação, há uns anos fui tocar ao Porto e apareceu um rapaz com o meu primeiro disco que me disse: “as tuas letras ajudaram-me a fazer o luto pela morte do meu pai”. Isso é o maior sucesso, ser útil às pessoas. Tento fazer, na medida das minhas limitações, alguma cartografia, algum mapeamento. Se esse mapa for útil para alguém, então a missão está cumprida.
Tens cantado sempre em inglês. Há planos para um dia cantares em português?
Não excluo essa possibilidade. Em 2007, fiz uma versão de uma canção escrita pelo Zeca Afonso para o Adriano Correia de Oliveira, A Balada da Esperança, que fez parte do disco Adriano – Aqui e Agora (O Tributo), onde participou muita gente que admiro. Talvez um dia, sim.
Que histórias conta este novo disco, The Gambler Song?
Histórias de amor, desencontro, saudade, distância, e de alguma solidão, que é indispensável para compor. Não há comunidade sem solidão. Não há um concerto sem alguém ter estado em casa a procurar histórias.
Por que razão um coração partido produz melhores canções?
Porque a felicidade vive-se, é um fim em si mesmo. A dor é que tem de ser convertida. Não há nenhuma música boa sobre a alegria ou a felicidade [risos]. Se está tudo bem não há necessidade de fazer canções a dizer que está tudo bem… As pessoas gostam de se rever nas músicas, era o tal mapa de que falava há pouco. Isso é que traz conforto, e isso só se consegue com sofrimento.
És daquele tipo de músico que escreve compulsivamente ou precisas de desligar depois de lançar um álbum?
Não dá para parar totalmente porque depois parte-se de uma inércia muito grande. É importante ir fazendo alguma coisa. É mais do que uma coisa compulsiva, é a forma que arranjo de estar empregado e de justificar o meu dia. É um processo lento, mas quero continuar a dizer coisas.
“Fosse como fosse, eu gostava de ser lembrada”, cantam, à memória de Raquel Castro, os atores Joana Bárcia, Nuno Nunes e Rita Morais num dos momentos deste exercício de “autoficção” onde a atriz e autora encena o próprio funeral. Tudo se passa num palco de teatro, em redor de um caixão onde Raquel jaz após ter cumprido 99 anos de vida.
Nascida em 1981, Raquel preparou a sua cerimónia fúnebre ao pormenor. Durante o tempo em que decorre, e de forma não diacrónica, os cicerones percorrem o legado de uma mulher que foi atriz, da infância à morte passando pelas memórias de infância, pelas aventuras de adolescência, pela revelação do teatro, pelos amores e pela maternidade, pelas conquistas e pelas frustrações do quotidiano.

Para conceber esta “autoficção” (termo que a autora diz ser o mais adequado para caracterizar o espetáculo), Raquel Castro percorreu a sua biografia até 2020 e combinou-a com um futuro imaginado que atravessa as décadas que faltam até 2080, ano da morte. “A peça é construída como se fosse um livro de memórias, da vida de uma pessoa que sou eu mesma”, salienta a autora. “E tudo isso é biográfico, até colidir num tempo futuro, onde se cria um outro espaço de vida.”
Sem querer que o espetáculo assuma uma qualquer propensão lúgubre, Raquel Castro confessa ter-se embrenhado “naquele que foi um processo solitário e íntimo” de escrita e criação como resposta ao “medo da morte”. “Quando fui mãe pela primeira vez percecionei esse medo. Sim, hoje, tenho mais medo de morrer, por isso, este foi muitas vezes um trabalho doloroso.”
Apesar desse medo e de tudo o que significa partir da morte (mesmo que fictícia) para olhar a vida, A Morte de Raquel é um espetáculo festivo, uma celebração do tempo, dos lugares e dos momentos de uma personagem, real ou imaginada, que, como todas, na vida e no teatro, “gostava de ser lembrada.”
Em cena, até 11 de março.
Assentes numa plataforma que forma um círculo giratório, aparentemente suspensos como se desafiassem a gravidade, estão Romeu, Julieta, Mercúcio, Teobaldo e Benvólio, as cinco personagens que na tragédia Romeu e Julieta, de William Shakespeare, encontram a morte.
Numa aparente inércia, que se parece situar “entre a queda e a ascese, entre a vida e a morte, entre a terra e o céu”, o encenador John Romão encontrou a metáfora para os colocar no “apogeu da velocidade”, à luz das teses do pensador francês Paul Virilio. Como se o lugar destes corpos refletisse “a tendência de caminhar cada vez mais rápido, caraterística dos nossos dias, tanto que, à distância, a aceleração do tempo e do corpo dá a sensação de não se sair do mesmo sítio.”
Neste Romeu e Julieta, as personagens “estão presentes e simultaneamente ausentes no tempo e no espaço”, como se “os corpos não tivessem lugar”. É como “se estivessem no Skype ou no WhatsUp”, estão e não estão, num qualquer lugar. Porque, sublinha Romão, nos dias de hoje, devido à tecnologia, “tornámos-nos como que omnipresentes, à semelhança dos deuses.”
Toda esta lógica incorpórea e à prova do tempo e do espaço estende-se também à ausência de toque entre as personagens nucleares. Como conceber um Romeu e Julieta em que o par arquétipo do amor romântico nem um beijo troca? Romão justifica como algo sintomático deste tempo em que “muitas das nossas relações, até amorosas, se consolidam à distância, sem contacto físico.”

As palavras de Shakespeare surgem assim como um dispositivo “para rescrever os corpos”, ou seja, nesta visão de Romeu e Julieta, a reflexão sobre o lugar do corpo pode ser entendida, por exemplo, no percurso de Romeu, “o corpo que entra em lugares aos quais não pertence, como o baile dos Capuletos ou o exílio em Mantua”, e isso só pode ser superado com “um não-lugar, que é a morte, aqui entendido como onde se concretizam todas as utopias, até a do amor eterno.”
Entendendo a peça de Shakespeare como “uma história de pulsão e transgressão, onde tudo, alimentado sempre pelo desejo, se passa muito rapidamente em direção à morte”, John Romão apresenta este olhar pouco convencional sobre o clássico, pretendendo questionar-nos sobre “a solidão e o isolamento” num tempo onde parece já não haver lugar para o amor romântico.
Para descobrir, no Teatro Nacional D. Maria, de 14 de fevereiro a 1 de março.
paginations here