Qualquer coisa de muito grave aconteceu ao jovem rapaz deitado, imobilizado pelo gesso que o prende à cama, num sótão da casa do avô. Um amigo visita-o e tenta desvendar o mistério, mas o jovem parece insondável, perdido. Nem a chegada de uma amiga com quem terá tido uma relação amorosa o anima. Pelo contrário, sente-se acossado. Mas, no final, o enigmático aparecimento de uma desconhecida pode revelar um sentido para a vida.
Através de diálogos curtos, do “linguajar quotidiano”, e de uma notável gestão de silêncios, “como se estas personagens comunicassem secretamente”, Cristina Carvalhal dirige a segunda peça do também ator e encenador Tiago Correia a ser distinguida com o Grande Prémio de Teatro Sociedade Portuguesa de Autores/Teatro Aberto (a primeira foi Pela Água, encenada por Tiago Torres da Silva, em 2016). Com subtileza e sensibilidade, Alma fala de quatro adolescentes (interpretados por Bernardo Lobo Faria, Bruna Quintas, Guilherme Moura e Sofia Fialho) tentando encontrar um lugar num mundo em que as redes sociais se tornaram o veículo privilegiado de conexão comunicacional, e até emocional.

“Para além da escrita muito teatral do Tiago, com quem já colaborei como ator, e que como dramaturgo, nesta peça, me lembra muito Jon Fosse, agradou-me especialmente trabalhar o universo da adolescência”, observa Cristina Carvalhal. “Ter à disposição um elenco muito jovem fez-me preparar tudo em redor com muita precisão e tentar dirigir o menos possível. Acho que a genuinidade que se sente na peça tem a ver com o cuidado que tivemos em não lapidar estes diamantes em bruto que são estes quatro atores.”

Entre o real e o onírico que se confundem ao longo de todo o espetáculo, o cenário de Ana Vaz e o vídeo de Pedro Filipe Marques sublinham a aura de secretismo que envolve as personagens, deixando que elas se revelem pacientemente nas suas frustrações e mágoas. “O que se conta e se desvenda para lá das palavras é essencial”, destaca a encenadora. E, para isso, muito contribuem as versões de Creep dos Radiohead e de When the Party’s Over de Billie Eilish, temas que dialogam diretamente com a geração que a peça retrata.

Em cena até final de março, Alma dá continuidade a um ciclo dedicado à juventude que o Teatro Aberto iniciou no ano passado com as produções de Golpada, de Dea Loher, e Doença da Juventude, de Frank Wedekind.
Deixe os seus problemas lá fora, aqui dentro a vida é bela!, dizia o apresentador do espectáculo no filme Cabaret de Bob Fosse, de 1972. Cores quentes, música alegre, figurinos extravagantes e um erotismo elegante são imagens de marca que identificamos com este tipo de espectáculo, com raízes no século XIX e expoente no período entre guerras mundiais. Burlesco é um dos ingredientes do espetáculo de variedades ou de cabaret, uma designação que deriva da palavra italiana burla (piada, brincadeira). É sinónimo de paródia, exagero, e adoptou-se como designação deste formato cénico que inclui traços de dança, comédia erótica e striptease.

Em Lisboa, existem hoje vários locais que oferecem este tipo de experiência e que, segundo nos diz Lady Myosótis, têm vindo a conquistar cada vez mais público. Ela foi uma das pioneiras do renascimento do Burlesco há cerca de dez anos, no então recém-transformado Cais do Sodré, quando o bar Velha Senhora e a Pensão Amor começaram a programar com regularidade shows do género. Pertence a um pequeno grupo ou família com menos de duas dezenas de membros de profissionais do Burlesco que levam a sua arte a vários espaços noturnos da cidade. Na sua maioria têm formação teatral, de dança, de circo ou de música e têm em comum a criação de um alter-ego, uma persona que mostra o seu esplendor no palco e que tem como missão deslumbrar.

A estética vintage é uma imagem de marca mas não é exclusiva. Fora do ambiente de cabaret, em espaços menos tradicionais, apresentam-se quadros mais contemporâneos, como o cyberburlesque, ou de pendor mais arrojadamente fetichista. E há também homens no circuito, embora em menor número.
As imagens apresentam alguns destes protagonistas e os locais onde podem ser vistos.

Para uma experiência de Cabaret completa, com um programa de variedades e possibilidade de jantar gourmet, o Maxime e o Beco têm shows programados para a temporada.

Fique também a saber que pode contratar estes espetáculos para ambientes privados como despedidas de solteiro/a e eventos de empresas, ou mesmo aprender a fazer em workshops para o efeito.
No Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, às 22h30, o Clube Ferroviário apresenta uma produção da associação Lisbon Underground Burlesque, intitulada Cupid Undressed, a Burlesque Valentine’s Tale.
Nasceste no Huambo e manténs uma forte ligação às origens. Que recordações guardas dos tempos de criança?
Saí de lá muito pequeno. As memórias que tenho foram todas construídas através do que ouvia. Cresci com pessoas que se queixavam do frio e que tinham a esperança de regressar ao local de origem, que se queixavam também de uma certa frieza das pessoas. Adultos que falavam de um outro sítio, de outra realidade. De que não devíamos estar aqui e de que a qualquer momento poderíamos regressar. Estas são as minhas memórias: pessoas adultas que não se coibiam de falar desses assuntos e de política à frente das crianças. Na realidade sou um descendente daquele contexto. Em casa havia música europeia, mas também muita percussão e batuques. Cresci com isso tudo, com saudades de coisas que não conhecia. Com uma sensação de que era marginal e de que não encaixava totalmente nesta realidade.
Lisboa é uma cidade acolhedora?
Lisboa é feita de pessoas de todo o mundo, mais até de pessoas de fora do que das que cá nasceram. Fala-se muito da ideia das cidades serem novas, de Lisboa ser “a nova Berlim”. Os nacionalistas dirão que Lisboa é a “velha Lisboa” e os mais modernos que é a “nova Lisboa”. Acho tudo isso de um provincianismo com o qual não me identifico. As cidades com que me relaciono são cidades de toda a gente. O Trump é um bom exemplo de alguém que se apropria de um sítio com o qual não tem uma relação profunda. Lisboa é uma cidade muito rica em termos de construção de identidade: ela é africana antes de ser europeia, é árabe antes de ser cristã. Tem uma história muito rica que aceita todo o tipo de pessoas.
Teres nascido em Angola mas teres crescido em Portugal alguma vez te fez sentir que não pertencias a lado nenhum ou, por outro lado, deu-te referências e uma bagagem que noutras circunstâncias não terias?
Sinto que sou condicionado por isso tudo e que tenho essa herança de DNA. Quando se fala de uma Lisboa muito multicultural, a mim parece-me que ainda falta um bocado para se aceitar essa contribuição e não separar os subúrbios do centro. As pessoas devem ser mais convocadas não só para trabalhar, mas também para viver e contribuir. Temos todos a ganhar. Em vez de nos encontrarmos só no metro, encontrarmo-nos também em pistas de dança, em galerias, em musicais…
Em que altura da tua vida sentiste o apelo da música?
Acho que só por volta dos 30 anos. Sempre considerei a música demasiado sagrada, achava que não tinha o direito de me meter nisso. O meu padrasto era músico e muito bom, a minha mãe também ouvia música muito boa, havia ali uma mistura inacreditável. Por um lado isso tornou-me um consumidor atento, mas distante da parte técnica. A certa altura percebi que tinha de assumir o risco de eventualmente ser mau e de me concentrar apenas em fazer. Depois se as pessoas gostavam ou não era outra história. Para conseguir ser um animal vivo tenho que me exprimir como me apetece. E isso, muitas vezes, implica regressar aos instintos básicos, de criança. Tento fazer aquilo que me faz feliz e projetar essa felicidade em quem me segue. Acaba por ser um exercício de deixar o DNA e as circunstâncias existirem. Este trabalho que vou apresentar na Casa Independente é a sorte que tenho de, ao fim de todos estes anos, poder cruzar tudo o que fiz, tudo o que gosto, coisas que arrisquei a fazer mas também coisas que alguém fez. Devemos reconhecer o mérito do outro, não invejar, que é uma coisa muito portuguesa e que gostava que deixasse de existir. Em crianças, eu e os meus primos fazíamos apresentações de música e dança para os adultos. Percebi que fui muito feliz nessa época e sou muito feliz a ter diálogos artísticos e a apresentar as minhas ideias. Gosto de liderar mas cresço muito quando não tenho razão. Acho que a melhor maneira das coisas acontecerem é convocar pessoas com ideias diferentes.
O teu trabalho mistura sonoridades e influências. É difícil ‘casar’ referências musicais mais antigas com sonoridades mais atuais?
Se pensarmos em techno e em kuduro, são exatamente a mesma coisa. A ferramenta pode ser outra, mas é apenas uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Há dj’s em Berlim a fazer remixes de músicas angolanas. Quando fiz o primeiro disco isso era completamente exótico e estranho, diziam que era game changing. Neste momento, para um berlinense isso é perfeitamente natural, porque já tem acesso aos discos. Portugal fez um péssimo serviço a promover a cultura das ex-colónias. Nos últimos anos Angola tem conseguido exportar-se mais porque tem uma relevância financeira muito grande, porque existe este circuito Lisboa-Luanda que torna as duas cidades familiares e indissociáveis. O que nos falta é processar e aceitar essa mistura, porque ela existe inevitavelmente.

Em 2019, passaste muito tempo a trabalhar neste alojamento artístico local. Como surgiu esta ideia?
No fundo, passei a minha vida inteira. A ideia de fazer este alojamento surgiu de uma aproximação à Casa Independente, que, em 2018, me convidou a fazer a passagem de ano. Gostei muito de ter vivido essa noite, de estar num prédio no meio de Lisboa (ao contrário de todos os outros que estão degradados ou inflacionados ou formalizados por alguma instituição) onde se pode fazer o que se quiser. Depois fiz uma experiência no 25 de Abril, que foi uma emissão de rádio que seguia a cronologia desse dia. As pessoas foram, dançaram ao som da rádio e apercebi-me da predisposição delas para coisas diferentes. Como artista, isso deixou-me feliz. Se eu fizer humor e obtiver um sorriso, isso é suficiente, não é preciso a pessoa rir-se à gargalhada. O princípio é provocar o sorriso, logo, essa reação é boa para mim. Estas intervenções provocam estranheza e desconforto numas pessoas – o que é bom – e noutras provocam sorrisos – o que é ainda melhor. O meu trabalho tem sido pensar em coisas que posso apresentar que sejam não um exercício egocêntrico, mas sim um processo de partilha e comunicação.
Qual é o conceito por trás deste alojamento artístico local?
Este trabalho cruza tudo o que fiz, tudo o que gosto, coisas que arrisquei a fazer mas também coisas que alguém fez. Acho que a melhor maneira das coisas acontecerem é convocar pessoas com ideias diferentes das nossas. Vou expor, ter dança, música e uma rádio normal, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Umas coisas são minhas, outras de pessoas que admiro. Espero que as pessoas entrem e participem. Podem rebentar-me com o ego no fim, mas uma coisa não vai falhar: o de existir um espaço que não é nem um museu, nem uma discoteca, nem um bar, nem um restaurante, nem uma casa, mas que é isso tudo. O objetivo é quebrar fronteiras formais. Durante este mês haverá ainda uma Rádio Normal, com emissão para o quarteirão todo. A definição de “rádio normal” é uma rádio coreografada, repetitiva, com informação redundante, gravada, escrita, umas vezes com pouca emoção, outras vezes histérica, sem publicidade.
A residência inclui a exposição Neon Colonialismo, que inclui peças próprias e outras do espólio do Museu de Lisboa…
Dentro das minhas peças há uma grade de garrafas de água do Luso a que acrescentei a palavra ‘angolano’e que pretende pôr as pessoas a pensar; um padrão (falso) de azulejos criado para dar uma ideia do tradicional; uma peça chamada Neon Colonialismo que pretende provocar uma reação e fazer as pessoas olharem para a mesma coisa e ver que ela pode ter vários significados, e um estendal com roupa, que simboliza o facto de eu estar mesmo a viver na Casa durante esse mês (é um alojamento literal). Há ainda peças do Arquivo Histórico do Museu de Lisboa. Neste processo descobri uma coleção de mais de dez quadros relacionada com o mar, de um pintor que desconhecia, o António Costa Pinheiro. Foi-me apresentado como um autor incontornável da pintura portuguesa. Senti-me um ignorante, mas fiquei imediatamente apaixonado pelas obras dele. Fiquei muito feliz por ter acesso a estas obras e por poder mostrá-las a quem também não as conhece.
O momento musical desta residência é uma parceria com Luaty Beirão. O que podemos esperar deste encontro?
Não havendo relação familiar entre nós, o Luaty é o mais próximo que tenho de um irmão, alguém que está sempre disponível. Quando surge algum projeto em mãos, é praticamente inevitável incluí-lo. O espetáculo pretende colocar questões: qual é o momento sério? É quanto estamos a cantar, a dançar, ou quando estamos a passar o som de uma rádio? Temos textos feitos pelo Luaty, bailarinos a dançar que vão ilustrar uma história ou uma música. Há momentos em que é a cena que define tudo, outros em que a dança é predominante e outros em que é o ritmo ou as palavras.
É difícil viver da arte em Portugal. Qual é a motivação?
É inevitável, não é uma escolha. Se não houver filhos que dependam financeiramente de nós, acho que é preciso ser-se muito corajoso para não se fazer o que se tem dentro do coração. Morre-se em vida, que é uma coisa muito triste. É preciso ter coragem para ignorar tudo o que grita dentro de nós. Não consigo calar essas vozes, é impossível. A motivação é ter paz, é um exercício de sobrevivência.
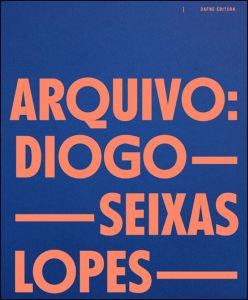
André Tavares e Diogo Seixas Lopes
Arquivo Diogo Seixas Lopes
Diogo Seixas Lopes deixou-nos prematuramente em 2016, ainda na casa dos 40. Partiu antes de ver concluída a construção da Torre FPM 41, projecto do atelier Barbas Lopes, dirigido por si e por Patrícia Barbas. A amizade, a saudade e o reconhecimento intelectual estão na génese da produção deste extraordinário Arquivo, documento e documentário da produção escrita de Seixas Lopes – entre produção impressa e inéditos – com a excepção dos livros Cimêncio (Fenda 2002, com Nuno Cera) e Melancolia e Arquitectura em Aldo Rossi (Orfeu Negro, 2016). Diz André Tavares que “Seixas Lopes pensava de um modo cinematográfico.” Os seus interesses não conheciam fronteiras; toda a cultura lhe interessava: o cinema dos artistas e dos autores, a música dos punk-rockers e dos cantautores, a banda-desenhada e, claro está, a arquitetura, cada texto marcado por uma “permeabilidade disciplinar que caracterizava o seu olhar.” As mais de 800 páginas deste impressionante volume dão conta de um arquivo muito vivo. RG
Dafne Editora
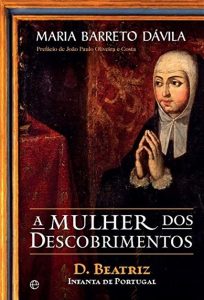
Maria Barreto Dávila
A Mulher dos Descobrimentos
No prefácio deste livro, escreve a historiadora Maria Barreto Dávila: “As mulheres estão normalmente ausentes do discurso historiográfico sobre a História da Expansão e dos Descobrimentos Portugueses. A única mulher presente no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, é a rainha D. Filipa de Lencastre, aí representada por ser a mãe da Ínclita Geração. Porém, as mulheres foram agentes activos da Expansão Portuguesa. Entre elas, a que mais se destaca é sem dúvida a infanta D. Beatriz de Portugal, duquesa Viseu e de Beja, e governadora do Atlântico”. A autora traz-nos a primeira biografia de D. Beatriz, mulher dos Descobrimentos, sobretudo no que diz respeito aos avanços levados a cabo pelos portugueses nas ilhas e na costa do Atlântico. Governou entre 1470 e 1483 os arquipélagos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, cabendo-lhe velar pelo crescimento económico da madeira pelo povoamento dos Açores e pelo desenvolvimento de Cabo verde. A obra acompanha as suas origens, a sua formação, a sua ascensão entre homens, o seu carácter e o seu legado.
A Esfera dos Livros
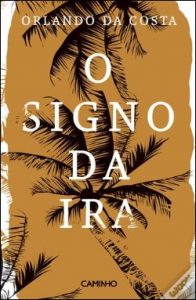
Orlando da Costa
O Signo da Ira
O Signo da Ira (1961), foi o primeiro romance do autor, galardoado com o Prémio Ricardo Malheiros da Academia de Ciências de Lisboa, a mais importante distinção portuguesa para obras literárias do seu tempo. O romance, reflectindo a influência neo-realista, conduz-nos pelos conflitos sociais e humanos da sociedade goesa durante o salazarismo, aprofundando e explorando as memórias da história colonial portuguesa na Índia. A acção decorre durante a II Grande Guerra, na então denominada Índia Portuguesa, e retrata a rígida estratificação traduzida pelas castas locais e a intromissão protagonizada neste sistema pelos expedicionários portugueses. Num ambiente de opressão e miséria, decorrente da prepotência das castas superiores e das agruras do clima e das condições agrícolas, surgem as inesquecíveis personagens femininas revelando uma força interior e uma atitude de revolta ausente nos homens. Este belíssimo romance é agora reeditado com prefácio de Gonçalo M. Tavares e posfácio de Rosa Maria Perez.
Caminho

T. S. Eliot
O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gambá
Nos anos 30, T. S. Eliot escreveu, sob o pseudónimo de Old Possum, uma série de poemas sobre gatos que enviou por carta aos seus afilhados. Um poema inicial sobre o nome dos gatos e um final sobre o tratamento dos gatos abrem e fecham uma coletânea sobre o comportamento de 13 felinos: da velha Gruda, a gata doméstica, ao Bustopher Jones, o gato citadino, passando pelo Mungojerrie e o Rumpelteazer, os gatos artistas, hábeis rapinantes, Gus, o gato do teatro ou Macavity, o gato mistério. Para além de “outros tantos e diferentes / de muitos tipos, muitas mentes” demonstrando que, afinal, “Os Gatos são iguais a nós”. A presente edição bilingue (português/inglês) de um clássico da literatura infantil do século XX, da autoria de um dos seus mais influentes poetas, Prémio Nobel de Literatura de 1948, constitui um grande acontecimento editorial. Tradução do poeta Daniel Jonas e ilustrações originais de Edward Gorey.
Assirinha

Patricia Reis
As Crianças Invisíveis
Patrícia Reis nasceu em 1970, em Lisboa. Começou a sua carreira de jornalista em 1988. Estreou-se na ficção em 2004, com Cruz das Almas. A sua novela O que nos separa dos outros por causa de um copo de whisky (2014) ganhou por unanimidade o Prémio Nacional de Literatura da Fundação Lions. Quem são as crianças invisíveis de que fala no seu mais recente romance? São as crianças vítimas de abandono, maus-tratos e sujeitas a processos de adopção a ser usada e devolvida por famílias sucessivas, representadas por M, a protagonista desta obra tocante. Esta é a sua história até chegar à idade adulta, atravessando um processo de invisibilidade, no qual a dor se confunde com a esperança de encontrar uma vida a que possa chamar sua. Construindo toda a narrativa de uma maneira muito original, sem identificar o sexo das crianças, e a partir do olhar delas, a escrita límpida, poderosa e cirúrgica de Patrícia Reis conduz-nos, neste romance avassalador, através dos sonhos, do medo e da intimidade de um conjunto de personagens que percorrem a infância e a adolescência sem pai, nem mãe, nem identidade
Dom Quixote

Mário Moura
A Força da Forma
A Força da Forma problematiza a identidade do design português e as suas múltiplas intersecções com outros formatos sociais e institucionais. Numa reflexão crítica sobre a contaminação das formas gráficas pelos regimes políticos, o mercado e a tecnologia, Mário Moura revela como o discurso do design nunca é puramente visual. Desenvolvidas a partir da exposição homónima no âmbito da Porto Design Biennale 2019, as crónicas historiográficas apresentadas traçam um percurso amplo, por vezes inesperado, desde as práticas do design no Estado Novo ao diálogo com a arquitectura e a banda desenhada. Mário Moura é crítico de design, conferencista e blogger. Lecciona actualmente História e Crítica do Design na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, integrando também o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS). Escreve regularmente para jornais, revistas e no blogue The Ressabiator. É autor do livro Design em Tempos de Crise (Braço de Ferro, 2009) e editor da revista Monumentânea (Grandes Armazéns do Design).
Orfeu Negro
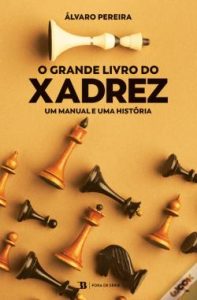
Álvaro Pereira
O Grande Livro do Xadrez
Na obra-prima de 1957, O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, um cavaleiro medieval que regressa das Cruzadas vê-se confrontado com a figura da Morte. Propõe-lhe um decisivo jogo de xadrez com duas exigências: uma trégua enquanto o jogo durar e, em caso de sua vitória, ser deixado em paz. Não foi por acaso que Bergman escolheu o xadrez, pois ele é o jogo de estratégia por excelência que só um grupo muito pequeno de pessoas consegue dominar com elevada mestria, sublinhando assim a grandeza e a nobreza do duelo em causa. As origens do jogo do xadrez perdem-se nas brumas do tempo, mas nos nossos dias é utilizado e recomendado como instrumento fundamental para desenvolvimento de capacidades de liderança estratégica e como desafio intelectual para os mais jovens desenvolverem a concentração e a literacia estratégica. O presente livro é a mais completa e abrangente abordagem ao jogo nos seus fundamentos práticos, teóricos, estratégicos e nas suas mais variadas manifestações culturais. Uma abordagem inédita ao mundo do xadrez, alternando capítulos de natureza técnica, que compõem um manual completo do jogo, com outros, que compilam a história, as lendas e episódios curiosos que ajudaram a criar a sua mística.
BookBuilders
Fale-nos da sua carreira como bailarino e do seu ingresso no Ballet Nacional da Croácia.
Após terminar o Conservatório, estive dois anos em Zurique a estudar e fui depois para Helsínquia, para o Ballet Nacional da Finlândia, onde estive dois anos e dancei alguns papéis solistas. Foi entre os meus 19, 21 anos. Depois vim então para a Croácia, o país da minha mulher, também bailarina no Ballet Nacional da Croácia. Estamos aqui há nove anos e fomos ambos promovidos a bailarinos principais.
Como apresentaria o Ballet Nacional da Croácia a alguém que nunca assistiu a qualquer dos seus espetáculos?
A companhia tem estado a crescer muito por obra do seu diretor, Leonard Jakovina. Temos um repertório bastante diversificado, com bailado clássico e com os bailados dramáticos, como o Morte em Veneza, baseado no livro de Thomas Mann, que contam uma história de forma moderna. Criámos Anna Karenina, agora Morte em Veneza, e vamos estrear Orgulho e Preconceito, baseado em Jane Austen. E fizemos ainda The Glembays, a história de uma família croata. Já fomos a vários sítios da Europa, estivemos em Budapeste com o Morte em Veneza. Agora Lisboa e depois São Petersburgo. Somos cerca de 80 elementos e, tal como em Portugal, em que a idade da reforma é muito tarde, temos pessoas que já não dançam, mas continuam ao serviço da companhia.

A programação da Ballet Nacional da Croácia é muito eclética, indo do bailado clássico à dança contemporânea. O que prefere interpretar?
Prefiro os narrativos contemporâneos, onde se tem maior liberdade de expressão, tanto no movimento como em relação à personagem. É o que mais gosto e onde me sinto mais à-vontade.
No passado Natal dançou, com grande sucesso, o papel titular no Quebra-Nozes. O que trouxe de novo um papel como este que já foi dançado milhares de vezes e pelos melhores interpretes de sempre?
No bailado clássico há certas coisas rigorosas que temos de fazer em termos de técnica. Em matéria de personagem, tentei colocar algo de meu, da minha forma de ver um príncipe, e ao mesmo tempo tentei ser gentil, porque o coreógrafo é uma pessoa muito gentil, que explora uma forma de movimento muito suave. E como também dancei com a minha mulher, foi fácil sentir-me apaixonado pela Clara.
O que gostaria de dizer sobre esta produção de Morte em Veneza, que traz a Lisboa?
É um bailado bastante especial que não consigo categorizar. Tem uma dimensão cinematográfica, que vem do uso do vídeo, e não há só dança. Tem momentos puramente visuais onde ninguém está a dançar. É um tipo de bailado que as pessoas em Portugal não estão habituadas a ver, tanto quanto sei daquilo que constitui o repertório da Companhia Nacional de Bailado. Além da versão que aqui apresentamos, onde a coreógrafa Valentina Turcu fez um trabalho esplêndido, esta história só foi coreografada uma outra vez.

Neste bailado interpreta a figura do Anjo da Morte. Quais os principais desafios que apresenta este papel?
Sou o Anjo da Morte, mas noutras partes faço o deus Eros, o que exige uma técnica de improvisação que é, digamos, mais erótica. Isso foi o mais difícil, porque não me senti à-vontade a improvisar com aquela forma de movimento. Para além disso, filmámos um vídeo em que tive de falar para a câmara e de fazer coisas com o corpo a que não estava habituado. Mas essa transformação entre personagens e a mudança de caráteres é o mais difícil.
Qual o bailado clássico que sonha interpretar?
Há o Onegin, de John Cranko, e o Don Quixote, cujo carácter da personagem me identifico e o qual me habituei a ver desde criança. Dos clássicos diria que estes dois.
E o coreógrafo contemporâneo com quem gostava de trabalhar?
Gostava muito de trabalhar com Jiří Kylián. Com o Ohad Naharin já trabalhei, mas gostaria de trabalhar mais. Akram Khan é também alguém com quem gostava de trabalhar.
O que espera deste encontro com o público português?
Nunca dancei para o público português. Estou muito ansioso e ao mesmo tempo feliz. Só quero que gostem da dança. Estou muito orgulhoso de trazer a companhia onde trabalho a Portugal, e logo com um bailado muito bonito. Existem pessoas da minha família, e pessoas que me conhecem desde criança, que nunca me viram dançar. Saí de Portugal com 17 anos e volto agora com 30. Espero que seja um momento bonito.
Mais de 40 anos depois de Heiner Müller a ter escrito, ainda não é fácil definir um objeto tão complexo como A Máquina Hamlet. Em pouco mais de um punhado de páginas, o dramaturgo alemão conjuga uma crítica à História da Europa, ao teatro e à própria situação política do país natal, ainda dividido em dois e com regimes políticos antagónicos. Um texto, como sublinha Jorge Silva Melo que agora o leva a cena, escrito “como que entre o Maio de 68, que aconteceu 10 anos antes de Müller ter concluído a primeira versão, e a queda do muro de Berlim, uma década depois.”
Hoje, a história de A Máquina Hamlet “é ouvida de outra maneira”. “As ruínas da Europa agora são outras e o texto ganhou novas qualidades”, frisa Silva Melo num convite à sua redescoberta.
Clássico do teatro moderno, a peça rompe com as regras daquilo que é a convenção teatral. Aliás, Silva Melo, elenca-o entre “os textos mais estranhos da História do Teatro”, lado a lado com Os Cenci de Antonin Artaud e As Quatro Meninas de Pablo Picasso. “É tão fragmentário, tão incompreensível, que me fascinou desde o dia em que o li pela primeira vez, em Paris, na casa de um amigo meu. Depois, vi várias produções da peça, entre elas, duas, bastante distintas, do Bob Wilson.”
Para lidar com a estranheza e tornar menos críptico o contacto com o texto, a encenação “procura que cada frase do texto tenha a capacidade de ecoar no espectador como uma onda quando estamos a olhar o mar”. Afinal, A Máquina Hamlet tem de ser digerida porque “é uma peça analítica, não romântica. A peça analítica de um cadáver, o do homem que foi Hamlet.”

O cenário são “as ruínas da história”, a agonia do “macho”, que declara, precisamente, “eu era Hamlet”, naquele que é um premonitório anúncio da sua impotência para mudar o rumo das coisas. “Esse papel de força perante a História, até ai masculinizado, caberá, segundo Müller, à mulher, mais especificamente a Electra” (“ela é a violência sem a melancolia de Hamlet”), sublinha Silva Melo, recordando o monólogo final em que Ofélia, a submissa noiva de Hamlet, assume o papel da heroína da mitologia grega e evoca liderar a revolta contra o estado do mundo. “A peça fala, portanto, da passagem do masculino para o feminino, a mulher como futuro do homem, algo que só descobri anos depois de a ter lido pela primeira vez.”
Para interpretar “o jovem Hamlet, esse herói romântico falido”, Silva Melo escolheu João Pedro Mamede, sublinhando que o ator “conjuga de modo exemplar a ferocidade e a fragilidade, a agressividade e a ternura. Há um romantismo no João Pedro que é muito próprio da imagem tradicional do Hamlet. Depois, ele é um ator da palavra, perfeito a dar o tempo do texto, sem precipitar, sem cavalgar. Foi imediatamente nele que pensei para o papel.”
O espetáculo conta ainda com interpretações de Américo Silva, André Loubet, Hugo Tourita, João Estima, José Vargas e Inês Pereira, no papel de Ofélia/Electra. A participação especial do contrabaixista João Madeira entrega “substrato ao indizível” desta sempre fascinante obra-prima da dramaturgia ocidental, em cena no Teatro da Politécnica, até 22 de fevereiro.
São madeirenses. Que influência é que as origens têm na vossa música?
Bruno Santos: Foi na Madeira que comecei a tocar, durante a adolescência. Tinha muitos vizinhos que tocavam e houve uma altura em que tive aulas com o professor (e músico ligado ao jazz) Humberto Fournier. Esses contactos foram decisivos. Entretanto vim para Lisboa estudar para o Hot Clube, enfim, fiz um percurso mais ou menos natural, parecido com o do André. No meu caso, só alguns anos mais tarde é que a música tradicional madeirense, através dos instrumentos tradicionais, começou a ter uma preponderância naquilo que toco e na música que fazemos. Acho que isso tem a ver com o facto de estarmos longe… Parece que nos aproxima mais das nossas raízes.
O facto de serem irmãos traz mais vantagens ou desvantagens ao vosso projeto?
André Santos: Penso que traz sobretudo vantagens, porque damos-nos bem quer musical, quer pessoalmente. Não há guerras [risos]. Podemos não concordar a 100% com alguma coisa mas facilmente damos o braço a torcer e ouvimos a opinião do outro. Nunca há grandes discórdias.
Muitos miúdos criam bandas com irmãos e primos. Isso aconteceu-vos ou os Mano a Mano surgiram mais tarde?
AS: Temos uma diferença de idades grande, praticamente 11 anos. Na nossa família há um tio que tem uma coleção de discos gigante. Ele foi uma influência grande para nós. Os nossos pais também sempre ouviram música variada, mas este nosso tio era mesmo viciado em colecionar música e oferecia-nos discos com frequência. Em miúdo, via o meu irmão mais velho a tocar guitarra e também queria tocar. Comecei por brincadeira, e quando comecei a tocar melhor comecei a acompanhá-lo. Ele seguiu música e eu quis seguir as pegadas dele. Aos poucos e poucos, quando comecei a levar a música mais a sério, pensámos fazer um duo. Somos irmãos, tocamos os dois guitarra, eu sou esquerdino, ele é destro, e de repente, quando começámos a fazer os primeiros concertos, em clubes e sítios pequenos, as pessoas começaram a dizer que tínhamos uma grande empatia, que devíamos pensar em fazer algo mais sério. O nosso primeiro disco era de versões, mas depois começámos a querer crescer.
BS: A partir daí é que começámos a pensar nisto como algo a longo prazo: preparar repertório, pensar onde é que poderíamos tocar, pensar num cenário de palco, etc. O primeiro disco foi super descomprometido, gravámos aquilo que costumávamos tocar em casa.
E porquê o jazz?
BS: O jazz apareceu na minha vida porque tive uma banda de rock na adolescência da qual fazia parte um amigo que ouvia muita música brasileira. Foi ele que me convenceu a ter aulas de guitarra com o professor Humberto Fournier, do Conservatório. Ele deu-me a conhecer Tom Jobim, João Gilberto… Isso foi um momento de viragem para mim. Os sons, os acordes… Fiquei fascinado com aquele universo.
AS: Eu, mais uma vez, fui atrás [risos]. Lembro-me de ter vindo a Lisboa com os meus pais assistir ao primeiro concerto do meu irmão [no Hot Clube]. Depois fomos à FNAC comprar uma série de discos de jazz, e o bichinho foi entrando.
Por norma, compõem música instrumental. É um desafio escrever música para acompanhar voz?
AS: Não é necessariamente um desafio difícil, temos é que pensar como é que a coisa poderá funcionar, mas acho que a nossa música é cantável por natureza, por isso não é um universo assim tão distante. Inicialmente, o nosso projeto era um quarteto: duas guitarras, um contrabaixo e uma bateria. A certa altura achámos que esses dois instrumentos estavam a interferir na nossa empatia, por isso decidimos seguir o caminho a dois, mas sempre deixando em aberto eventuais convites a instrumentistas ou vocalistas que acrescentem qualquer coisa ao nosso duo.
BS: O facto de sermos dois guitarristas, um canhoto, outro destro, dois irmãos em despique saudável… Acho que essa é a nossa força e a nossa base. Tudo o resto vem diversificar aquilo que fazemos. A nossa música faz sentido assim porque somos, de facto, instrumentistas.
AS: Tanto eu como o meu irmão costumamos trabalhar com cantores, e gostamos disso. Tanto de tocar, como de ouvir. Volta e meia surge alguma parceria com cantores que gostamos…
Tocam, sobretudo, temas originais, mas também algumas versões. Como fazem essa escolha?
AS: Nos primeiros discos começámos com as versões, músicas que sabíamos os dois e que gostávamos de tocar. Este último disco tem muito mais originais do que versões.
BS: Sentimos essa necessidade. Sentimos que tínhamos espaço para criar música original.
AS: E porque tínhamos sempre boas reações das pessoas quando tocávamos os originais. Para compor é preciso ter essa meta, é preciso obrigarmos-nos a isso, se não a preguiça pode levar a sua avante.
BS: Neste disco, as músicas que não são originais estão relacionadas com a Madeira. Temos o Noites da Madeira e a versão de um standard, um tema do repertório jazzístico, mas que é tocado com instrumentos tradicionais da Madeira.

Para além dos Mano a Mano, cada um tem outros projetos com outros músicos e dão aulas. Como conseguem conciliar tudo?
BS: Dei aulas durante muitos anos, mas neste momento dirijo a escola do Hot Clube, sou diretor pedagógico. Fui lá aluno e dei lá aulas, mas optei por fazer uma pausa nas aulas porque a minha prioridade é tocar. A certa alturei parei e pensei que precisava de mais tempo para tocar, para compor, para estudar, para praticar. Foi uma opção fazer essa redução. O André também tomou essa opção recentemente, está a dar menos aulas…
AS: O percurso normal é darmos aulas, termos vários projetos em que tocamos pontualmente… Às vezes recebemos um convite para tocar pontualmente com alguém, mas nunca é só aquele dia. Tens que ter tempo para aprender o repertório, para ensaiar… Essa é uma gestão difícil de fazer.
BS: Enquanto freelancers nunca sabemos que trabalho vamos ter, por isso vamos aceitando os convites… No nosso caso, de agosto até ao final de outubro de 2019, tocámos todos os fins-de-semana. Neste momento, por ter tomado a decisão de ter mais tempo para mim, estou a correr mais riscos, mas isso também implica um investimento maior em procurar mais. Às vezes, o facto de aceitarmos tudo deixa-nos mais relaxados, estamos sempre ocupados, não temos que procurar nada. É uma decisão de algum risco mas que nos obriga a ir atrás.
AS: O ano passado tive uma semana alucinante: fui tocar à Madeira com um projeto de música tradicional madeirense. Fui no próprio dia, toquei, acordei às quatro da manhã para apanhar um voo para Lisboa, depois apanhei outro para Washington, onde estive dois ou três dias. Voltei, não saí do aeroporto e fui para Madrid tocar com o Salvador Sobral… Quando temos estas alturas assim e chegamos a casa, só queremos descansar. Mas depois até temos dois ou três dias livres que devíamos aproveitar para trabalhar, mas o corpo já não consegue. Como somos os patrões de nós próprios e temos de saber gerir o nosso tempo, sabemos que devíamos aproveitar esses dias para trabalhar, mas só queremos descansar… Torna-se difícil fazer essa gestão.
No dia 25 de janeiro, atuam no CCB com outros músicos em palco, como a Rita Redshoes. Em que consiste este concerto?
AS: Há cerca de três meses fizemos um concerto no Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias, onde quisemos fazer uma coisa diferente. Convidámos a Rita para cantar três temas e também já tínhamos esta ideia – como gostamos dos cordofones madeirenses, que foi um tema que estudei há uns anos – de um dia fazer uma espécie de orquestra de cordofones. Convidámos três amigos nossos que tocam cordofones para fazer um mini-ensemble de cordofones. Fizemos o nosso espetáculo habitual e a meio tivémos estes convidados.
BS: Um dos temas que a Rita canta é Mulher, que faz parte do último disco dela. Fiz um arranjo para incluir quatro cordofones nesse tema. Depois temos uma versão de um tema do Roberto Carlos que se chama Rosinha, cantado pela Rita.
AS: E há ainda um tema tradicional madeirense (e praticamente desconhecido do repertório jazzístico madeirense) que se chama Mil Estrelas. Ainda há muitos músicos de jazz na Madeira, mas houve uma geração de onde surgiu o Max, que, embora seja conhecido por cantar o Bailinho da Madeira, a Mula da Cooperativa ou Casei com uma Velha, também andava pelos meandros do jazz, ia às jam sessions do Hot Clube. Há uma geração de músicos madeirenses de jazz que foi muito forte. Este tema, que é lindíssimo, é do pianista madeirense Hélder Martins. Descobri-o há uns anos, mostrei ao meu irmão e desafiámos a Rita a cantá-lo, que inclui duas guitarras e três cordofones. Vamos também tocar Noites da Madeira, que gravámos no disco, uma versão de uma música do repertório jazzístico madeirense e que foi composto por outro pianista, Tony Amaral, e celebrizada pelo Max. Tocamos também um tema meu, chamado Canção em Lá, que inclui duas guitarras, mas que neste concerto tocamos só com cordofones.
Para este concerto mandaram fazer um cenário especial, assinado pelo ateliê de arquitetura Ponto Atelier. Valorizam muito o lado visual?
AS: Sempre tivémos essa ideia de criar um cenário que remetesse para uma sala de estar, para criar um clima de maior proximidade com o público. Durante o concerto também vamos contando histórias e a questão do cenário era importante. Desta vez quisémos fazer uma coisa mais sofisticada e desafiei os meus amigos do Ponto Atelier, que são excelentes arquitetos e que já tinham feito cenografias para outros espetáculos. Eles fizeram-no para o concerto do Funchal, e agora vêm de propósito a Lisboa replicar o cenário.
O que se segue individualmente e para os Mano a Mano?
BS: Para o duo, é continuar. Temos mil coisas que podemos fazer com o universo dos cordofones. A tendência será fazer mais música original e continuar a tocar. Já temos alguns concertos marcados para este ano e estamos em vias de confirmar outros. Talvez gravar um novo disco daqui a um ano… A nível individual, estou numa fase de ter tempo para praticar e para estudar, como não tinha há algum tempo. Está a saber-me muito bem, estou a explorar outras coisas e vou continuando a tocar e a fazer uns fins-de-semana no Hot Clube. Tenho umas quartas-feiras a tocar jazz puro e duro. Neste momento, mais a sério, estou focado em Mano a Mano e em ter tempo e espaço mental para mim, para estudar e praticar, e vou continuar como diretor pedagógico da escola do Hot Clube.
AS: Mano a Mano é o projeto principal, onde depositamos mais energia e foco, e depois há outros projetos, que surgiram há uns anos e que este ano vão continuar. Tenho uma parceria com o contrabaixista Carlos Bica, do qual surgiram dois projetos: um trio com ele e com o João Mortágua, e outro, que é um quarteto com ele, a Maria João e o João Farinha. Esses são dois projetos que me parecem que têm uma vida longa pela frente. Depois tenho coisas pontuais, como umas parcerias com o Salvador Sobral. Fizémos um projeto, uma brincadeira para a internet, que se chamava Quinta das Canções, em que todas as quintas lançávamos uma música, durante 22 semanas. Daí surgiram alguns convites para concertos. A nível individual, estou com vontade de gravar um novo disco em nome próprio, coisa que não faço desde 2016. Há essa vontade, vamos ver se tenho tempo, energia e cabeça para isso.
Para a edição de janeiro da Agenda Cultural de Lisboa, falámos com artistas, programadores, arquitetos, gestores de equipamentos e projectos, cujo trabalho reflete estas preocupações e que nos deixam algumas reflexões que apontam caminhos de mudança.
Bordalo II
Artista Plástico
Quando se fala destas temáticas de cultura e sustentabilidade, é um artista cujo trabalho assenta como uma luva. Porém, Artur Bordalo ou Bordalo II como é mais conhecido, refere que quando começou não teve em consideração o potencial pedagógico que o seu trabalho poderia ter. A utilização de desperdícios como matéria prima surgiu por acréscimo, de forma espontânea, e depressa percebi que havia mais qualquer coisa que eu podia fazer, dar um contributo não apenas visual, mas também pedagógico.
Os animais que escolhe retratar não são obrigatoriamente espécies ameaçadas, mas considera que vivemos num momento tão delicado que todas as espécies estão ameaçadas de extinção, incluindo a humanidade. As medidas que devem ser tomadas já levam 50 anos de atraso, desde os primeiros alertas dos cientistas. Se não as tomarmos muito rapidamente, começa a ser dúbio definir o que é uma espécie ameaçada. Há as que infelizmente já estão extintas, outras em sério risco, mas ainda vamos a tempo para que isto não seja mais abrangente. Concorda que a arte tem de ser livre: ninguém tem de me acorrentar a uma só ideia, mas pessoalmente acredita que deve aproveitar o facto de ter visibilidade para chamar a atenção para assuntos relevantes e contribuir para mudar alguma coisa, especialmente nos dias de hoje com toda a visibilidade disponível, devemos tentar influenciar e ajudar a encaminhar o mundo num sentido melhor.

Jorge Andrade
Diretor Artístico da Mala Voadora
A Mala Voadora apresentou um espetáculo em 2018 no Teatro São Luiz, em que se ironizava sobre esta temática. Chamava-se Amazónia e retratava um grupo de artistas de vanguarda que vai para a Amazónia fazer uma telenovela ecológica e nesse processo acaba por provocar a destruição de toda a floresta. Jorge Andrade prefere este tipo de abordagens: embora me possa interessar uma temática como a ecologia, o nosso trabalho não é dar lições de moral às pessoas e dizer-lhes como devem ou não viver. Considera que o papel da arte é de agitar consciências e levar as pessoas a reequacionar a sua realidade, mas não no sentido de apontar um caminho. Pensa também que se assiste hoje a um excesso de oferta, uma espécie de capitalismo cultural consumista em que, para se afirmar, uma companhia precisa de produzir cada vez mais espetáculos e coproduções. É uma lógica que a Mala Voadora gostaria de contrariar: esperamos que num futuro próximo, retirarmo-nos deste aceleramento, tentar criar menos. Com a rede de teatros que já há pelo país, as companhias podiam fazer uma peça por ano com garantia de capitalizar o investimento financeiro e artístico com a circulação da peça pelo país. Fazer menos, com maior qualidade acaba por ser mais amigo do ambiente.

Rosalia Vargas
Diretora Pavilhão do Conhecimento / Ciência Viva
O Pavilhão do Conhecimento tem responsabilidades acrescidas no que toca à sustentabilidade e consciência ecológica, como instituição dedicada à divulgação e pedagogia científica. Para Rosalia Vargas, diretora da instituição, este pendor expressa-se desde logo no desenho do espaço, na utilização de energia e outros aspetos físicos mas também nas condições de trabalho e na seleção e preparação dos colaboradores. Atualmente preparam uma grande exposição sobre a água: Água, Uma Exposição Sem Filtros, a estrear em outubro deste ano. Respeito, democracia, partilha, e o bom uso deste bem precioso serão as linhas mestras da exposição. Rosalia Vargas salienta o papel fundamental do Pavilhão do Conhecimento na pedagogia científica, sobretudo entre crianças e jovens: está provado que quanto mais cedo se intervém na literacia científica, melhores são os resultados. Mas, diz ainda, é um trabalho que é preciso manter porque quando os jovens saem da escola deixam de ter contacto com a ciência. Por isso trabalhamos em colaboração com muitas outras instituições científicas e não só, neste desígnio. Considera que têm a responsabilidade de divulgar as tecnologias e os desenvolvimentos científicos que possibilitam utilizações mais inteligentes e eficientes dos recursos naturais. São parceiros da CM Lisboa no programa Lisboa Cidade Verde 2020.

José Mateus
Presidente da Trienal de Arquitetura de Lisboa
A Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019 chegou ao fim, mas mantém-se no CCB até 16 de fevereiro a exposição Agricultura e Arquitetura: Uma Visão a partir do Campo que foca justamente um dos aspetos relevantes da sustentabilidade na arquitetura. Diga-se que esta edição Trienal tinha como subtema implícito a sustentabilidade, como nos referiu o seu curador principal Éric Lapierre em entrevista na edição de outubro. José Mateus, arquiteto fundador da ARX Portugal, docente e presidente da Trienal resume o conceito numa frase: quando a arquitetura é competente, é sustentável. Para ele, a sustentabilidade na arquitetura é um tema vastíssimo que vai desde a conceção do território ao desenho do edifício. E não tem de ser necessariamente erudita e tecnológica: a arquitetura popular pode ser muito racional e sustentável. Por exemplo, o monte alentejano, na sua relação com o vento, com o sol, o modo como preserva as temperaturas e utiliza materiais disponíveis localmente, tudo é sustentável, feito com poucos recursos, sempre melhorados ao longo dos tempos e deixa uma pegada ecológica pequena. É na relação entre o campo, produtor de alimentos, e a cidade, onde são consumidos, e a distância que os separa, onde jaz uma das vertentes da sustentabilidade. A distância deve ser encurtada e a cidade pode começar a contribuir para a produção de alimentos. Refere que hoje, o caminho para pensar as cidades sustentáveis é encurtar distâncias, densificar, e essa densificação tem de ser inteligente. É uma realidade aceite mundialmente como a estratégia a percorrer. Especialmente em países com recursos limitados como Portugal.

Rúben Teodoro
Colectivo Warehouse
O Colectivo Warehouse (com c, à antiga) existe desde fevereiro 2013. É um ateliê com três sócios fundadores que trabalha exclusivamente em projetos com relevância cultural ou social, e preferencialmente em projetos que abarquem ambas as vertentes. O seu processo de trabalho envolve uma participação muito ativa por parte dos clientes ou utilizadores finais, sempre com abordagens específicas e nunca repetidas. Rúben Teodoro, um dos fundadores, reforça a desta arquitetura participativa: envolvemos muito o público-alvo. Chamamos todos os envolvidos e procuramos compreender se é exatamente o que querem, procurando desde o início envolver o utilizador final, o morador ou até o visitante do espaço. Os clientes são tão diferenciados quanto os métodos, vão desde câmaras municipais, como a de Lisboa, e juntas de freguesia, a festivais como o Boom, à Associação de Vítimas de Pedrogão Grande. Fazem muitos projetos temporários e tudo o que criam obedece ao máximo possível de sustentabilidade, desde a origem e escolha de materiais, à reutilização dos mesmos: o conceito de economia circular é fundamental para nós, usamos materiais poucos processados, com pegada ecológica reduzida, e pensamos na vida dupla ou mesmo tripla dos materiais. Temos um reaproveitamento de quase 100% das sobras dos projetos. Fazem projetos em regiões fora da Lisboa e no estrangeiro em que procuram sempre envolver a economia local, poupando assim nas deslocações e facilitando assim a apropriação local dos projetos. Estão também ligados a uma rede europeia, a Construct Lab, uma espécie de coletivo de coletivos, uma rede informal que partilha valores e processos de trabalho em projetos colaborativos.
Alvaro Pirez d’Évora é uma dos mais antigos pintores portugueses de que há conhecimento?
É um dos mais antigos e é o primeiro de que existe obra conhecida. Alvaro Pirez está documentado em Itália, na zona da Toscânia, nomeadamente em quatro cidades à volta de Florença: Pisa, Luca, Prato e Volterra. Não é só o primeiro pintor com obra conhecida, é também uma das primeiras personalidades portuguesas com impacto na cultura europeia. Antes temos um papa e um Santo António, mas, no que respeita à cultura visual, o Alvaro Pirez é, de certeza, o primeiro português a ter um impacto relevante numa época e num local em que essa cultura é de uma efervescência enorme, já que estamos a assistir ao início do Renascimento.
A formação dele terá sido já feita em Itália ou anteriormente?
Não se conhece nada dele em Portugal antes dessa altura. E em Itália, embora ele só esteja documentado a partir de 1410, pensa-se que já lá estaria desde o início do século XV, desde os primeiros anos. Nessa época, praticamente não existia escola de pintura em Portugal. O rei contemporâneo de Alvaro Pirez era o D. João I, que é o primeiro rei a ter pintores ao seu serviço, entre os quais, curiosamente António Florentim, um italiano que vem para cá na mesma altura que Alvaro Pirez vai para lá. O mais provável é que, se Alvaro Pirez já tivesse ido para Itália com uma formação como pintor, ela tivesse sido feita em Espanha, onde existiam grupos de pintores, inclusive italianos, como o Gerard Starnina, que influencia muito o estilo do Alvaro Pirez. Mas tendo em conta que as primeiras obras do Alvaro Pirez têm um estilo menos elegante, mais rígido e mais próprio da pintura de Pisa, com figuras mais monolíticas que parecem maciços escultóricos e com linhas mais retas, dá ideia de que ele possa ter tido uma aprendizagem precisamente em Pisa. Algo que caracteriza muito a pintura de Alvaro Pirez é a forma extremamente imaginativa, diversificada e rica como ele trabalha o puncionamento do ouro, e, por essa razão, houve quem apontasse a ideia dele ter ido daqui não com formação em pintura, mas com uma formação de ourives, que essa, sim, era uma arte bastante mais desenvolvida em Portugal na altura.
No retábulo da igreja de Santa Croce de Fossabanda, o pintor assinou como Álvaro Pirez d’Évora. Como foi comprovada essa origem?
Se ele o diz e foi ele que escreveu, temos que acreditar. É, de facto, a única referência a Évora que se conhece do Alvaro Pirez. Hoje em dia conhecem-se três obras assinadas pelo Alvaro Pirez, embora se saiba, por relatos antigos, que outros três conjuntos estão também assinados. Em todos, ele assina ou em italiano ou em latim, como no retábulo de Volterra, que é uma das peças que está nesta exposição. Esta obra de Fossabanda é a única em que ele assina em português, o que levou Reinaldo dos Santos, que viu a obra em 1921 e a publicou no ano seguinte, a considerar que seria uma das primeiras obras assinadas do Alvaro Pirez, dado que ali assinava em português e depois passou a assinar em italiano e em latim. Mas o que a crítica hoje considera, de uma forma mais ou menos unânime, e esta exposição mostra isso de uma forma cabal, é que essa obra do Alvaro Pirez é de tal forma evoluída e requintada que não podia ser uma das suas primeiras obras, mas sim uma das obras da sua fase madura. Por alguma razão, ou de sentimentalismo ou de imposição do mecenas, ele resolveu inscrever Alvaro Pirez d’Évora na pintura de uma forma tão visível que dá a ideia de que ele quis verdadeiramente assumir a sua nacionalidade e a sua proveniência.

As poucas mais de 50 obras do pintor que chegaram aos nossos dias pertencem ao período 1410-1434 em que trabalhou na Toscana, ou sabe-se de alguma obra que tenha sido criada fora desse período?
Nesta exposição recuámos um pouco a cronologia do Alvaro Pirez para o início do século XV. Ele deve ter estado em Itália, pelo menos, desde a primeira década do século XV até 1434 e certamente não morreu logo a seguir a fazer o retábulo, por isso é provável que a sua obra tenha continuado durante mais algum tempo. Há três obras muito parecidas, sendo uma delas aquela que foi comprada pelo Museu de Évora no início deste milénio. Até há muito pouco tempo a crítica datava-a de 1410, mas hoje pensa-se que tenha sido pintada entre 1400 e 1405 porque reflete, exatamente, esse estilo mais monolítico, mais pisano, que o Alvaro Pirez vai depois abandonar para dar início a uma pintura mais requintada e cada vez mais elegante.
Esta exposição enquadra-o nos grandes pintores toscanos do seu tempo. Em que é que a sua obra se distingue dos seus contemporâneos?
Essa pergunta é muito curiosa porque, vendo de fora, temos tendência a considerá-lo um típico pintor da Toscânia do gótico final. No movimento cultural desta época há uma geração de pintores novos que está a iniciar o Renascimento, enquanto uma outra geração continua a trabalhar dentro do mais refinado gótico final, que está no auge da sua pujança. A crítica italiana antiga e contemporânea tende a reconhecer sempre nas obras de Alvaro Pirez um exotismo que lhe advém do seu passado cultural na Península Ibérica e em Portugal. Alvaro Pirez tendia a pintar as suas virgens com os panejamentos à volta da cabeça em forma de turbante e a colocá-las sentadas no chão, em almofadões, com gosto pela joalharia. O pintor português utilizava cores intensas, jogando com cores opostas lado a lado, o que dão um carácter de individualização, sem perder essa essência de pintor italiano da Toscânia.
Onde se podem encontrar obras do pintor em Portugal?
Antes da exposição de 1994 não existia nenhuma. Mais tarde, quando eu era diretor do Museu de Évora, comprou-se uma obra que foi a primeira dele numa coleção pública portuguesa. Há dois anos, o Museu Nacional de Arte Antiga comprou outra, A Anunciação. Para além destas, há mais duas em coleções particulares, sendo que uma delas se encontra em depósito neste museu.
Qual considera ser a importância desta exposição em Portugal?
Esta é uma exposição que nos devia encher a todos de orgulho, porque mostra a importância de um dos primeiros portugueses a situar-se num contexto cultural internacional. A obra deste pintor está muito fragmentada e, pela primeira vez, temos a oportunidade de conhecer o grosso do seu trabalho, já que está aqui exposta mais de metade da sua obra conhecida, que anda à volta das 60 pinturas. Nas próximas décadas, dificilmente se fará outra exposição sobre Álvaro Pires com esta grandeza, onde estão reunidas peças vindas de oito países e de 40 emprestadores diferentes.
Quais são os principais desafios em dirigir o mais importante museu de arte do país num contexto económico-financeiro difícil?
Neste contexto, o mais difícil é, sem dúvida nenhuma, conseguir obter e adequar os meios que um museu necessita à missão que o museu tem em apresentar-se como uma instituição cultural de referência em Portugal, quer ao nível de recursos humanos, que são cada vez mais escassos, quer ao nível da crónica suborçamentação, quer mesmo ao nível da dignificação dos espaços. Até no seu próprio espaço o museu necessita de crescer, necessita que haja um projeto que o prepare para o século XXI. Aqui no MNAA é preciso que, nestes próximos anos, se faça o esforço necessário para ser corrigido o que têm sido décadas de suborçamentação e de sangria de recursos humanos e financeiros e dar, de uma vez por todas, a dignidade de grande museu de referência que o MNAA deve ter.
Falou em recursos humanos: pensa que a falta de técnicos qualificados de manutenção e restauro é um dos principais problemas?
Esse é, de facto, um dos problemas, mas não é o maior. Neste momento o maior problema é a chegada à reforma, nos últimos anos, de uma grande quantidade de conservadores das coleções, sem que haja substitutos para os mesmos. Os conservadores devem ter um conhecimento profundíssimo das suas coleções, que são já de si muito diversificadas, e por isso era imperativo que os substitutos dos que agora se reformam já estivessem no ativo para que pudessem ser formados entretanto. Se não houver mudanças significativas nesta área, o museu deixa de poder cumprir o seu papel.
Visitámos lojas de vestuário, calçado, cosmética, uma papelaria criativa, uma mercearia biológica e um espaço que, para além de ser um cabeleireiro sustentável, tem um café e uma loja amiga do ambiente. Em comum, têm a preocupação de agir hoje para garantir que haverá um amanhã.

Stró
A história da Stró começa em 2012, com o nome Agulha num Palheiro. Inicialmente dedicado a chinelos de retalhos, rapidamente o negócio de Cláudia Mateus cresceu, passando a produzir também mantas, cachecóis, chapéus, sacos e, mais recentemente, peças de vestuário. As matérias-primas utilizadas são todas sustentáveis, evitando materiais que dificultem o processo de reciclagem/compostagem. Os artigos da Stró são elaborados com pura lã virgem, lã churra, lambswool, algodão, linho e caxemira. Aqui não existe o conceito de coleção sazonal e todas as sobras de tecido são aproveitadas para elaborar artigos mais pequenos, evitando o desperdício. Os direitos dos trabalhadores são também uma preocupação da Stró, que paga aos seus funcionários ordenados acima da média e se preocupa em produzir em zonas do país com baixo nível de empregabilidade. Atualmente o negócio conta com três lojas: duas na Rua da Escola Politécnica, mais dedicadas aos produtos de linho, e a mais recente, na Rua de São Mamede, onde se encontram os artigos de lã.
Rua Nova de São Mamede, 66
216 089 620
www.by-stro.com

Azert
A Azert existe há cinco anos. Esta “papelaria criativa”, como a dona, Marta Borges, lhe chama, nasceu do desejo de ter um negócio próprio. Cansada de trabalhar na área da ótica, Marta resolveu instalar-se em Alvalade. Inicialmente, o projeto abriu portas no Centro Comercial Roma, tendo mudado, um ano depois, para a atual morada, na Rua Dr. Gama Barros, não muito longe da primeira. O espaço vende os mais variados artigos em papel, seja para crianças ou para adultos. Aqui encontra brinquedos, malas de cartão, puzzles, calendários, ‘scrapbooking’, papel de embrulho, papel para origami, paperdolls, agendas, etiquetas, máscaras de papel, balões, e muito mais. É tudo produzido com materiais reciclados (e recicláveis) amigos do ambiente. A ideia é reduzir a pegada ecológica e contribuir para um mundo mais verde.
Rua Dr. Gama Barros, 37 B
912 325 137
www.azert-paperstore.com/

Couve
Vasco Monteiro é o proprietário da Couve, uma loja de calçado vegan onde artigos de pele não entram. Vegetariano há 19 anos e de espírito empreendedor, foi numa viagem que fez a Nova Iorque que lhe inspirou a ideia para o negócio. Na altura ficou fascinado com o conceito de uma loja que visitou, a Mooshoes (loja de calçado livre de crueldade animal) e percebeu que podia trazer a ideia para Portugal, de uma forma mais personalizada. Seguiu-se então uma busca por fornecedores e marcas com que se identificasse mas que fossem, ao mesmo tempo, vegan, ou seja, que não usassem pele nos seus materiais. Ao contrário do que se poderia pensar, não foi assim tão difícil. A localização também não foi deixada ao acaso. A loja situa-se nos Anjos, uma zona a fervilhar com novos projetos alternativos e culturais. Aqui encontra calçado e acessórios como gorros, cintos, meias, cachecóis, mochilas e até livros de culinária vegan. A ideia de Vasco Monteiro, que tem cerca de 9 marcas diferentes no seu espaço, é “normalizar o consumo de produtos vegan”.
Rua Maria, 47 A
218 121 057
www.facebook.com/pg/couvelisboa

Armazém das Malhas
Tiago e Tomás Marques são dois irmãos que herdaram o negócio do avô, o Armazém das Malhas. O conceito surgiu em 1941, na Rua dos Fanqueiros, tendo passado, nos anos 60, para a zona dos Anjos, onde se mantém até hoje. A decoração vintage da loja tem tudo a ver com os produtos que ali se vendem, que são intemporais. Como o nome indica, aqui comercializam-se artigos de malha, desde camisolas, cachecóis, chinelos, meias, echárpes, mantas e gorros, mas também acessórios como cintos ou carteiras. Esta marca de comércio justo preocupa-se em reduzir a pegada ecológica, recorrendo a produção 100% nacional. Os materiais utilizados não são nocivos para o ambiente e não existe exploração de mão-de-obra. O segredo da longevidade, segundo os donos, é a sua relação qualidade/preço, que tem levado a loja a manter uma clientela fixa. Aqui encontra básicos de qualidade, práticos e versáteis, das mais variadas cores. Os produtos estão à venda na loja do Forno do Tijolo, mas também noutros pontos de Lisboa, ou em plataformas online no estrangeiro.
Rua do Forno do Tijolo, 50A
218 145 034
www.armazemdasmalhas.com/

Maria Granel
Foi em 2013, numa viagem a Berlim, que Eunice Maia e o marido Eduardo tiveram a ideia de abrir a Maria Granel. Encantados com a oferta de lojas deste género, o açoriano e a minhota perceberam que Portugal continuava a anos-luz dessa realidade, e decidiram trazer o conceito para cá. Dois anos depois, abria o primeiro espaço, em Alvalade. A ideia é recuar no tempo, para uma altura em que quase tudo se vendia a granel, evitando o desperdício e embalagens desnecessárias. Aqui vendem-se produtos biológicos de consumo consciente, desde café, a todo o tipo de cereais ou especiarias, sementes, gomas vegan, sal ou bolachas. A loja de Campo de Ourique, que abriu devido à necessidade de ter um espaço maior, dividide-se em dois pisos: no primeiro estão os produtos alimentares e, no piso de baixo, artigos de higiene pessoal e para a casa. Também há uma cozinha que serve de apoio aos workshops de macrobiótica e espaço para receber palestras de sensibilização. O objetivo da Maria Granel é despertar consciências e alertar para um consumo consciente, diminuindo o desperdício alimentar.
Rua Coelho da Rocha, 37
214 056 077
www.mariagranel.com/

Pikikos
Natasha Cálem abriu a Pikikos há cerca de um ano. Ligada à área da responsabilidade social e da sustentabilidade, quis abrir um negócio que fosse três em um: Cut, Care, Coffee, um espaço que é simultaneamente cabeleireiro, loja e café, tudo amigo do ambiente e do bem-estar animal. Para ter uma ideia, a água usada na lavagem dos cabelos é utilizada nas descargas do autoclismo, e o mobiliário é feito com materiais amigos do ambiente. Se não se importar de lavar o cabelo com água fria, recebe um café. A loja vende produtos de materiais orgânicos, como velas ou detergentes feitos a partir de óleo alimentar usado. Mas há também uma vertente social: o café de especialidade, feito à mão e de certificado biológico, promove o comércio justo; os artigos de decoração são feitos em bairros sociais na Índia ou no Nepal, e, ao fim de três cortes de cabelo da mesma criança, é oferecido um a uma criança de uma IPSS. Este é o único espaço do género em Lisboa, mas Natasha pretende abrir mais. O objetivo é ser uma plataforma de sustentabilidade que ajude causas sociais e ambientais.
Rua 4 Infantaria, 53C
1350-243
917 849 132
www.facebook.com/PikikosCutCareCoffee/

Organii
A Organii surgiu há cerca de 11 anos, fruto de uma necessidade. Cátia Curica, farmacêutica de formação, sofria de diversas alergias. Depois de experimentar produtos biológicos adquiridos no estrangeiro e de ter percebido que isso fazia a diferença, decidiu, juntamente com a irmã, Rita, abrir em Lisboa um espaço ‘bio’. Nascia, assim, a Organii, uma marca de cosmética biológica que vende cremes, champôs, desodorizantes, sabonetes, maquilhagem e produtos de higiene oral, tudo livre de corantes e conservantes sintéticos ou aditivos químicos. Quando ficou grávida, Cátia decidiu abrir um espaço especificamente para bebés, com produtos de higiene, brinquedos ecológicos e roupa de algodão orgânico. A Organii vende sobretudo marcas internacionais, tendo criado, recentemente, a sua própria marca, a Unii, que produz produtos sólidos como sabonetes, champôs e até pasta de dentes. A primeira loja das duas irmãs abriu no Chiado, em 2009. Seguiram-se Alvalade, a LX Factory, o Príncipe Real e o Porto, mas a ideia é abrir espaços noutras zonas do país.