Este projeto do coreógrafo tem início nos começos do século XX, juntando composições de Maurice Ravel (1875-1937) e Luís de Freitas Branco (1890-1955), e prolongar-se-á num segundo momento pelo século atual, para terminar revisitando a década de 1960.
Gostava de começar pelo título: Maurice Accompagné, título bonito, musical, poético, sugere intimidade. Que importância dá ao título das suas criações e o que disso determina ou é determinado pelo trabalho coreográfico?
Sempre achei que é preciso ter muito cuidado com os títulos, porque tenho a sensação de que um bom título, um título otimista, que abra perspetivas, pode dar uma boa peça. Um título pessimista pode ter o efeito contrário. É uma coincidência, mas tenho sentido isso ao longo dos tempos. Aqui é um título óbvio porque é o Maurice [Ravel] acompanhado pelo Luís de Freitas Branco. De facto o título possui uma musicalidade e além disso precisamos de títulos que nos levem para a frente, e a palavra “companhia” é importante, uma vez que em termos sociais andamos cada vez mais distanciados, mais fechados em nós próprios. Sobre a questão de condicionar ou não a coreografia, posso dizer que muitas vezes dou os títulos e esqueço-os durante o processo de criação. Esta peça é muito debruçada sobre as ideias do século XX, a dança do século XX, aquilo que caracterizou o início deste período: a ligação com o corpo, o encontro do corpo, a verdade, uma febre de quebrar barreiras e normas. Normalmente não gosto de fazer coreografias em cima da música; prefiro que música e coreografia caminhem lado a lado como dois seres que se entendem e têm uma cumplicidade enorme, mas que são autónomos. Desta vez, quis mesmo trabalhar em cima da música, com deferência para com a música, e que a coreografia fosse nesse sentido.
Até aonde pesquisou as biografias de Luís de Freitas Branco e de Ravel e quanto dessa informação enforma este espetáculo?
Começou por ser a intenção inicial, mas acabou não sendo esse o caminho. Claro que tenho conhecimento de acontecimentos ou peripécias, de factos que estão por trás da vida destas pessoas, por exemplo: ambos tinham uma vida facilitada por pertencerem à alta burguesia e faziam música sem terem a sobrevivência como preocupação. Interessou-me particularmente o tipo de dança que se praticou no início do século XX, aquela dança ritualista, muito ligada à terra e a um corpo forte quase tribal, um corpo animal. Fixei-me mais neste caldo cultural que caracterizava as artes deste tempo, a questão surrealista, o expressionismo, a questão da liberdade que foi um vetor muito importante na inspiração e na construção da coreografia.
Muitas pessoas da sua geração tiveram o primeiro contacto com a música de Ravel através da cena do Bolero dançado no filme de Claude Lelouch, Uns e os Outros (Les Uns et les Autres, 1981). Passou-se o mesmo consigo?
Eu não entrei no filme, mas dancei essa peça à volta da mesa, com o Jorge Doon no topo, quando foi feita no Théâtre Royal De La Monnaie de Bruxelas. Estava na escola do Maurice Béjart. O filme veio depois, bastante depois. O Jorge Doon era magnífico no Bolero de Ravel, mas também houve a Shonach Mirk ou a Maya Plisetskaya, entre as interpretações femininas muito interessantes. Esse Bolero de Ravel marcou-nos a todos, não tanto pelo filme, mas pela própria música.
Maurice Accompagné é parte de uma trilogia que se deslocará ainda para os anos 1960 (reunindo Joly Braga Santos e Benjamin Britten) e para a presente década, que juntará a música de Louis Andriessen com a de Luís Tinoco. Que critérios seguiu para agrupar estes três pares de músicos, portugueses e estrangeiros?
Construí este programa em conversa com o Luís Tinoco, a quem manifestei a vontade de ligar três períodos da música: início do século XX, meados do século XX, e o princípio do século XXI. Fomos falando e fechámos os três momentos do programa. Ele fez-me descobrir algumas peças de Ravel e de Freitas Branco. Neste ano de 2025 não seguirei a ordem cronológica do programa: começarei com o início do seculo XX, em seguida apresentarei a peça que diz respeito ao século XXI, com uma composição original do Luís Tinoco e música do Louis Andriessen, que será estreada no Festival de Dança de Cannes, com a Orquestra de Cannes. Só depois concluirei com os anos de 1960.

O compromisso para a criação destes três trabalhos coreográficos sugere que a Companhia Paulo Ribeiro se encontra num período de estabilidade relativamente aos seus parceiros no mecenato. A Companhia ressentiu-se de alguma forma no período em que deixou a direção artística da mesma para abraçar outros projetos [Companhia Nacional de Bailado (CNB) e, depois a Casa da Dança, em Almada]?
A Companhia ressentiu-se muito, porque tratando-se de uma companhia de autor, o meu trabalho deveria ter estado mais presente. Foi muito tempo. Na CNB só estive dois anos, porque demiti-me. A São Castro e o António M Cabrita faziam, na Companhia Paulo Ribeiro, enquanto diretores artísticos, um mandato DGArtes de quatro anos, tendo ambos ficado de 2016 a 2021. Nesses cinco anos não fiz praticamente nada na minha Companhia. Em 2021, criei uma peça para assinalar os 26 anos, mas com recurso a coprodutores à parte. Seguiu-se a minha saída de Viseu, a instalação da Companhia em Cascais, e sinto que estamos, agora, a ganhar um outro fôlego.
O eixo franco-belga ainda representa o vetor mais relevante da criação contemporânea na dança europeia, ou outros países vieram juntar-se-lhes ou assumir uma posição de maior importância?
Penso que não. O que acontece em França é que hoje temos o Festival de Avignon a ser dirigido por um português [Tiago Rodrigues], tal como sucede com a Maison de la Danse de Lyon [Tiago Guedes], que são estruturas com uma importância enorme no país. Sobre a questão do olhar que os programadores têm em relação a nós, criadores, diria que os franceses são os mais operantes, os que mantém uma curiosidade e uma relação mais profícua com Portugal. A Bélgica parece ter-se apagado um pouco, mesmo os seus criadores que de algum modo desapareceram: o Alain Platel do [les ballets] C de la B parece ter parado; o Jan Fabre foi interditado de coreografar; a Anne Teresa De Keersmaeker parece ter-se fixado em reposições das suas peças. Quanto a Portugal, temos uma nova geração de coreógrafos fantásticos, da nova e da novíssima dança, de uma criatividade e de uma linguagem muito fortes, que são de facto incontornáveis. Está a acontecer a mesma coisa em África, com coreógrafos africanos que estão a descolar, e no Brasil também, o que faz descentralizar o fenómeno da Dança.
Tamara Alves é uma artista visual, muralista e ilustradora fascinada pela estética da rua e pelo contexto urbano. Natural do Algarve, tem vindo a tecer uma narrativa que celebra de forma crua e poética a vitalidade primitiva das sensações fortes, do devir animal, da paixão bruta, em oposição à deliberação racional. Cinco anos depois da sua última exposição individual na Underdogs, Tamara Alves regressa à galeria para, até 8 de março, mostrar 27 novas obras que combinam desenho, aguarelas, esculturas e dípticos, em materiais tão diversos como a resina e a madeira, e que evocam ausência, silêncio e tensão.
Blue Velvet, de David Lynch
29 janeiro, às 19h15
Cinema Medeia Nimas
Até 17 de fevereiro, a Medeia Filmes apresenta no Cinema Nimas Os enigmas de David Lynch, um ciclo dedicado a um dos maiores realizadores da história do cinema do último meio século, falecido no passado dia 16, aos 78 anos. Ali, vão ser exibidas algumas das principais obras do cineasta, em cópias restauradas. Tamara Alves é uma fã confessa do realizador e, por isso, sugere o seu preferido: Blue Velvet. “De todos os filmes do David Lynch, gosto particularmente do Blue Velvet. O filme marcou-me muito quando o vi pela primeira vez, há muitos anos. Gosto muito da estética, da banda sonora e da Isabella Rossellini”, diz.

Eikoh Hosoe
Até 8 de fevereiro
Ochre Space
Numa exposição inédita em Portugal, a Ochre Space apresenta um conjunto de 15 fotografias tiradas pelo japonês Eikoh Hosoe e que têm como protagonista Yukio Mishima, escritor nipónico várias vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura. Foi, aliás, o icónico Mishima que inspirou um dos projetos mais emblemáticos da carreira daquele que é considerado um mestre dos mestres da fotografia japonesa e uma referência incontornável na história da arte contemporânea. Mas também Tamara se sente inspirada por Mishima e, por isso, destaca esta exposição. “Adoro o trabalho dele e a forma como escreve. Acho que tem, de certa forma, uma escrita obscura e um bocadinho fora do radar. Mishima e Eikoh Hosoe fizeram um livro em conjunto, com fotografias muito íntimas do escritor e são essas fotos que agora podem ser vistas nesta exposição.” Além disso, destaca a artista o facto da mostra “ser de entrada livre e ser fora do circuito mais comercial”.
 À Primeira Vista
À Primeira Vista
Até julho
Teatro Maria Matos
À Primeira Vista (Prima Facie) é, simultaneamente, um poderoso monólogo e um thriller jurídico. Margarida Vila-Nova sobe ao palco do Teatro Maria Matos como Teresa, uma brilhante jovem advogada, numa encenação de Tiago Guedes a partir do texto de Suzie Miller. A peça, uma das mais reconhecidas dos últimos anos, é um olhar incisivo sobre poder, consentimento e lei. Tamara sugere-a “pela sua temática” e porque gosta muito do trabalho de Margarida que, ali sozinha em palco, luta contra todos os julgamentos. “Ela é muito boa. É quase como se não estivesse a representar e ver isso ao vivo é qualquer coisa.”
A Fúria e outros contos, de Silvina Ocampo
Antígona (2021)
Silvina Ocampo (1903-1993), um dos tesouros mais bem guardados da literatura latino-americana do século XX, foi uma poeta singular, mestre na arte de contar histórias. Tamara só recentemente a descobriu, atraída pelo facto de a escritora ter sido cúmplice intelectual e grande amiga de Jorge Luis Borges, que é também uma grande referência para a artista. “Eu não conhecia a Silvina e assim que comecei a ler os contos dela adorei. Acho que são histórias malditas”, diz, entre risos. É que a obra de Silvina narra o teatro da humanidade com distanciamento e elegância, com notas de insólito, fantasia e terror.
Hounds of Love
Kate Bush (1985)
Kate Bush é uma das artistas mais inovadoras da música britânica, conhecida pela sua voz única, pelas letras poéticas e pela sua abordagem ousada e experimental. A sua sensibilidade literária e teatral tornaram-na uma figura singular no panorama musical moderno. “Ultimamente tenho mergulhado novamente na [obra de] Kate Bush. Andei a pesquisar temas dela para ver se me inspiravam para a minha exposição e há algumas músicas que têm a ver com a temática que tenho estado a explorar”, justifica Tamara, que recomenda, em especial, Hounds of Love. Este disco, o quinto da cantora inglesa, é considerado por muitos o melhor de Kate Bush, sendo votado frequentemente como um dos melhores álbuns de todos os tempos.
Entramos pelo Oceano Atlântico e logo começam as descobertas. Afinal, que pinguins são aqueles que se empoleiram nas rochas? Catarina, educadora marinha do Oceanário de Lisboa, apressa-se a explicar que aqueles animais, parecendo pinguins, são, na verdade, araus, aves marítimas, que ali convivem com os papagaios-do-mar.
Esta podia ser uma visita guiada como as outras, mas Catarina, além da mochila que leva às costas, traz também um livro na mão: Vasco e o Mergulho no Tempo, escrito pela equipa de educação do Oceanário e com ilustrações de Mariana Rio, conta a aventura de uma menina que viaja ao passado e encontra a famosa mascote do aquário de Lisboa. É esta história que nos será contada ao longo do percurso do novo programa pensado para famílias com crianças dos cinco aos 10 anos.
Ali, veremos ao vivo muitas das espécies marinhas de que se fala no livro e aprenderemos ainda mais curiosidades sobre cada uma delas. A visita Vasco e o Mergulho no Tempo segue os contornos da história, mas não há como não se ir desviando pelas perguntas entusiasmadas dos visitantes. Existem até pequenos desafios pelo caminho e da mochila de Catarina hão de sair ovos de araus, dentes de tubarão e outros objetos que nos surpreendem.
A ideia, explica a equipa do Oceanário, é usar o novo livro como ferramenta educativa. “Ao criarmos uma história, tornamos a mensagem mais cativante e ao disponibilizarmos um livro, permitimos às famílias que se envolvam na narrativa e transportem as aprendizagens para casa, promovendo práticas sustentáveis no dia-a-dia”, diz Diogo Geraldes, diretor de educação do Oceanário e um dos autores desta história, juntamente com Gonçalo Silva, Isabel Fonseca e Teresa Santos.
O livro foi um verdadeiro trabalho de pingue-pongue entre a equipa do Oceanário e a ilustradora Mariana Rio, que conseguiu um traço que, não sendo realista, respeita as características fisionómicas das espécies e mantém o rigor científico. Numa paleta de cores um pouco mais alargada do que aquela que costuma usar, Mariana encheu as páginas de azul e de delicados desenhos que vale a pena ver com atenção. Porque não cabiam aqui as cerca de 500 espécies que existem no Oceanário, escolheram-se para esta aventura algumas das mais emblemáticas, outras com curiosidades para contar e outras bem divertidas como os peixes que “parecem panquecas”.
Os araus e os papagaios-do-mar também lá estão e ficamos a saber que, no Reino Unido, um destes últimos conseguiu levar 62 peixes no bico de uma só vez, e que os primeiros guardam os seus ovos pintalgados nas falésias para os esconderem dos predadores – o que não entra na história, mas é Catarina que conta em frente ao aquário onde estas aves vivem no Oceanário, é que os ovos são colados às rochas com cocó, não só para ficarem seguros como também para afastarem, pelo cheiro, quem tiver intenções de os roubar.


A visita guiada atravessa os vários oceanos, passa pelo tanque principal e vai parando em vários pontos estratégicos, para ouvirmos a história do livro e falarmos sobre as espécies que vemos à nossa volta. Com uma duração prevista de cerca de 90 minutos, pode ser feita todos os dias, para um grupo máximo de 15 pessoas, mediante marcação prévia no site. Aqui, desperta-se o gosto pelas questões do oceano e também se alerta para a sua defesa e conservação. Para o Oceanário, é importante levar esta mensagem às crianças, mas também aos adultos – em família, todos podem adotar comportamentos mais sustentáveis.
O preço do programa Vasco e o Mergulho no Tempo (54 euros) inclui um bilhete para um participante entre os cinco e os 10 anos e dois participantes com mais de 13 anos (por cada participante extra, cobram-se mais 18 euros). No final, encontra-se o livro à venda na loja do Oceanário (19,99 euros). Quem o levar para casa, pode reviver a aventura de Vasco e Atlântida, a menina que viaja no tempo e que é testemunha de um futuro feliz – é que aqui no Oceanário de Lisboa acredita-se que é mesmo possível salvar o oceano e o planeta. Vamos ajudar?
Foi a pesquisa para o filme Understory (2019), sobre o cacau, que inspirou a realização de Banzo. Porquê este interesse pelo cacau?
No meu processo de criação coloco-me sempre num caminho, que às vezes é mesmo um caminho físico, de pesquisa. Coloco-me numa posição onde as histórias me encontram. Durante o Understory, onde escolhi pesquisar sobre a planta de cacau, passei muito tempo em São Tomé. Comecei pela ligação do cacau com Portugal, interessei-me pelas questões da mão-de-obra, da posição inglesa em 1905 relativa a essa mão-de-obra, e fui a muitos arquivos em Inglaterra, Portugal e São Tomé. Aí, aquele local, com as ruínas das roças, é uma espécie de portal para um passado que parece muito distante, mas não é.
E como é que isso levou a esta outra história?
O tempo colonial, as plantações, a escravatura, estão muito presentes na memória das pessoas de São Tomé e fazem tanto parte de uma paisagem interior como exterior. Depois, nos arquivos tive a possibilidade de aceder a coisas que não entram na historiografia oficial. Temos em Portugal um arquivo de uma roça gigantesca que pertencia a Francisco Mantero e onde estavam guardados pequenos bilhetes dos capatazes e também, algo muito interessante, os relatórios médicos, uma coisa muito quantitativa, que documentava as doenças, as pessoas que morriam, as que saíam, as que entravam. Chamou-me a atenção a existência daqueles hospitais e de haver um esforço tão grande na manutenção da saúde daquelas pessoas, que acontecia não só para ser civilizacional, mas tinha também um lado mais sinistro, por ser uma espécie de “garagem” para manter a mão de obra bem oleada. Daí surgiu a ideia de criar qualquer coisa baseada nisso. Primeiro, deparei-me com a ideia de nostalgia, e depois com a palavra “banzo”, que estava associada à forma como aquela ilha está suspensa e à ideia de suicídio como uma coisa que humanizava, e nessa altura era inimaginável que as pessoas africanas tivessem essa agência sobre si próprias.

De que forma filmar em São Tomé e Príncipe foi inspirador para a narrativa?
Os filmes partem sempre de um sítio e acho que este local era essencial. A Sara Carinhas (que interpreta a Luísa, mulher do administrador da plantação) referiu uma coisa curiosa num podcast: disse que filmar em São Tomé e Príncipe era como se entrássemos no filme naquela época e nunca saíssemos de lá. É por isso que gosto muito de experimentar os espaços, não só como inspiração, mas também porque podem trazer alguma coisa para o que é filmado, para aquilo que se capta na altura.
O sofrimento dos escravos leva-os, compreensivelmente, a desistir de viver. Afonso, médico ocidental e protagonista, percebe a origem do problema, mas pouco consegue fazer. Porque decidiu contar a história da perspetiva deste homem que tem como missão curar os escravos?
A história é essa mesmo: um homem contemporâneo, branco, encurralado numa situação. Porque o sistema colonial enredava toda a gente. Não sei se quantitativamente podemos medir o sofrimento destas coisas, e, claro, há moralmente uma grande responsabilidade da parte de quem explora. Há muitas zonas cinzentas, não é preto e branco, porque há várias pessoas que estão encurraladas. Para mim, contar a história do ponto de vista de um escravo, por exemplo, não faz sentido porque não me sinto sequer com legitimidade para tal. Pode ser contada, mas não por mim. Este personagem branco também não foi criado com a intenção de ser um white savior, porque as pessoas na realidade não vão para lado nenhum, são enviadas por “nós” brancos para um sítio onde ficam para sempre, aquele barco que os leva e onde ainda hoje andam à deriva. Acho que, a haver um white savior, é a Luísa, a mulher do administrador…

É certo que a Luísa parece-nos até certo ponto incomodada com a crueldade da vida no local, mas, quando regressa a Lisboa, leva consigo uma das serviçais negras, obrigando-a a abandonar os filhos menores. Quando pensou nesta personagem tinha como objetivo revelar esta ambiguidade, onde até os que parecem bons são capazes de atos extremamente cruéis?
Sim, acho que no filme há um marco que tem a ver com a própria narrativa. Inicialmente vimo-la só como uma senhorita que percebe haver sofrimento, que há violência, que não quer que se fale de determinada maneira porque é cruel, mas mais tarde vai-se revelando, demonstrando aquilo que, no fundo, é. Por isso afirmei que ela é o típico white savior. Ela acha que está a fazer o bem, mas quase tudo lhe escapa. Se é uma personagem cruel? É cruel, mas é também de uma ambiguidade total e era isso que queria explorar: a falta de sensibilidade. Não se pode dizer que ela realmente queira fazer mal, bater ou chicotear… Acho que o filme tenta colocar-nos nesse lugar que é muito incómodo, porque quando vemos pessoas a chicotear outras, a cometerem atos de violência, não nos identificamos com isso. Mas, quando vemos este tipo de falta de sensibilidade, percebemos que todos a temos um bocadinho, porque há sempre um lado dos outros que nos escapa.
Todas as personagens estão de alguma forma assombradas pela angústia e sofrimento que se vive na plantação. Até a fotografia do filme, a cor, espelham tristeza e dor. Foi intencional transmitir esta desesperança ao espectador?
O filme é pouco colorido, pode até dizer-se que é monocromático. Há muitos verdes, é quase tudo verde. Por isso, sim, quis jogar com isso e com a paisagem, com os nevoeiros, com a chuva. Metade do filme passa-se à chuva. Com o que se vê, com o que se ouve, porque são coisas que se colam ao corpo. Também porque tenho essa relação com São Tomé, acho deslumbrante, mas não é um sítio que me apazigue de todo, há qualquer coisa no lado telúrico daquela floresta que é tão forte que, não sendo ameaçador, é inquietante.

Os administradores das plantações tinham necessidade de retratar o local como um sítio civilizado. Faziam-no obrigando os escravos a posar para fotografias que davam a ideia de que eram felizes e bem tratados. Sente que, ao fazer este filme, está de alguma forma a desmascarar esta tentativa de ocultação da História?
Trabalho há muito tempo estas questões coloniais e a fotografia, na altura, era muito usada no sentido de construir uma realidade. Apesar de haver o lado de encenação, também era usada como prova ou verdade. Quis jogar com isso. Mas, para mim, a questão da fotografia tem mais a ver com o que acontece no final, quando o fotógrafo, Alphonse, interpretado pelo Hoji Fortuna, é incentivado pelo médico a captar o estado real daquelas pessoas e diz que o mal é difícil de fotografar e que temos de dar uma ajuda. Também nesse aspeto a fotografia, como elemento que depois vai ser mostrado no Ocidente, tem de ter uma certa linguagem. O objetivo era fazer uma reflexão sobre essa possibilidade de representar a verdade. Isso também tem a ver com o próprio gesto do filme. Foi muito difícil encontrar uma linha, uma fronteira entre aquilo que se pode mostrar ou não, a forma como se pode representar a violência ou não. Nunca fui uma pessoa que gostasse de estar no centro das coisas mais violentas, gosto mais da violência em ecos, daquilo que sentimos. Toda essa reflexão sobre a fotografia ou o registo, tem a ver com o próprio filme que tenta, no fundo, mostrar ou representar a violência da melhor forma possível. A questão é: qual é essa forma? Não saber, desconhecer esses limites, é algo que leva a uma reflexão muito interessante.
As questões coloniais têm, de facto, estado muito presentes nos seus filmes. Porquê o enfâse na temática?
Não sei bem, não tenho uma agenda, mas sou sempre atraída para o tema. Às vezes penso que é por haver um lado um bocadinho aventuroso. Este é também um filme de aventuras, ou de pessoas que estão numa viagem. Sou muito atraída por isso, o que me leva por caminhos que estão ligados ao passado. É o tipo de território de que gosto ou com que me sinto próxima. Depois tem a ver com um certo território, uma certa paisagem. Não me sinto, por exemplo, atraída se me disserem que vamos fazer este filme aqui em Lisboa. Fico logo aflita porque jogo muito com as paisagens, com as pessoas contra as paisagens, com o estar fora. Depois há também a ligação com o que vivi em pequena, esse tempo colonial. Quem vive esse tempo, mesmo que se seja muito pequenino, fica sempre com uma “sensação”… Como diz a Luísa no filme: “não imagina a velocidade com que a gente se habitua às regras deste lugar, deste sistema”. Eu ficava, quando era pequenina, um pouco assustada, não propriamente com os meus pais, mas com o que via à volta. Tínhamos vindo de uma provinciazinha portuguesa, chegávamos ali e habituávamo-nos a ter aqueles senhores que nos serviam e isso, mesmo para uma pessoa muito jovem, tem qualquer coisa de estranho. Depois ficas sempre, de alguma forma, a tentar desconstruir aquilo.
Embora a violência do passado pareça absurda, continua a perpetuar-se nos dias de hoje. É nesse sentido que considera este filme uma “história contemporânea”?
Sim, porque o sistema de exploração é exatamente o mesmo. No século XX, por volta de 1915 e 1917, estes sistemas começam a acabar e entramos exatamente no mesmo sistema de “uberização” que temos hoje. As pessoas deixam de ser contratadas e dão-lhes a liberdade de ter um pedaço de terreno, elas ficam com o poder ou com a ideia de que têm agência sobre si próprias e são ainda mais exploradas. Esse sistema foi criado nessa altura, logo a seguir ao sistema das plantações e é incrível que ainda hoje seja o mesmo. Tentei sublinhar isso no filme quando o médico, o Afonso, vai falar com o curador dos serviçais e ele diz que os agentes que “importam” pessoas estão sempre a mudar de nome e de sítio, nunca sabe quem são ou onde estão. É exatamente o que se passa hoje: muda-se a localização das companhias, muda-se os nomes das empresas… Depois, há outro lado contemporâneo, que tem muito a ver com a personagem interpretado pelo Carloto, que diz respeito às pessoas que têm uma certa noção do que se está a passar, mas são completamente impotentes. Aparentemente têm agência sobre si próprias mas, na realidade, não têm. Isso é o retrato do que muitos de nós são hoje, sem julgar, porque também eu me sinto nessa situação.
“Gosto de fazer grupos de escolhas, faço isso com os meus filhos, e nunca me abstraio de que sou mãe”, começa por dizer Ainhoa Vidal, bailarina, coreógrafa, figurinista, criadora e artista de muitos talentos. Para esta semana, sugere três grupos de propostas para fazer com crianças, nem todas originalmente pensadas para os mais novos. “Acredito nas coisas para todos”, defende. São assim também os seus espetáculos, normalmente indicados para a infância, mas capazes de encantar e de pôr a pensar também os adultos – e, no final, de gerar diálogos entre todas as idades. Exemplo disso é Aruna e a Arte de Bordar Inícios, que estará no Centro Cultural de Belém nos dias 1 e 2 de fevereiro, com sessões para escolas a 30 e 31 de janeiro. Um espetáculo de teatro de sombras sobre catástrofes, as que “nos afetam enquanto sociedade” e as “outras individuais em que perdemos o chão que nos convinha”, sobre recomeços e reconstruções, sobre “a nossa força de coragem”. Neste trabalho, Ainhoa reuniu uma equipa de luxo: na manipulação dos objetos, estará ela e Carla Martinez; a voz é da sua filha Zoe Vidal; a direção musical e os arranjos de Luís Martins; a composição e as letras de Pedro da Silva Martins; no piano, Joana Sá, e na bateria, Sérgio Nascimento; nos coros ouvem-se o seu filho Theo Vidal, Nazaré da Silva e Aldina Duarte.
“Eu e o outro”
EU
Oficina Retratos, com André Ruivo
Livraria It’s a Book
25 janeiro, 15h30
A partir do seu livro Retratos, o artista André Ruivo faz uma oficina de desenho para crianças. “Acontece numa livraria que adoro e que os meus filhos também adoram, a It’s a Book. Já comprei lá livros para oferecer a crianças e a adultos. Dá para todos e é uma boa ligação entre faixas etárias”, comenta Ainhoa Vidal. “Nos dois últimos dias 25 de Abril, fomos lá fazer uma outra oficina de bandeiras com o André e gostei muito. Ele está ali, não apenas para um público mais novo, mas para todos, e isso é muito bonito.”
OUTRO
Exposição Seres e Animais Fantásticos
Museu Nacional de Arte Antiga
Até 6 abril
Oficina Storyboard para filme de animação
Cinemateca Júnior
25 janeiro, 11h
Também a pensar no prazer de fazer e de descobrir desenhos em conjunto, Ainhoa sugere uma exposição e uma outra oficina. “O Museu Nacional de Arte Antiga tem uma seleção de desenhos da sua coleção, peças do século XVI ao século XVIII, que representam dragões, centauros, sereias e todos esses seres fantásticos, que têm também muito a ver com a animação e a banda desenhada, por isso me lembrei também desta oficina que vai acontecer na Cinemateca Júnior.”

“Pôr os pontos nos is”
Exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. O Colonialismo em África: Mitos e Realidades
Museu Nacional de Etnologia
Até 2 novembro
“Escolhi esta exposição porque sou mãe de duas crianças e uma delas está no sexto ano e me preocupa muito como está a ser dada a disciplina de História e Geografia de Portugal, sem nenhuma reflexão sobre o que aconteceu no século XIX e XX. A matéria está a ser dada como me foi dada a mim e é hora de atualizar a informação e de falar das coisas de forma crua, para que não voltem a acontecer. Preocupa-me imenso o racismo e a xenofobia atualmente.”
Livro Descobri-quê?, de Cátia Pinheiro, Dori Negro e José Nunes
Edições Teatro Nacional D. Maria II
“O livro está disponível na livraria do site do Teatro Nacional D. Maria II e é o texto de um espetáculo que vi no CCB, Descobri-quê?, que fala sobre a linguagem racista e o que não está a ser dito. É dirigido a um público pré-adolescente, mas também a nós. Nem sempre se conseguem ver os espetáculos, mas deste existe um livro e vale a pena ler.”
Espetáculo A Outra Casa da Praia
Quinta Alegre-Um Teatro em Cada Bairro
De 24 a 26 janeiro
Anabela Almeida e o teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser apresentam, na Quinta Alegre, o espetáculo A Outra Casa da Praia, “um diário coletivo de um grupo de mulheres que nasceram em Portugal na década de 40 e emigraram para Moçambique na década de 60”. Criada pela atriz depois de A Casa da Praia, em que falava sobre o seu pai, a nova peça debruça-se agora sobre as mulheres da sua família. “Gosto muito da Anabela, é uma atriz fantástica”, afirma Ainhoa Vidal. “O espetáculo parte de uma história real e é de uma generosidade enorme. Além disso, é sempre bonito quando estamos a ver uma história de uma pessoa e refletimos sobre a nossa própria história.”

“Fora da casca”
Exposição Ângulo Vivo, de Marco Franco
Galeria Bruno Múrias
Até 22 fevereiro
Acabou de ser inaugurada, a nova exposição de Marco Franco, e Ainhoa confessa-se bastante curiosa. “O Marco vem da música, é um grande baterista, passou para o piano e depois para as artes plásticas. Gosto muito destes percursos em que não se tem medo de mudar e de seguir novos caminhos. Fiquei surpreendida quando vi o trabalho plástico dele pela primeira vez, porque não tinha nada a ver com o músico que conhecia. Era incrível.”
Espetáculo Arremesso X, de Sofia Dias e Vítor Roriz
MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
De 25 e 26 janeiro
No âmbito de Disco, a exposição com mais de 500 pinturas de Vivian Suter, que está no MAAT até meados de março, Sofia Dias e Vítor Roriz colocam a sua prática coreográfica em diálogo com a obra desta artista suíço-argentina e com o espaço da Galeria Oval. “Gosto de coreógrafos que fazem espetáculos fora do palco e que entram em diálogo com outro tipo de obras, de ambientes e de público. A Sofia e o Vítor têm feito muito isso e agrada-me bastante.”
Imagine-se 1961, ano em que irrompe a “guerra colonial”. Imagine-se a “metrópole”, mais especificamente o Minho rural e clerical do salazarismo. E uma carrinha da biblioteca itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian, na estrada para levar leitura a quem não tinha acesso a livros por esse país fora. Imagine-se, a bordo, um tal de Luiz Pacheco (1925-2008), o anti-herói de um pequeno grande livro chamado O Libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor que, em 1998, ainda com o autor vivo, o encenador António Olaio decidiu levar para o palco, entregando o papel do protagonista ao então jovem ator André Louro.
Dali para cá, o espetáculo correu o país, foi ao estrangeiro, conheceu duas versões e, vendo bem, “tanto pode ser feito numa sala convencional, como num bar ou numa cozinha” – neste caso, será no subpalco do Teatro São Luiz. Como afiança o ator acerca da portabilidade deste O libertino…, “é perfeito, porque tudo o que preciso para o fazer cabe no meu skoda.”
Na atual versão, não há figurantes nem outros atores, e Louro está sozinho em cena, assumindo o papel do Libertino, que mais não é que o próprio autor. Lembra o encenador, que conheceu Luiz Pacheco em Almada – quando o escritor “ia ao teatro municipal visitar um amigo e aproveitava a ocasião para vender [os seus] livros” –, que toda a obra do autor é autobiográfica, sendo que é em O Libertino passeia por Braga… que, como aponta o investigador Rui Sousa, Pacheco dá plena expressão ao Libertino, “um dos conceitos maiores da iconografia autoafirmativa” do escritor que prosseguirá posteriormente, “culminando na vasta produção diarística”.
Fiel à narrativa, Louro encarna então no Libertino/Pacheco e ao longo de uma hora conta as pícaras aventuras vividas por terras minhotas, sobretudo pela bonita cidade de Braga, onde pernoita na Pensão Oliveira, e vai deambulando em busca dos mais livres prazeres da carne, engatando lolitas mais ou menos devotas e magalas a dias de embarcarem para “Angola-é-Nossa” (assim, zombando, refere Pacheco a antiga colónia portuguesa).

Através do riso, da sátira, da autoironia e de um infinito amor à liberdade, afronta-se a Igreja, pilar do salazarismo, precisamente naquela que era conhecida como a “cidade dos arcebispos”. Nada inocente, é debaixo das batinas que Pacheco quer pecar, naquela cidade bastião das públicas virtudes do regime. Enquanto o faz, vai escancarando os limites provincianos do país de então, com as suas profundas desigualdades sociais e culturais.
“Provavelmente, muitos jovens terão dificuldade em reconhecer algumas das coisas que aqui se dizem, sobretudo pelo retrato feito do país. Não saberão sequer o que é um ‘magala’, embora agora queiram outra vez mandar os miúdos para a tropa”, observa André Louro. Contudo, o ator acredita que “haverá sempre uma ou outra frase ou situação que cada espectador, independentemente da idade irá reter”, afinal, Pacheco é mesmo intemporal. E, sim, continua a ser muito divertido e controverso; e pecaminoso, também. Mas, como diria o Libertino/Pacheco, a “vontade de ter pecado” é vontade “de viver”.
Com récitas agendadas para 17, 18 e 19 de janeiro, O libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor chega ao Teatro São Luiz em ano de centenário do nascimento de Luiz Pacheco, inaugurando o ciclo Subsolos, constituído por monólogos a serem apresentados no subpalco da sala principal do teatro municipal. Esta versão do espetáculo de António Olaio e André Louro tem cenário e figurino de Maria Ribeiro, desenho de luz de Daniel Verdades e dramaturgia de Anabela Felício.
2025 marca a celebração dos 15 anos de carreira. Que balanço fazem destes anos juntos?
Miguel Casais (MC): Um balanço muito positivo. Temos vindo a fazer um caminho muito bonito com alguns altos e baixos, obviamente, mas creio que os ‘altos’ superam largamente os ‘baixos’ e estamos muito orgulhosos do que temos alcançado.
Gerir um projeto com seis pessoas é um desafio?
MC: Na verdade, já não são seis pessoas. Temos um novo membro, o Gus, por isso passámos a ser sete. Queremos todos o mesmo e temos uma dinâmica de grupo que já está bem instalada. Respeitamo-nos, todos temos espaço para falar, não somos propriamente músicos freelancers a tocar com um artista em que existe alguma cerimónia para falar ou apresentar ideias. Falamos abertamente, toda a gente dá sugestões… no nosso caso, gerir pessoas é algo que se faz tranquilamente.
Soul, funk e blues são a base da vossa sonoridade. De onde vem o gosto por estes géneros musicais?
Tatanka: O blues, o funk e o soul são o elo de ligação entre todos os elementos da banda. É o ponto comum entre todos, onde nos encontramos. Cada um tem os seus gostos musicais, que divergem, mas a música afroamericana e o gospel são pontos que nos ligam a todos.
Há um piscar de olho aos anos 70 do século XX, quer na sonoridade, quer no lado visual. Na vossa ótica, o que tem essa década de tão especial?
Tatanka: Para nós, é uma década especial por razões culturais, sociais e também tecnológicas. Foi uma época em que houve uma grande evolução tecnológica nos processos de gravação que muito apreciamos.

Lançaram recentemente o quarto disco, Last Night in Amsterdam, chegado depois de um hiato de seis anos. Este intervalo de tempo foi propositado?
MC: Não foi propositado. Normalmente lançamos um disco de quatro em quatro anos. Este demorou um bocadinho mais por causa da pandemia. Durante essa fase não nos juntávamos tanto, apesar de, durante esse período, termos tido um acontecimento muito importante, que foi o Festival da Canção e, depois, a Eurovisão. Estarmos juntos para compor e gravar só voltou a acontecer depois da pandemia. Esse foi o principal motivo para este disco ter demorado mais tempo do que os anteriores.
Qual foi a maior inspiração para o álbum?
MC: Diria que foi mesmo a cidade de Amesterdão. Em 2018 tínhamos andado em tournée pelo Reino Unido e quando chegámos a Amesterdão vínhamos, literalmente, com os instrumentos às costas. Saímos da Estação Central e fomos a pé até ao Red Light District, que era onde estávamos hospedados e onde íamos tocar, e isso fez-nos lembrar um bocadinho a história do início da banda, quando tocávamos no Bairro Alto. O Red Light District é um bocadinho como o Bairro Alto (vezes cinco e mais intenso), mas fazia lembrar a mesma vibe, também pelo facto de não termos as ‘mordomias’ que atualmente acabamos por ter, como os roadies, que nos ajudam a montar os instrumentos e a afinar as guitarras. Ali, estávamos sozinhos com teclados às costas, e todo aquele ambiente de Amesterdão (que só quem conhece é que percebe o que estou a dizer) fez-nos recordar dessa altura. É um ambiente muito intenso, com personagens doidas [risos], é inspirador. Nessa altura, o Tatanka andava a ler o Hippie, de Paulo Coelho, que retrata Amesterdão no final dos anos 60 e início dos anos 70, época em que a cidade era considerada uma das capitais hippies do mundo. Juntámos estes ingredientes todos e resolvemos fazer um disco sobre a cidade.
Kathmandu conta com a participação de Rão Kyao. Como surgiu a ideia desta colaboração?
MC: Kathmandu era uma viagem que os hippies faziam desde Amesterdão até ao Nepal (alguns seguiam depois até à Índia). No final da canção, que representa a chegada a Kathmandu, precisávamos de uma flauta especial e lembrámo-nos do Rão Kyao. Um dos membros da banda, o Chico Fernandes, toca com ele e, como havia essa proximidade, lembrámo-nos de o convidar e ele aceitou. Adorou, e nós também adorámos, ficou espetacular. Esta música inclui outro convidado, o Jorge Pardo, que entra a meio do tema com um solo de flauta fantástico.
O disco inclui uma nova versão de Love is on my side. Porquê esta mudança em relação à música original?
Tatanka: Fizemos uma versão diferente do Love is on my side porque a versão original, que a maior parte das pessoas conhece, adapta-se mais ao contexto do Festival da Canção, com um arranjo e uma produção mais adequada àquele certame. Dentro do universo e do conceito do Last night in Amsterdam, esta é uma música de despedida, uma retrospetiva de vida de alguém já às portas da morte, e tem este arranjo mais triste, mais profundo, mais despido, para dar aos ouvintes precisamente essa sensação de reflexão de uma vida inteira. Acaba por trazer mais ênfase e destaque à letra em si.
Esta canção garantiu-vos um lugar no Festival da Eurovisão em 2021. Como avaliam essa experiência? Sentem que vos abriu portas a nível internacional?
MC: Foi uma experiência incrível, fomos com a equipa da RTP, que foi espetacular. Foi um bocadinho difícil pelo facto de ter sido durante a pandemia: era suposto ser muito divertido, com farra e muitas festas… foi divertido para nós, que somos um grupo de pessoas otimistas que querem brincadeira e diversão, mas também foi chato porque praticamente não podíamos sair do hotel, a não ser para os ensaios ou tudo o que estivesse relacionado com o Festival. Tirando isso, não podíamos andar na rua a tirar selfies porque corríamos o risco de sermos desclassificados. Também não queríamos correr o risco de apanhar covid e contaminar outras pessoas. Nesse aspeto, foi um bocadinho complicado, mas tudo o resto foi incrível. Como quase não podíamos sair do hotel, usámos isso a nosso favor e aproveitámos para gravar o videoclipe do Crazy Nando. Aquilo realmente é outro mundo: uma coisa é acompanhar a Eurovisão pelo sofá, outra é viver a experiência. Nunca na vida demos tantas entrevistas e, a nível internacional, o impacto deu-se no número de audições nas plataformas digitais, como o Spotify. Tivemos números muito interessantes, maioritariamente de ouvintes estrangeiros. Também tivemos contacto com um agente estrangeiro, com quem trabalhámos anos mais tarde numa tournée nos Países Baixos. Como estávamos a meio da pandemia, essa tournée não aconteceu logo a seguir à Eurovisão, o que fez com que aquele hype se dissipasse um bocadinho. Mas continuamos a lutar para que a nossa presença internacional seja cada vez mais assídua.
Dia 17 regressam ao Coliseu. O que podem antecipar deste concerto?
MC: Vai ser muito especial. Será a terceira vez que pisamos o palco do Coliseu dos Recreios e estamos a preparar algo muito especial. Será a primeira vez que tocamos o Last Night in Amsterdam na íntegra. Não vamos só tocar esse disco, vamos também fazer uma espécie de best of de todos os outros álbuns, embora as atenções estejam muito centradas no novo trabalho. Vamos também apresentar um novo stage plot, um novo desenho de luz, arranjos novos. Vai ser um concerto a não perder.
É no último dia deste mês que Joana Gama lança na Culturgest o álbum Strata, o sexto da dupla de piano e eletrónica que tem com Luís Fernandes. Este concerto, marcado para as 21 horas, celebra também uma década de criação musical conjunta. Um regresso simbólico ao momento inicial da colaboração que têm mantido, voltando a trabalhar com o cineasta Eduardo Brito, autor da capa de Quest, o primeiro álbum, e das primeiras fotografias do duo, e Frederico Rompante, criador dos desenhos de luz de todos os seus concertos. Em palco, criam um “espaço de diálogo entre luz e imagens”, para nos darem a ouvir esta música “para piano, eletrónica e múltiplas camadas de sons recolhidos em diversos pontos do globo”.

Notas para imaginar estranhos mundos
15 janeiro a 28 fevereiro
Centro Cultural de Belém
Para Joana Gama, não há muito a acrescentar ao texto de apresentação desta instalação – que se ramificará, em fevereiro, em três micro conferências dedicadas à Inteligência Artificial, ao Ativismo Climático e à Beleza – onde se lê: “Uma clareira circular rodeada por terra, terra é chão, mas também é Terra, globo, esfera, círculo, planeta. Entramos guiados apenas pela própria intuição. Aqui, podemos respirar juntos, entrar, sair, visitar. Ser impacto, um movimento constante de uma pegada consciente e inconsciente. Uma instalação que pretende escavar na intimidade um lugar de afetos, propor uma ecologia, um estaleiro de sentidos. Dentro da instalação encontra-se uma biblioteca comunitária, um lugar temporário para ler, estar, trocar olhares ou conversar com estranhos. Uma biblioteca-floresta.” Diz a pianista: “Esta proposta aborda muitos temas que me são caros, no trabalho em particular e na vida em geral.”
Jurassic Park pela Orquestra Gulbenkian
15 a 17 janeiro
Fundação Calouste Gulbenkian
O filme Jurassic Park, de Steven Spielberg, estreou-se em 1993, tinha Joana Gama 10 anos. “Tenho a memória da espera numa longa fila na bilheteira do cinema e de ter sentido que o filme era extremamente empolgante e, também, assustador na dose certa”, recorda a pianista. “Neste filme-concerto podemos ouvir a incrível banda sonora de John Williams interpretada pela Orquestra Gulbenkian. Isto talvez se qualifique como guilty-pleasure, mas quem não os tem?”
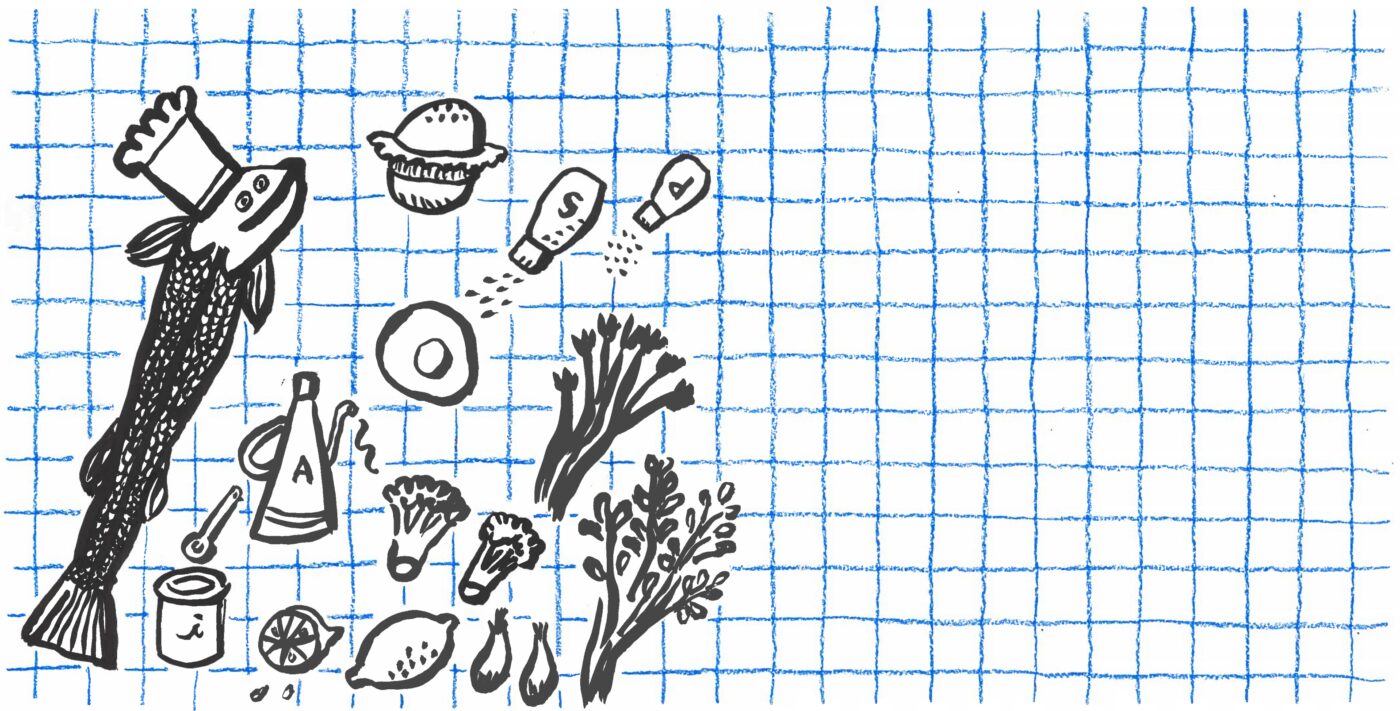
Atenção: a sua receita será transmitida!
17 a 26 janeiro
Lu.Ca – Teatro Luís de Camões
“Vale tudo para chamar a atenção a um assunto ao qual dou muita importância: a comida”, afirma Joana Gama, destacando a peça de teatro de Joana Barrios e Rogério Nuno Costa que se estreia no Lu.Ca, indicada para maiores de 7 anos. “A sinopse deste espetáculo abre suficientemente o espectro para se perceber, caso dúvidas houvesse, que, a partir da comida, podemos falar de tudo e mais alguma coisa. Sendo essencial à nossa sobrevivência – e, infelizmente, para alguns, se pudessem saltar as refeições e tomar uns comprimidos, assim fariam – acredito que a comida é uma fonte inesgotável de alegria, aprendizagem e magia e acredito também que é importante introduzir estes assuntos desde cedo, para que as crianças tenham prazer em comer, saibam o que estão a comer e tenham vontade de deitar mãos à obra.”
O Calígrafo Ocidental. Fernando Lemos e o Japão
Até 20 janeiro
Fundação Calouste Gulbenkian
É a última semana para ver a exposição que o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian dedica à relação de Fernando Lemos com o Japão, artista multidisciplinar que viveu entre 1926 e 2019 e que deixou vasta obra, entre Portugal e o Brasil, como fotógrafo surrealista e pintor modernista. “Tenho uma grande admiração pelo Fernando Lemos. Em 2019 vi uma exposição retrospetiva na Cordoaria Nacional que me impressionou muito, pelo volume e riqueza do seu trabalho, e também pela quantidade de meios diferentes que usou para se exprimir. Apaixonada confessa pelo Japão, foi com alegria que visitei esta exposição no renovado CAM, em que obras do artista, produzidas durante uma prolongada estadia naquele país, com uma bolsa da FCG, convivem com obras de autores japoneses. Numa entrevista que Fernando Lemos concedeu uns meses antes de morrer, e que está reproduzida na exposição, disse: ‘Não é só ir ao Japão e gostar do Japão. Você tem que aprendê-lo em tudo o que ele é. Seja bom ou mau. O Japão é um manifesto.’”
Ainda Estou Aqui, de Walter Salles
Estreia a 16 janeiro nos cinemas
Joana Gama confessa que ainda pouco sabe sobre este filme, mas isso nunca a impede de fazer as suas escolhas. “Quando é possível, gosto de ir em branco para a sala de cinema”, revela. “Já estava curiosa, pela sua boa receção quando foi apresentado em Veneza, e agora que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em filme dramático, fiquei ainda mais entusiasmada.”
Uma História Simples, de David Lynch
16 janeiro
Cinema Nimas
Programa para a hora de almoço: o filme de David Lynch passa, em cópia digital restaurada, no Cinema Nimas, no dia 16 de janeiro, às 13 horas. “1999 foi um ano em que vi três filmes – dos que me lembro – que tiveram um grande impacto em mim: Magnolia, de Paul Thomas Anderson, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, e este A Straight Story, de David Lynch. Revi os outros dois entretanto, mas não voltei a ver este: é um filme que destoa grandemente na filmografia de Lynch – e se ele o fez, é porque tinha de o fazer – e que foca aspetos menos evidentes na sua obra: a lentidão, a placidez, a bonomia.”
O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar
Em exibição nos cinemas
A terceira sugestão cinematográfica de Joana Gama é o mais recente trabalho de Pedro Almodovar, que ainda se mantém em cartaz nalguns cinemas de Lisboa. “Consegui ir para o filme sabendo apenas da sua temática em linhas gerais, por isso fui surpreendida pela história, que não quero revelar aqui. Interpretado de uma forma cúmplice por Tilda Swinton e Julianne Moore, creio que todos o deviam ver pois toca em muitos temas importantes e sobre os quais vale a pena refletir. Sendo um filme sobre a morte, é muito mais do que isso. A mim deixou-me com muitas perguntas, tais como: Temos consciência do efeito do nosso dia-a-dia no futuro? Queremos estar vivos a qualquer preço? Temos relações suficientemente fortes, com quem partilhar a alegria e a tristeza? Mas acredito que haverá muitas outras leituras possíveis do filme. Como escreveu André Tecedeiro, ‘cada um lê no poema / o poema que traz em si.’”
A exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. O Colonialismo Português em África: Mitos e Realidades, concebida e coordenada pela historiadora Isabel Castro Henriques, parte do fundamento de que na “sociedade portuguesa, caracterizada pela existência de um racismo sistémico, verifica-se a existência de correntes de negação do racismo resultantes de mitos associados ao colonialismo português como o lusotropicalismo e a ideia de um ‘bom’ colonialismo português”.
A mostra, que visa apresentar as linhas de força do colonialismo português em África nos séculos XIX e XX, tem, consequentemente, para além dos propósitos de descolonizar os imaginários portugueses e contribuir para uma renovação do conhecimento sobre a questão colonial portuguesa, o objetivo de desconstruir os mitos criados pela ideologia colonial, destruindo a sua natureza falsificadora.
Uma organização expositiva semicircular apresenta esses mitos e ideias fundamentais em sete núcleos:
I – Estamos em África há 500 anos
A ideia de que Portugal possuía direitos históricos em África pois tinha descoberto o Continente negro e mantido relações com os povos africanos desde o século XV.
II – Missão colonizadora e Progresso
O mito da “missão civilizadora” baseado na ideia de superioridade biológica e civilizacional do homem branco, associada ao progresso das ações europeias que permitiam iluminar e transformar a África “selvagem”.
III – Vocação colonial e Missão histórica
Recurso à ciência para construir os mitos da “vocação colonial”, característica da “raça” portuguesa” e da “missão histórica”, para justificar a ocupação dos territórios africanos e consagrar a singularidade do colonialismo português.
IV – Os outros (Selvagens) e Nós (Civilizados)
A ideia construída sobre a oposição “primitivo ou selvagem”/ “civilizado ou evoluído” que legitimava as relações luso-africanas de superioridade branca e inferioridade negra, bem como a dureza das práticas destinadas a assegurar a dominação portuguesa sobre os povos colonizados.
V – A África portuguesa
Mito que põe em evidência um vasto espaço que é Portugal em África constituído pelas suas colónias, mas também a sua “portugalização”, onde impera a presença de uma identidade portuguesa que se pretende assente na língua, na cultura, na organização e nas práticas quotidianas.
VI – A Grandeza da Nação e a Luta Armada
A ideia de que “Portugal não é pequeno”, assente na ciência cartográfica que mostrava a grandeza da nação portuguesa que se estendia do Minho a Timor, apresentando uma dimensão semelhante à da Europa ao englobar todas as colónias do império português designadas, a partir dos anos 50, de províncias ultramarinas.
VII – Descolonização, Independências e Legados do Colonialismo
Por fim, abordam-se os 13 anos de luta armada, destruição física e cultural que terminaram no dia 25 de abril de 1974, a complexidade dos processos de descolonização, os fenómenos de violência militar e social, o regresso de milhares de retornados e a construção de novas relações políticas, culturais e económicas com os novos Estados independentes.

Dois eixos centrais estruturam a narrativa da exposição. O primeiro organiza-se em painéis temáticos, nos quais texto e imagem se articulam, dando a palavra ao conhecimento histórico. O segundo eixo pretende “fazer falar” as obras de arte africanas, como evidências materiais do pensamento e da cultura africanas, evidenciando a complexidade organizativa dos sistemas sociais e culturais destas sociedades.
“As produções artísticas africanas, em particular as formas esculpidas e pintadas, traduções materiais do pensamento e das culturas das populações, integradas em todos os seus quotidianos, das práticas domésticas aos mais diversos rituais religiosos e festivos, não só ‘dizem’ a África, como também põem em evidência a capacidade criativa, a sabedoria, a racionalidade institucional e social e a riqueza cultural dos africanos, contribuindo poderosamente para afirmar identidades e práticas civilizacionais africanas”, salienta Isabel Castro Henriques.
Este segundo eixo da exposição é constituído por uma seleção de 139 obras, repartidas entre seis temas: símbolos de autoridade; sacralização da vida; quotidianos: trabalho, produção, comércio; culturas, artes e técnicas; família, relações socias, identidade; África Europa; sínteses culturais. As obras são provenientes das coleções do Museu Nacional de Etnologia, incluindo algumas peças em depósito da Fundação Calouste Gulbenkian e do colecionador Francisco Capelo, e obras de arte africana contemporânea dos artistas Lívio de Morais, Hilaire Balu Kuyangiko e Mónica de Miranda.
No âmbito do programa paralelo que complementa a exposição, patente até 11 de novembro de 2025, decorre no ISEG e no Museu Nacional de Etnologia o ciclo Cinema e Descolonização, com projeções de filmes relacionados com a realidade pós-colonial, além da realização de outras ações de caráter científico, nomeadamente conferências e colóquios.
Françoise Vergès, politóloga, historiadora, e especialista em estudos pós-coloniais francesa, escreveu no livro Decolonizar o Museu (Orfeu Negro, 2024) “decolonizar verdadeiramente o museu é pôr em prática um ‘programa de desordem absoluta’, é fazer um esforço de imaginação e criar outras formas de narrar e compreender o mundo, que nutram a criatividade coletiva e tragam justiça e dignidade às populações que delas foram desapossadas”.
Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. O Colonialismo Português em África: Mitos e Realidades é uma importante exposição que dá um passo firme nesse longo caminho a percorrer.
Carolina Deslandes, Tatiana Salem Levy, Raquel Castro, Catarina Mourão e Lou Vives contam como a sua arte se reflete em manifestações do “eu”.

Carolina Deslandes
Cantora e compositora
Foi quando saiu o disco Praticamente, de Sam the Kid, que Carolina Deslandes percebeu que música queria fazer. Hoje, as suas letras falam das suas conquista e derrotas, dos seus amores e desamores e daquilo que a incomoda e alegra. A 24 e 25 de janeiro, sobe ao palco do Coliseu, ao lado de Diogo Clemente, seu ex-marido e pai dos seus filhos, no espetáculo Eu e Ele.
“Esse lado mais autobiográfico, que aparece muito no rap e aparece sem vergonha, foi inspirador para mim, porque não havia constrangimento em abordar fosse o que fosse. Todos os artistas que verdadeiramente influenciaram a minha vida e pelos quais me apaixonei são autobiográficos. Senti que esse era o meu compromisso com a minha música: dizer a minha verdade. Quando fazemos música assim, inevitavelmente falamos das nossas coisas boas e das nossas coisas mais difíceis – e ninguém quer sentir que está sozinho nas coisas mais difíceis. Mesmo que não esteja a cantar sobre uma coisa que me aconteceu, estou a ser mensageira de um assunto que me preocupa. Fazer estas canções foi fundamental para me conhecer e para conseguir dar o passo de fazer música mais interventiva. Não posso ser uma mulher em 2024 e não ser feminista. Sinto que nós, mulheres, estamos a acordar partes da nossa vivência e infância, do nosso dia-a-dia e estamos a sentir necessidade de ser vocais sobre isso e de incluir isso na arte que fazemos. As coisas dão-nos vergonha até percebermos que não são só nossas, que aos outros também acontece aquilo. A música e a arte são, cada vez mais, um exercício de aproximação ao outro: ‘anda aqui, que vou dizer-te que isso não faz de ti uma pessoa esquisita ou um perdedor’.”

Tatiana Salem Levy
Escritora
No seu livro mais recente, Melhor Não Contar, Tatiana Salem Levy fala da mãe e da sua morte prematura, do padrasto e do assédio de que foi vítima, e de vários outros episódios que a marcaram. Este mês, voltará à escrita, só não sabe ainda de que livro: se um de pura ficção que vem escrevendo há 10 anos, se outro, mais pessoal, que se pode interpor no caminho.
“Me escrever é uma tentativa de me colocar na escrita, mas não só: me colocar no mundo, elaborar os acontecimentos pela escrita. Mas essa Tatiana da escrita é sempre uma outra Tatiana, uma Tatiana tornada literatura. Do meu eu vai para o eu da leitora e do leitor e entre esses dois eus tem um terceiro, que é a literatura e que torna tudo universal. Quando se passa para texto, de alguma forma, ficciona-se. O ato de contar já é um distanciamento do acontecimento. Esse boom da autoficção toca muito as pessoas. É um toque de uma sensibilidade e de uma emoção, que talvez as pessoas estejam precisando neste mundo tão acelerado. A literatura resiste a esse tempo e proporciona uma experiência temporal diferente onde está incluído tudo o que não dá tempo de viver. É também um gesto comunitário, tal como este movimento feminista. A Vista Chinesa e Melhor Não Contar são livros que não existiriam fora dessa vaga em que as mulheres começaram a se expor mais, a falar mais de si e das violências que sofrem. A gente se sente apoiada, como aquela frase no Brasil que diz ‘ninguém solta a mão de ninguém’. Embora a gente se reconheça na tradição literária, até aqui tínhamos a ideia de que as histórias já tinham sido todas contadas. Quando decidi ser escritora tinha esse fantasma. E, de repente, percebemos que muitas histórias ficaram por contar ou, então, foram contadas, mas não nessa página da grande literatura: eram contadas nos ambientes domésticos, nos diários, nos sussurros. O que tem de diferente agora é a transformação dessa escrita de si em literatura.”

Raquel Castro
Atriz e encenadora
São várias as peças de teatro em que Raquel Castro parte das suas experiências pessoais para criar ficções. A mais recente, As Castro, estará em Lisboa de 8 a 18 de maio, na Sala Estúdio Valentim de Barros dos Jardins do Bombarda, que o Teatro Nacional D. Maria II ocupa durante 2025.
“Como espectadora e como leitora, desde há muitos anos que sou atraída por trabalhos de pendor mais autobiográfico ou autoficcional. Quando os meus espetáculos partem de uma inquietação minha, sinto que há uma chama inicial que se mantém e que, no final, falam mais comigo. Há uma tensão que se cria quando é dito ao público que aquilo a que vai assistir tem esse ponto de partida. As pessoas ligam-se de uma maneira diferente. Quando começo os meus espetáculos a dizer ‘Olá, o meu nome é Raquel…’, tento que esse contrato seja honesto, porque isso cria no espectador uma expectativa. Às vezes a parte ficcional é mais óbvia, outras menos. Existe um processo criativo em que as coisas são muito escavadas e trabalhadas, para conseguir que de uma história individual se chegue a uma história mais coletiva. Ando muito em torno da domesticidade e da família, da maternidade, das mulheres, temas que são comuns a uma grande maioria das pessoas. É preciso deixar que o processo nos conduza e que haja uma liberdade poética e criativa por cima daquilo que são os nossos pontos de partida. Isso pode levar-nos por vários caminhos e por cima disso podem existir muitas camadas. Até porque a memória também é uma ficção, são coisas que contamos a nós próprios. É verdade que os pontos de partida são autobiográficos, mas a partir do momento em que se escreve e se põe uma personagem em palco, aquilo não sou eu. Estou a fazer de mim, mas é uma persona criada para aquela situação.”

Catarina Mourão
Realizadora
Nos filmes A Toca do Lobo (2015) e O Mar Enrola na Areia (2019), Catarina Mourão parte de imagens de arquivo pessoais para contar histórias: a do avô que nunca conheceu e a de um personagem que vagueava nas praias e vivia da caridade dos banhistas. Este ano, depois de estrear uma curta ficcional rodada nos Açores, e de filmar uma longa também de ficção, há de começar outro projeto a partir dos cerca de 600 diapositivos do pai que encontrou numa caixa.
“Há sempre um momento no percurso artístico em que as pessoas se voltam para questões que as inquietam e têm mais a ver com o seu percurso e biografia. Se calhar porque ganhamos uma certa confiança e não temos tanto medo da exposição, ou porque não vemos isso como um gesto narcísico. As pessoas já não têm esse pudor: assumem muito mais o seu olhar sobre as coisas. É aquilo que melhor conhecemos e que mais podemos aprofundar. E esse trabalho de aprofundamento – parece paradoxal – mas é fundamental para a universalidade, para que chegue ao outro. O perfurar da superficialidade tem a ver com isso. É preciso perceber quando é que se passa de um filme caseiro que só interessa à família para outra coisa, torna-se necessário identificar quais são as inquietações mais profundas que ali estão. Aí conseguimos tocar mais as pessoas e somos mais originais também. Se não, entramos num cliché do “eu, eu, eu” e das recordações e dos natais e das festas de aniversário. Esse processo sobre o arquivo torna-se muito interessante, porque não basta só escarrapachá-lo, é preciso trabalhá-lo.”

Lou Vives
Artista plástico e músico
Ritmos y Poemas é a primeira exposição individual de Lou Vives, patente de 16 de janeiro a 5 de abril, na Kunsthalle Lissabon. Partindo de uma performance com bateria, aborda as “noções de memória, poética queer e efemeridade”. Entre as várias peças, estão litografias, um mural e uma cassete chamada “a minha voz antiga”.
“Nos últimos anos, tenho explorado muito a relação entre verdade e ficção, onde se situam essas fronteiras e como são percecionadas. Agrada-me a ideia de que quem vê ache que a realidade pode ser ficção e a ficção pode ser realidade. Esta exposição em Lisboa é quase toda uma espécie de diário do que vivi este último ano e tem muito a ver com uma exploração de identidade e queerness e de uma relação de distância de uma pessoa que cresceu em Lisboa, mas que tem pais espanhóis e agora vive na Holanda. Utilizo a minha biografia e as minhas coisas como material plástico, mas a verdade é que nos podemos interrogar que trabalho não tem a ver com a subjetividade do seu autor. Os meus processos passam muito pela criação de um arquivo, que pode ser um diário ou um arquivo contemporâneo, que vou explorando. Interessa-me também a fluidez do sujeito e uso no meu trabalho pessoas que ouço na rua, livros que estou a ler, vídeos que vi no Tik Tok, fazendo uma colagem de tudo à minha volta. Nunca tive outra forma de pensar, é aí que encontro a energia, o desejo e a vontade de fazer. O impulso de criar é a partir de mim. É a única forma que tenho de encontrar beleza nas coisas.”
paginations here