A história d’O Convidador de Pirilampos “começou por ser contada pela mãe Renata [ex-companheira de Ondjaki] ao filho Lino, depois passou pelas mãos de um escritor e de um desenhador, transformando-se num livro. Passou então para palco pela mão de dois desenhadores [para além de António Jorge Gonçalves, Paula Delecave], uma atriz e um músico, e vai ser também um audiolivro”. Quando recebeu o manuscrito de Ondjaki, Gonçalves não soube bem o que fazer, porque “as boas ideias às vezes são assim, não sabemos o que fazer com elas. Levou um bocadinho de tempo, mas um ano e meio depois o livro avançou e aí percebi que a história tinha pernas para andar”.
Desde o início, percebeu que o som tinha um peso importante: “há uma música no mundo, nas coisas, em nós. Sabia que ia querer trabalhar esta filigrana de voz com um instrumentista. Quando encontrei o clarinete do Zé e a voz da Cláudia percebi que tinha encontrado o par perfeito”. José Conde assume um papel fulcral com o seu clarinete, cujas notas soam sempre nas alturas certas, a dar o mote à narradora de serviço: Cláudia Semedo. A atriz, para quem o universo de Ondjaki não é novo (já tinha participado na peça A Bicicleta tinha Bigodes), supera todas as expectativas, dando ênfase às personagens sem as encarnar totalmente e sem perder a dimensão da história. Esse foi, para Cláudia, o grande desafio, “encontrar o rumo certo entre o storytelling e a representação”.

Nesta conversa a quatro (em que o uso da palavra é quase um monólogo), todos têm a mesma importância, como explica Gonçalves: “o quarteto tem de estar engrenado, porque se um descarrilha os outros vão atrás. A forma como a peça foi montada é um bocadinho um trabalho de relojoeiro”. E como é trabalhar com o público infantil? O universo dos mais novos encanta Cláudia, a quem o lado de “improviso e de trabalhar a verdade e o genuíno” interessa muito. “Os miúdos não têm filtros, são um público extremamente reativo e eu gosto muito disso”, diz a atriz.
Outro lado cativante de trabalhar com os mais pequenos é, diz, “as ligações que fazem e que nós, adultos, já não nos permitimos fazer devido à lógica e à razão”. Opinião semelhante tem o desenhador: “o público adulto vem com uma expectativa, pagou bilhete, cobra desde o primeiro momento o que vai acontecer. As crianças não sabem ao que vêm, para elas não é significativo se as pessoas que estão no palco são ou não conhecidas. Estão muito abertas e são muito espontâneas no seu julgamento. Os momentos mais gratificantes são no final dos espetáculos quando conversamos com elas. Aí sinto que estou a fazer alguma coisa que efetivamente faz a diferença”.

O Convidador de Pirilampos é uma peça que começou na imaginação de uma mãe e que ganhou vida própria. Há muitas formas de contar histórias, mas “uma coisa é contarmos uma história aos nossos filhos, à noite, na cama, e outra é estar numa sala de teatro perante dezenas de crianças. Isso é algo que me fascina muito: encontrar formas diferentes de poder contar uma história”, remata António Jorge Gonçalves. A peça está em cena no São Luiz Teatro Municipal, de 4 a 9 de junho.
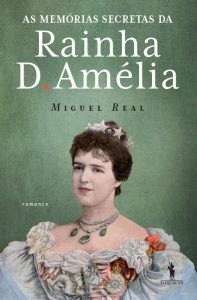
Miguel Real
As Memórias Secretas da Rainha D. Amélia
O romance As Memórias Secretas da Rainha D. Amélia divide-se em duas partes inteiramente distintas. A primeira, num estilo próximo da sátira, na qual o próprio autor se ficciona, narra as circunstâncias do aparecimento do suposto manuscrito da última rainha de Portugal. A segunda parte, reproduz o texto integral das memórias. Com um engenho estrutural algo insólito, este romance histórico constitui um impressivo olhar sobre o Portugal finissecular de oitocentos até aos anos 50 do século XX, visto sob a perspetiva de Amélia de Orleães, a rainha que pisou o solo português “com o pé esquerdo”, “crente que podia mudar o destino deste povo atarracado, que desprezava a água pela manha, jogava o leite aos porcos e sorvia sopas -de-cavalo-cansado, fugia dos médicos e depunha a sua saúde nas mãos de bruxas velhas e endireitas, cumprindo infindáveis promessas a Nossa Senhora da Saúde”. Sob a pena de Miguel Real, D. Amélia revela-se uma fina observadora do Portugal que conheceu, severa para com as suas instituições e elites, mas sempre compassiva para com as agruras do seu povo.
Dom Quixote
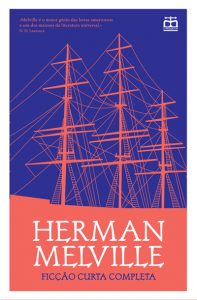
Herman Melville
Ficção Curta Completa
Bartleby é um escrivão de Wall Street, ao serviço de um escritório de advogados, que se recusa a prestar qualquer tipo de trabalho com uma espécie de demente obstinação. O advogado e os outros escrivães aceitam com surpreendente passividade a decisão de Bartleby. Jorge Luís Borges compara o romance Moby Dick, também da autoria de Herman Melville, com este conto, encontrando “semelhanças na loucura dos dois protagonistas e na incrível circunstância de uma tal loucura contagiar todos os que os rodeiam”. Bartleby, o Escrivão é um dos 21 textos inseridos neste volume que reúne, pela primeira vez em língua portuguesa, a totalidade da ficção curta de Melville e inclui outras narrativas célebres como Billy Budd, Benito Cereno ou As Encantadas ou Ilhas Encantadas. Recolha essencial para ficar a conhecer melhor a obra do grande escritor apaixonado pelas histórias de marinheiros e do mar, às quais acrescenta uma dimensão metafísica e alegórica, fascinado pelo tema do mal e pelos aspectos mais sombrios da natureza humana.
E-Primatur
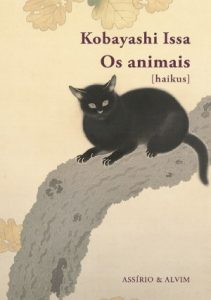
Kobayashi Issa
Os Animais
O haiku é formalmente, um poema japonês de três versos composto de um total de dezassete silabas (5-7-5). Este terceto é normalmente um veiculo poético transportador de duas imagens contrastantes entre si. Conciso e poderoso, evocativo e imagético, o haiku foca-se na natureza que serve de espelho ao mundo interior do poeta, estabelecendo um jogo de reflexos entre estados de alma e observações sensíveis. No Ocidente o haiku tem sido quase sempre entendido em função da sua espiritualidade ligada ao budismo zen. Roland Barthes considerou-o como o ramo literário da aventura espiritual do zen. Porém, o filósofo coreano Byung-Chul Han salienta que “o haiku é mais um jogo que diverte do que uma aventura espiritual ou linguística”. Estas duas vertentes estão bem patentes nos haikus de Kobayashi Issa (1763-1828), que compõem esta selecção inteiramente dedicada ao tema dos animais. Na realidade, no âmbito do motivo que unifica esta recolha, é possível encontrar poemas para cada momento da existência humana, da dor à alegria, da solidão à partilha, do nascimento ao momento da morte.
Assírio & Alvim
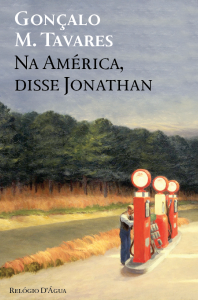
Gonçalo M. Tavares
Na América, Disse Jonathan
Escrito por Franz Kafka em 1910 e publicado em 1927, Amerika é um lugar encenado na literatura, uma recriação simbólica do mundo pela imaginação, um país ao mesmo tempo imaginário e real. Mais de um século depois, Gonçalo M. Tavares empreende o projecto Kafka, uma viagem à América acompanhado de uma fotografia do escritor. Poderá a presença fantasma de Kafka alterar a paisagem? Jonathan é o seu interlocutor e enigmático parceiro de viagem que leva o autor a questionar se ele “existe mesmo ou se simplesmente vim sozinho aos Estados Unidos com o retrato de Kafka”. O trajeto, de Venice Beach, ao Grand Canyon, do deserto do Arizona aos Everglades, das florestas do Moro Rock Trail ao Cape Canaveral, dá corpo a este diário-ficção. Mas a viagem insinua-se também pelo interior de um estilo de vida: o jogo em Las Vegas, o cinema, a publicidade, a propaganda, o consumo, a tecnologia, a religião e a ciência. E a imagem de Kafka feita presença, introdutora de estranheza e de questionamento. Porquê? “Uma pergunta que é de certa maneira uma acusação”.
Relógio D’Água
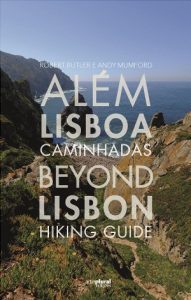
Robert Butler e Andy Mumford
Além Lisboa
A história geológica de Lisboa é talvez o seu segredo melhor guardado. Algumas das maravilhas naturais desvendadas neste livro, de cascatas a grutas, de picos a pegadas de dinossauro, são quase desconhecidas e consequentemente, muito pouco frequentadas. A cerca de uma hora de automóvel da capital os percursos sugeridos proporcionam uma oportunidade de escapar ao bulício da cidade numa jornada de aventura para todos os amentes da natureza. Além Lisboa apresenta 19 percursos pedestres, acessíveis até para caminhantes pouco experientes, nas áreas a Oeste e a Sul de Lisboa. Com mapas detalhados (e disponíveis para download) e indicações práticas sobre como chegar e locais de interesse próximos a visitar em cada local, cada passeio indica ainda pontos de interesse histórico e geológico na belíssima paisagem acessível a quem quiser, neste verão, caminhar um pouco mais para além de Lisboa.
Arte Plural

Lídia Jorge
Livro das Tréguas
Ficcionista com uma carreira invulgar, reconhecida em Portugal e no estrangeiro, Lídia Jorge tem vindo a escrever poesia desde há muito tempo, porém não tinha publicado qualquer livro até ao presente. Desse vasto conjunto, a escritora seleccionou 50 poemas, os quais agrupou nas cinco partes em que se divide este O Livro das Tréguas: Com a Origem, Com os Preceitos, Com os Factos, Com as Fábulas, Com o Tempo. Escritos em datas diferentes, e em resultado de diferentes estados de espírito, foram aqui reunidos com uma unidade cronológica que corresponde, no dizer da própria Lídia Jorge, a uma espécie de autobiografia consentida. Do universo puro da infância ( “Veneno não havia. O grande perigo passava voando / por cima das nossas cabeças e nós não o pressentíamos. / Nunca, no nosso paraíso, encontrámos Adão ou Eva.”) à tomada de consciência da condição humana (“Mas a fome chega pela manhã / e de novo vamos à caça”), da guerra e da finitude (“Quando eu decido, ninguém morre”).
Dom Quixote

Maurice Sandoz
Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares
Cientista, compositor e nome cimeiro da literatura fantástica suíça, Maurice Sandoz foi uma das mais fascinantes figuras dos meios culturais europeus de meados do século XX. A sua escrita navega os territórios sombrios da alma humana, sempre na vertigem entre a demência e a ciência. A recreação do universo imagético destas suas histórias, uma colecção de contos fantásticos com uma leve aura de surreal, ficou a cargo de Salvador Dali, que desenhou as ilustrações especificamente para esta obra. Este é o volume escolhido para iniciar a segunda “encarnação” da Colecção Livro B precisamente para trazer novamente aos leitores de língua portuguesa o cunho do surrealismo europeu que a marcou transversalmente. A pintora Leonora Carrington acusou a recepção deste livro, ao autor, da seguinte forma: “Meu amigo, recebi a sua nova colecção de pesadelos que teve a amabilidade de enviar. Habitualmente não durmo bem, mas agora não durmo porque não quero.”
Livro B

João Pedro Mésseder
O Aquário
Num grande aquário, pousado numa mesa comprida ao canto de uma sala, vivem cinco peixes. Mas, tal como no mundo dos humanos, também naquele mundo subaquático há problemas. Ali, as diferenças de cor, tamanho e idade geram preconceitos e ideias falsas, que levam a situações tristes e desconfortáveis. Com ilustrações de Célia Fernandes, esta história de peixes promete mostrar que, apesar de diferentes, somos todos iguais. João Pedro Mésseder tem publicado poesia e obras para crianças, algumas delas premiadas. Um dos seus livros infantis foi nomeado, em 1999, para a Lista de Honra do IBBY de 2000.
Caminho
Estão juntos há cerca de dois anos. Como começou este projeto?
Já era amigo de quase todos os elementos da banda, temos um passado comum no sentido de termos estudado jazz. Eu e a Joana Espadinha conhecíamo-nos do Conservatório de Amesterdão. Foi um processo natural, orgânico e espontâneo. Tinha acabado de lançar o meu segundo disco de jazz, já tinha algumas coisas na gaveta para um terceiro e estava numa fase em que trabalhava com vários cantautores, e sentia-me muito entusiasmado a trabalhar canções. Percebi que estava a despertar em mim uma vontade de trabalhar as minhas próprias canções. Quando a ideia começou a despontar foi muito óbvio quem eram as pessoas que queria chamar. A Joana já conhecia; o António Quintino conhecia-o por ele trabalhar com O Martim; a Margarida por fazer parte da banda da Joana; e o João Pinheiro veio através do David Pires, que foi o nosso primeiro baterista.
Todos os membros trabalham com outras bandas ou artistas. Como conciliam os vários projetos musicais?
Com muita organização e antecedência. Embora seja um mercado pequeno, até há pouco tempo era possível encontrar pessoas que só tinham uma banda. Hoje em dia é muito pouco provável encontrar isso. A realidade do indie rock português é a de que toda a gente toca com toda a gente. É muito cansativo, é óbvio, a logística é complicada, não é fácil gerir agendas ou marcar sessões de fotos, mas não deixa de ser inspirador! Aprendemos muito mais por estarmos a tocar com outras bandas, trazem-se outras referências… É também mais inseguro, porque prova que as bandas não conseguem, sozinhas, sustentar os músicos. É um caminho que se vai fazendo. Há essas dificuldades, é preciso muita organização e capacidade para antever os problemas. Os Cassete Pirata são a minha primeira preocupação, mas se algum deles tiver de estar ausente por causa de outros projetos, vamos cedendo. Na verdade, é só preciso clarificar as coisas de princípio, para que não haja stress nem amuos. Se isto estiver claro, há uma saúde emocional que permite uma sustentabilidade que às vezes falta, e que faz com que as bandas acabem. É tentar que seja uma coisa boa, confortável, de família, de nos divertirmos, em vez de ser uma coisa impositiva. Embora a ideia da banda tenha sido minha, isto é um projeto inclusivo e há abertura para os outros membros trazerem ideias. Até agora a chave tem sido a boa onda e a liberdade.
É preciso coragem para começar uma banda em Portugal nos dias que correm?
Com a experiência que fui tendo com os outros cantautores com quem trabalhei percebi que, por muito boas que fossem as canções, se não houvesse uma estrutura forte por trás, com uma boa promoção e assessoria de imprensa, as canções não pegavam. Ficava sempre a sensação de que eram músicas mandadas para o lixo. Quando avancei com a ideia da banda percebi que isto ia ser difícil, competitivo, por isso fazia sentido dar um ano zero à banda, em que íamos tocar nos bares mais pequenos e insólitos, para nos darmos a conhecer.
O vosso álbum de estreia, A Montra, conta com produção de Luís Nunes (Benjamim). A “mão” dele tem sido fundamental no vosso som?
Quando o Luís entrou na equipa para produzir disse-nos para lançarmos um EP com quatro músicas que definissem o nosso som. Foi por aí que começámos. O processo do disco foi natural e saboroso, é sempre bom trabalhar com o Luís. Ele tem uma grande capacidade, enquanto produtor, de se moldar. Tem a sua trademark, mas vê-se na quantidade de artistas que tem produzido, como a Márcia, Tape Junk, Joana Espadinha, ou mesmo os Cassete Pirata, que são todos artistas muito diferentes, mas onde se nota o cunho do Luís. Gostava que pudéssemos voltar a trabalhar com ele no próximo disco, mas sabendo que ele está a ficar muito famoso [risos] vai ser preciso muita antecedência.
Impuseram-se algum tipo de prazos ou lançaram o disco na altura que consideraram certa?
Sim, impusemos. Na verdade, temos sempre esses timings bem definidos, embora às vezes não os consigamos cumprir. O facto de não estarmos associados a uma grande editora faz com que, quando as coisas não correm bem, não fique mau ambiente, o que é uma vantagem. Faço sempre o exercício de tentar perceber o que é que correu menos bem (e às vezes não é nada que possamos evitar, são mesmo as circunstâncias). Às vezes as coisas descambam e ainda bem, porque por causa disso teve de se tomar outra decisão que era melhor.

Como descreves o processo de composição?
Sou muito viciado, para mim é um processo terapêutico. Não componho porque tem de ser, ou porque tenho de ganhar dinheiro. Como sou professor, as minhas contas são pagas com as aulas que dou e a música é quase um hobbie pago. Era um sonho poder viver só de fazer canções, porque esse processo de composição é natural e terapêutico. Se estiver muito tempo sem compor começo a ficar com mau feitio. Também nunca fui pressionado para compor, e se isso acontecer se calhar vai ser um pesadelo. Sempre compus muito, mas letras é relativamente recente. Nunca tinha escrito nada, nem um diário [risos]. Não estou tão treinado a escrever letras, é um processo de muita luta mas também prazeroso. Quando se consegue colocar o ponto final na frase e a letra ficou fechada, é uma sensação muito boa.
As letras expõem demasiado os artistas?
Acho que sim. O truque que eu uso é tentar camuflar a mensagem, até porque gosto que haja sempre uma porta aberta para uma segunda interpretação. Acontece-me com artistas que gosto também. Às vezes explicam-me o verdadeiro significado de uma canção e percebo que a minha interpretação faz todo o sentido, embora seja completamente diferente do que o autor quis dizer. Há uma forma de camuflar as coisas, de colocar palavras em código. Lembro-me de, no início, tentar escrever sobre amor e ter imensa dificuldade, porque há coisas que para mim são difíceis de dizer. Há coisas sobre as quais escrevo e penso “não vou conseguir cantar isto”. Há um constrangimento pessoal, mesmo que os outros digam que está muito bem.
Dia 1 de junho regressam ao Musicbox. É um palco especial?
Sim, temos o repertório deste disco, que inclui algumas destas músicas que nos têm acompanhado e vamos também fazer uma versão de um cantautor. Quando nos imagino em palco penso sempre no Musicbox. É uma sala muito feliz. Penso que está para o indie rock português como o Hot Club está para o jazz. Tivemos uma noite super mágica da primeira vez que atuamos lá. Quem for assistir vai, de certeza, divertir-se muito. Desta vez não quisemos centrar o concerto tanto nos convidados, e assumir que isto é uma noite de Cassete.
Qual o futuro próximo para Cassete Pirata?
É tocar. É isso que melhora as bandas; é o mais duro, mas é o mais sustentável; é o que nos leva a conquistar público. Somos muito felizes na estrada, gostamos muito de tocar ao vivo. Já tocamos estas músicas há um ano, estamos mais seguros, vamos fazer uma festa com as pessoas, mas claro que tem havido desafios. Este fim-de-semana demos um concerto em Belmonte num evento de aldeia, ambiente de bailarico. De repente aparece ali uma banda de indie rock e torna-se um desafio conquistar as pessoas. O ambiente é menos hostil do que à partida parece, mas é um desafio e as pessoas acabam por aderir. Essa estrada é que tem de se fazer. O objetivo próximo é descansar desta jornada de lançar o disco e poder finalmente entrar numa fase de marcar datas, relaxar e estarmos juntos. Quero organizar-me para, eventualmente, no próximo ano, ter músicas prontas para começar a ir com a banda para estúdio. Gostava que conseguíssemos fazer uns três ou quatro discos seguidos. Esse é o plano, até para aproveitar esta fase boa e inspirada que estamos a passar.
Como se iniciou no design?
A minha origem no trabalho gráfico deu-se aos 15 anos quando fui litógrafo de indústria. Cursei a Escola de Artes Decorativas António Arroio e dediquei-me profissionalmente à criatividade no que se refere à profissão geral de utilidades domesticas e técnicas de uso geral. Fui entrando nessa prática gráfica e as primeiras coisas que fiz, ainda em Portugal, foram logotipos de comunicação visual que identificavam empresas.
É esse material que podemos ver na exposição Fernando Lemos Designer?
Sim. Tudo isso é a pauta temática desta exposição. Esta é a primeira mostra dedicada especificamente ao meu trabalho como artista gráfico ou designer. A ideia partiu do MUDE, e eu estou muito feliz que vá acontecer em Lisboa. Estamos trabalhando nesta exposição desde 2017, ano em que a diretora do MUDE, Bárbara Coutinho, me fez o convite. O catálogo, que é na verdade um livro, é coeditado pelo MUDE e pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda. O museu apoiou também um documentário sobre o meu trabalho que está a ser feito por Miguel Gonçalves Mendes e Victor Rocha.
Para além da exposição há mais iniciativas em torno da sua obra?
A Galeria Ratton e a Galeria 111 decidiram associar-se a esta iniciativa e organizar duas outras mostras. A Ratton vai expor o meu trabalho em azulejo, para a qual fiz novos desenhos. A Galeria 111 mostra os últimos desenhos e aguarelas e as minhas fotografias da época surrealista. A Imprensa Nacional – Casa da Moeda vai também lançar um livro de fotografias minhas, que inclui algumas inéditas.
É inevitável fazer uma pergunta sobre a exposição Azevedo-Lemos-Vespeira que em 1952 provocou grande polémica e escândalo, arrastando multidões ao Chiado. Pode recordar como era a Lisboa dessa época?
A nossa Lisboa tinha várias caras mas, de certa maneira, nós considerávamos que a única autêntica era a dos Armazéns do Chiado. Era uma Lisboa provinciana, e assim permaneceu durante muito tempo. A nossa exposição rompeu, de certa maneira, esse provincianismo lisboeta, meio snob ao mesmo tempo, tendo como imagem o padrão meio classe-média pobre dos Armazéns do Chiado, onde nos inspirámos nos próprios manequins e dos quais fizemos emblemas. Mas, essa Lisboa era para nós um lugar difícil porque a censura era maior do que tudo isso. A arte era a do SNI (Secretariado Nacional de Informação) onde não tínhamos participação. Foi por isso que eu considerei a Lisboa desse tempo como a cidade onde os portugueses vão embora. Uma cidade só com automóveis e escritórios. Uma cidade que o 25 de Abril veio mudar. Vai ser muito bom voltar outra vez a Lisboa tantos anos depois e senti-la muito diferente de outrora.
Essa realidade levou-o a definir-se como “mais um português à procura de coisa melhor”?
Justamente. Eu saí de Portugal nos anos 50 para não ser mais uma vítima da ditadura fascista. Saí porque estava a ser perseguido. A frase que citou refere-se a essa época e a essa realidade.
Nessa exposição no Chiado apresentou um conjunto de fotografias, hoje famosas, que através da técnica da sobreposição produziam recomposições formais próprias do surrealismo. Como surgiram?
No grupo surrealista ninguém estava muito interessado em usar a fotografia. Eu procurava captar, através de um meio oculto como é a fotografia, o rosto dos portugueses porque achava que não havia nada que nos desse a cara da nossa gente. As primeiras fotografias focaram-se no rosto dos meus amigos do grupo.
A esta distância, qual lhe parece ter sido o legado mais importante do movimento surrealista?
O surrealismo trouxe no pós-guerra um momento de alegria e teve a vantagem de ser o único território onde os sonhos falavam a verdade. Veio para promover a desocultação da realidade. A realidade para nós não existe, existe aquilo que, de novo, todos os dias colocamos nela. Foi uma corrente nova que trouxe essa desocultação da ocultação que é a vida e que nalguns lugares é uma forma política de organização para tomar o poder. O surrealismo parece mentira e é, como toda a arte é uma mentira.
Em 1952 resolve partir para o Brasil.
Eu não vim para o Brasil para ficar. Fiquei porque gostei e me adaptei. Primeiro estive no Rio de Janeiro e depois fixei-me em São Paulo. Em Portugal, a liberdade era a coisa mais difícil de obter num país autoritário, onde me sentia enclausurado desde a infância. Aqui passei a ser livre. E foi aqui que desenvolvi o meu trabalho enquanto artista e designer. Fiz um pouco de tudo no que respeita ao design gráfico: fiz marcas, capas de revistas, cartazes, ilustração; enfim, tudo o que estivesse relacionado com a comunicação visual. Tive em São Paulo um escritório de design industrial onde lancei uma editora de literatura infantil, colagem de figuras para vídeos em 35 mm para marketing e comunicação empresarial, capas de livros e cartazes (como já disse), filmes, estamparia para tecido e azulejo, painéis para o metro, para exposições e espaços comerciais, tapumes institucionais para construções de edifícios, murais, desenhei exposições, fiz muitas ilustrações para poesias e ações de publicidade de vários órgãos públicos, tapeçarias… Colaborei também na fundação da ABDI – a primeira Associação Brasileira de Desenho Industrial, e fui professor e gestor cultural. Mas sabe, fui também trabalhando pontualmente em Portugal. Por exemplo, fui muitos anos colaborador de meu grande amigo José-Augusto França na revista Colóquio Artes e Colóquio Letras, fazendo ilustrações e dando noticias da cultura e das artes no Brasil. Lembro que foi para a Colóquio que escrevi uma matéria sobre Joaquim Tenreiro. É tudo isso que estive vendo sair de caixas e caixotes em minha casa durante os últimos dois anos, e que vai ser exposto em Lisboa nesta exposição, segundo o olhar curatorial de Chico Homem de Melo e o desenho expositivo de Nuno Gusmão, dois designers gráficos de formação. Um brasileiro, outro português…
Que mais mudou com a sua ida para o Brasil?
Houve uma mudança muito grande na medida em que passei a ser livre, passei a ser outra pessoa. O Brasil é um país de criatividade. A própria maneira de falar é criativa. Essa insistência de dizer que é a mesma língua não é verdade. No Brasil não existe uma língua, existe sim uma linguagem. Foi no Brasil que aprendi a distinguir a cara dos portugueses e dos brasileiros, e isso influiu na minha maneira de criar. A criação não acontece por acaso, acontece em função da cultura que vivemos e aqui muita gente me ajudou a fazer a cabeça que ainda não estava pronta.
Afirma que, em tudo que faz, é sempre designer. Quer explicitar?
Afirmo isso porque sou muito gráfico. Faço tudo com uma visão gráfica. Entendo o design como o estudo psicanalítico dos sonhos. O design é o que acontece, e não apenas aquilo que é pensado. Design não é sinónimo de desenho, é uma ideia que ganha forma especifica de conteúdo. É o desígnio de uma ideia.
No final desta descida aos infernos da condição humana proposta pelo dramaturgo britânico Dennis Kelly, poder-se-á pensar na velha máxima de Rousseau que todo o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Decerto, Gorge Mastromas, de quem, em retrospetiva, vamos conhecer o percurso de vida, desde a infância comum até à chegada à idade adulta, se enquadra nesse princípio. Porque, na essência, o jovem Gorge optou sempre pelo bem, mas um conjunto de vicissitudes mais ou menos corriqueiras foi tornando irresistível ao adulto a tentação do mal.
À semelhança de Fausto, Gorge acaba como que por vender a alma ao diabo e perante os dilemas morais que lhe surgem, o caminho escolhido torna-se o mais perverso. Assim, o homem banal, nem mais nem menos inteligente do que os outros, alcança a riqueza e o poder e uma tenaz capacidade de indiferença à mentira. Ou melhor, Gorge torna-se num homem de sucesso abraçando mentiras sucessivas de que o próprio se convence serem verdades. A sua, e só sua, verdade.

Como aponta o encenador Tiago Guedes, o mais fascinante neste texto é “a forma que o autor encontrou para confrontar o espetador, reservando-lhe, através do coro que enquadra a ação, o julgamento da personagem”. “Diria que Gorge Mastromas é o reflexo daquilo em que nos podemos tornar nesta sociedade”, e que perturbador pode ser pensar que “agir pelo bem não nos leva a lado nenhum.”
Guedes vai mesmo mais longe, e partilha a sua inquietação pessoal, enquanto pai: “pretendo sempre transmitir aos meus filhos os valores certos, mas que assustador pode ser perceber que esses valores não se coadunam com o mundo em que vivemos”. Por isso, “prefiro imiscuir-me de julgar o Gorge, não pensar se ele é vítima ou culpado.”

Desde que leu A Matança Ritual de Gorge Mastromas, Guedes pensou em Bruno Nogueira como o ator ideal para o papel. “Senti que o Bruno tinha a escala adequada para o interpretar e, tendo em conta todo o reconhecimento, e também o poder que tem, vi poder emprestar ao personagem a dimensão dramática necessária.”
Para Bruno Nogueira, que aqui abraça um registo completamente diferente daquele que lhe granjeou notoriedade, ser Gorge Mastromas “não é mais nem menos difícil do que fazer comédia. É diferente, porque o drama é também muito exigente”.
Sobre o personagem, o ator sublinha “a grande dificuldade de reconhecer naquilo em que ele se torna pontos de identificação”. Mas, acrescenta, “acho que todos nós encontramos nele muitas semelhanças com alguns tipos que conhecemos. E o que mais me aborrece é acreditar que, a cada noite, quando se deitam na cama, dormem perfeitamente. Pelo menos até serem apanhados”. E, tristemente, conclui: “são poucos aqueles a quem as coisas correm mal.”
A 1 de junho, pelas 19h30, abrem oficialmente as Festas de Lisboa. Na Alameda D. Afonso Henriques, rumo à Fonte Luminosa, Tatiana-Mosio Bongonga, uma das maiores artistas de funambulismo da atualidade, irá percorrer 300 metros numa corda bamba a 33 metros de altitude. Em Linhas Voadoras, a equilibrista cofundadora da Companhia Basinga (França) e seus pares estarão prestes a desafiar a gravidade, acompanhados de música ao vivo pela Banda da Armada.
Como as Festas começam no Dia Mundial da Criança, duas sugestões para os mais jovens: no Jardim da Quinta das Conchas, Guardar Segredo convida os mais novos a entrarem em dois guarda-fatos e descobrir o mais secreto dos “segredos”, num espetáculo encenado por Caroline Bergeron integrado na programação comemorativa dos 125 anos do Teatro São Luiz; e, noutro local da cidade, mais precisamente na Calçada da Ajuda, o LU.CA – Teatro Luís de Camões celebra o seu primeiro aniversário com vários espetáculos, performances na rua, oficinas de expressão artística, leituras e outras surpresas.
Como não podia deixar de ser, as marchas populares, os arraiais, os tronos e os casamentos de Santo António regressam às ruas. Na noite mais longa do mês (12 de junho), 16 pares recém-casados, 23 marchas e uma convidada – Marcha Popular de Ribeira de Frades – irão descer a Avenida da Liberdade sob a égide do Santo Popular.
Por falar em casamentos, o já habitual programa Fado no Castelo propõe dois, improváveis q.b: as fadistas Ana Moura e Raquel Tavares vão “casar” o fado com outras músicas. A 14 de junho, Ana Moura encontra a música tradicional a capella do grupo Sopa de Pedra; e, na noite seguinte, Raquel Tavares a música de raiz negra dos Gospel Collective.
De entre dezenas e dezenas de propostas, as Festas destacam mais uma edição do festival Com’Paço, que volta a espalhar bandas filarmónicas oriundas de todo o país em dois jardins da cidade e, pela primeira vez, na Alameda D. Afonso Henriques, que será palco do concerto de encerramento com a banda de jovens músicos Com’Paço’19 e a convidada Anabela (22 de junho); o intercultural Lisboa Mistura, que este ano se muda para a Quinta das Conchas (8 a 10 de junho); ou a Festa da Diversidade na Ribeira das Naus (dias 29 e 30).
Para concluir, a 29 de junho, no Jardim da Torre de Belém, o encerramento é marcado por um concerto único, construído propositadamente para a ocasião, dedicado a António Variações que faria, neste 2019, 75 anos. Sobre o palco, as suas músicas serão recriadas por Ana Bacalhau, Conan Osiris, Lena D’Água, Manuela Azevedo, Paulo Bragança e Selma Uamusse, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e arranjos sinfónicos a cargo de Filipe Melo, Filipe Raposo e Pedro Moreira.
O programa integral das Festas de Lisboa pode ser consultado aqui.
O tema que abre Criterion of the Senses, o seu disco mais recente, é Lost Connection to Prague, que volta a deixar bem clara a influência dos norte-americanos Steely Dan na sua música. Concorda que eles são para si uma espécie de matriz? E o que ficou a faltar aos Steely Dan com o falecimento do guitarrista e compositor Walter Becker (1950-2017)?
Os Steely Dan são uma influência e uma obsessão em relação aos padrões de estúdio, à exigência na forma de construir as composições, os arranjos, são uma grande referência para mim. Costumo dizer que assim como Charles Mingus tinha uma grande obsessão por Duke Ellington, nunca como imitação mas como continuação da proposta anterior, isso também se dá com os Steely Dan, onde adiciono algo da música negra através da minha voz, e na forma de fazer arranjos com a influência do soul. Com o falecimento do Walter Becker a sonoridade passa a ser essencialmente o som do Donald Fagen, que também é parte fundamental na sonoridade deles.
No álbum Perpetual Gateways (2016) teve a possibilidade de gravar com alguns dos seus heróis musicais (Greg Phillinganes, Marvin Smitty Smith, Curtis Taylor) mas em todos os seus discos, sem excepção, a qualidade dos músicos, sejam brasileiros ou internacionais, é excelente. O que tem para si de tão particular o som de Perpetual Gateways?
Foi um disco gravado espontaneamente com esses grandes músicos norte-americanos, um disco gravado num padrão um pouco diferente do que eu faço. Geralmente demoro muito tempo no estúdio, existe uma pós-produção imensa, e no momento de gravar é tudo com muita acuracidade. Não que isso não tenha sido cuidado, mas teve o tratamento de um disco de jazz, algo mais espontâneo gravado ao vivo, em poucos dias. Em menos de uma semana foi feito o disco todo, e geralmente os meus discos levam seis a sete meses a serem gravados atrás do take perfeito de cada instrumento.
As letras das canções de Criterion of the Senses são assinadas por si e várias remetem para universos de fantasia e situações algo irrealistas. Atribui grande importância às letras deste disco ou considera que são sobretudo um veículo para a sua voz?
O Criterion of the Senses é o meu disco que tem as letras mais interessantes, bastante influenciadas por guiões de cinema noir, por exemplo a música The Tiki’s Broken There, onde se quebra um tiki, aqueles objectos da Polinésia, e dentro do tiki haveria um papiro, a juntar ao envolvimento do tenente da cidade com uma mulher, uma típica história noir bastante cinematográfica. Pela primeira vez, as letras estão à altura da música, do que eu gostaria que o texto das minhas músicas fosse. Comecei a fazer letras de música no disco anterior, o Perpetual Gateways. Não são canções de amor, não são canções de situações pessoais, são guiões. Em alguns momentos existem temas que revelam influências da literatura de ficção científica, de Stanislaw Lem ou de Kurt Vonnegut, de Isaac Asimov, mas mais uma vez com influências também de vários letristas da música pop como Ben Sidran e Donald Fagen.

É importante para si encontrar noutros projectos da música atual uma espécie de “companheiros de estrada” que partilham os mesmos valores que a sua música aponta, ou basta-lhe os exemplos da música do passado para reforçar o sentimento de que está a fazer o caminho certo?
Não sinto que tenha tido algum companheiro de estrada na vida, ninguém com quem me identificasse esteticamente da minha geração. Sinto-me completamente desconetado da minha geração. Nunca ouvi hip-hop, a minha música não tem influência daquilo que grande parte da minha geração adora. O olhar vai desde a música do cinema dos anos [19]30-40-50-60, passando pela música dos anos 60, a pop, o rock, o jazz, mas, sobretudo, essa música produzida dos anos 80 para trás. Nunca me senti parte de um movimento e dou graças a Deus por isso. Se achasse que estava fazendo parte de um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa, alguma coisa estava errada.
A sua música parece encontrar um ainda maior reconhecimento fora do Brasil, e de si diríamos que emana a imagem de um intelectual que desfruta dos prazeres da vida com um grau de sofisticação europeu. Alguma vez considerou mudar-se para o velho continente?
Nos últimos três discos a minha música passou a ter um maior reconhecimento fora do Brasil. Fiz muito sucesso no Brasil desde sempre, desde o meu primeiro disco, que já tem mais de 30 anos, mas eu encontro no mercado europeu uma boa vontade muito grande em escutar o trabalho que faço, que não é o trabalho de uma música vigente hoje no mundo. A minha música é feita de forma orgânica, natural, com instrumentos de verdade, com músicos preparados tecnicamente, não tem máquinas, tem a edição natural que qualquer orquestra sinfónica usa. Pensei a minha vida inteira em me mudar para o velho continente mas agora, aos 47 anos, não tenho vontade de mudar. Tentei morar por um curto período na Alemanha, quando lancei o disco Perpetual Gateways, mas infelizmente não me adaptei ao modo de vida, que tem um código que é o absoluto oposto do meu. Prefiro vir à Europa para tocar, trabalhar, aproveitar as coisas de que gosto, ir a Paris a toda a hora… Claro que se fosse possível obter um visto e ter um apartamento com o conforto que tenho no Brasil, numa cidade como Paris, estaria lá ontem, porque ali tem tudo o que eu amo.
 Os seus fãs têm de si a imagem de alguém dotado de uma musicalidade exuberante e incessante. Dir-se-ia que poderia gravar um novo disco todos os meses, ou pelo menos uma vez por ano. Porque é que isso não acontece?
Os seus fãs têm de si a imagem de alguém dotado de uma musicalidade exuberante e incessante. Dir-se-ia que poderia gravar um novo disco todos os meses, ou pelo menos uma vez por ano. Porque é que isso não acontece?
Sou muito cuidadoso no processo de gravação dos discos. Demoro a fazer as músicas, depois vou fazendo os arranjos, preciso de conviver com elas. Não faço discos a toda a hora porque demoro bastante dentro do estúdio. Preciso de um orçamento minimamente razoável para chegar a um resultado. Não me sinto apto a gravar todos os meses, acredito num sistema de criação extremamente organizado. Adoro música espontânea, há vários discos de jazz que adoro gravados numa só tarde, mas não é isso que tenho vontade de fazer. Gosto de fazer uma música toda controladinha na régua e esquadro, toda dentro de um sistema que domino.
Qual dos seus discos foi mais importante enquanto afirmação de uma estética e de uma individualidade que são as suas? Dwitza (2002), talvez…
Dwitza é um dos mais importantes. O Aystelum [2005], o Chapter 9 [2008] que é um disco onde toco todos os instrumentos sozinho e que só tardiamente foi apreciado pelas pessoas que acompanham o que eu faço. E os três mais recentes, principalmente o AOR [2013] e o Criterion of the Senses [2018].
Já lhe aconteceu ter um papel mais regular enquanto divulgador musical, na rádio, ou até mesmo o de promotor, por exemplo, à semelhança do que acontece com o DJ Gilles Peterson?
Já tive alguns programas de rádio no Brasil, desde 1992, em Minas Gerais. Depois fiz um programa em São Paulo, por dois anos, na rádio El Dorado, que se chamava Empoeirado. Sinto falta do meu programa de rádio, mas tudo mudou muito, a internet trouxe algo muito democrático e as pessoas talvez não precisem tanto de uma pessoa para escolher músicas.
Quem ficará com a guarda da sua sumptuosa colecção de discos no dia em que deixar de ser você a ocupar-se dela?
Puxa.. não sei. Quem estiver vivo e for relativo a mim. De parentesco. Vai ficar com ela e não sei o que vai ser feito. É uma incógnita. Pensei muitas vezes em vender a minha colecção e parar de fazer shows, parar de viajar, parar tudo, e só gravar discos que é o que eu realmente gosto. Trabalhar no estúdio, muito mais do que tocar ao vivo. Fiz alguns cálculos, a colecção daria um dinheiro, mas se eu investisse esse dinheiro, em acções, não daria para ficar sem trabalhar. Então, se não dá para ficar sem trabalhar eu fico com os meus discos mesmo.

Casa do Coreto (Lua Cheia)
Rua Neves Costa, 45
Criada em 1996, a Lua Cheia – Teatro para Todos ocupa, desde 2015, a Casa do Coreto, uma antiga serralharia transformada em espaço cultural. Até essa altura, a companhia funcionava no Bairro Padre Cruz onde já era bem conhecida da comunidade. Depois de um convite da Junta de Freguesia e de vários anos de obras, o espetáculo inaugural aconteceu a 27 de março desse ano, no Dia Mundial do Teatro. A companhia recebe atividades regulares de Teatro e Comunidade, Selftelling, oficinas criativas para crianças, teatro, dança, concertos e workshops, seja no interior do espaço, ou cá fora, no antigo Coreto de Carnide. Os dois grandes eventos anuais são a Mostra Gargalhadas na Lua (à base do humor e do clown), e o Cucu! Festival de Artes para a Infância (que este ano decorre de 1 a 19 de maio). Há ainda os Bailaricos Cómicos (uma atividade dirigida aos mais velhos), o Dia do Vizinho ou a participação na Feira da Luz (com vários espetáculos e robertos). As marionetas são construídas de portas abertas para que a comunidade possa saciar a sua curiosidade.

Lavadouro Público de Carnide
Estrada da Correia (junto ao Centro Paroquial e Social de Carnide)
Quem desce a Estrada da Correia encontra, do lado direito, um lavadouro público aberto à população. O lavadouro é património municipal, gerido atualmente pela Junta de Freguesia de Carnide. O edifício tem mais de cem anos, e, para além de servir o seu propósito principal, foi também palco de vários concertos de rock. Em 2011, o Teatro do Silêncio (com direção artística de Maria Gil e Miguel Bonneville) ocupou o espaço, com a condição de que este fosse partilhado com a população. Durante o dia, entre as 08h30 e as 17h, o lavadouro está aberto ao público (basta pedir a chave na receção do Centro Paroquial de Carnide, mesmo ao lado), ainda que haja muito pouca gente a usá-lo com esse fim. A partir das 17h e ao fim-de-semana, o espaço é ocupado pelo Teatro do Silêncio, uma companhia que cria e produz projetos de experimentação artística. Nos últimos domingos do mês, até 18 de junho, o lavadouro recebe a atividade À Descoberta do Lavadouro!, uma visita encenada onde os mais pequenos vão poder assistir à performance de Jessica Lopes e Mariana Marques, finalistas do curso de Teatro da ESAD (Escola Superior de Artes e Design) das Caldas da Rainha. Para além de interpretarem, as duas jovens são autoras desta peça, que fala de bonecas e que conta a história do Teco, um gato muito viajado que gosta de poesia e de dançar, e cujo hobbie era fazer companhia às senhoras enquanto a roupa secava. A sessão termina com um workshop de lavagem de roupa à mão.

Teatro da Luz (Teatro D. Luiz Filipe)
Largo da Luz, 2
Localizado no Largo da Luz (conhecido pela mítica Feira da Luz), o Teatro da Luz facilmente passa despercebido a quem não conhece a zona. Por trás da fachada, todo um universo com história se esconde. O espaço foi inaugurado a 2 de março de 1903, por ocasião das comemorações do primeiro centenário do Colégio Militar. Para além de ser a casa do Teatro da Luz, o edifício alberga também a sede da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar e a Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas. Atualmente, o Teatro da Luz é ocupado pela Companhia da Esquina, que este ano comemora 15 anos de vida. Formada em 2003, quando um grupo de atores se juntou após uma formação no Teatro da Trindade, a companhia é residente desde dezembro de 2014 e conta com Jorge Gomes Ribeiro como programador e encenador de serviço. Para além das peças de teatro para adultos e para o público infantil, a companhia dispõe de uma componente de formação. Neste momento, tem em cena A Última Ceia (a partir de Dan Rosen) para o público adulto e, para os mais novos, Estória de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a Voar, que pode ver até 26 de maio.

Teatro de Carnide
Azinhaga das Freiras
Há seis anos a gerir o Teatro de Carnide (TC), Pedro Rosa esteve vários anos a trabalhar no Teatro da Luz como acrobata aéreo. Um dia participou numa produção para o TC, e por ali ficou. O espaço nasceu da fusão da Sociedade Dramática com o Grupo de Teatro de Carnide (fundado em 1953 por Bento Martins). O ator e encenador (com um jardim inaugurado em seu nome na Quinta da Luz) levou ao palco do Teatro de Carnide autores como Shakespeare, Luís Stau Monteiro ou Steinbeck. O espaço mantém viva essa memória, sendo um agente cultural de referência na cidade. Em março, o TC acolheu Mulheres nascidas de um Nome, espetáculo com textos de Claudio Hochman declamados por mais de cem mulheres, que incluía música e dança. As peças infantis são um dos pontos fortes do TC, com um público muito regular. Em breve, o TC irá repor o Dragão Cor de Framboesa, do ator João Ricardo (falecido recentemente). Para além das peças de teatro, o TC também recebe cursos de formação em teatro. Muitas pessoas procuram estes cursos não só pela curiosidade em experimentar teatro, mas para trabalharem dificuldades de comunicação ou mesmo para vencerem a timidez. Outra das valências do TC é a organização da Marcha Popular de Carnide, que acontece desde 1966.

Biblioteca Natália Correia (traseiras)
Rua Prof. Pais da Silva, 28
Situada no Bairro Padre Cruz, a Biblioteca Natália Correia faz parte da rede municipal de bibliotecas de Lisboa. Foi inaugurada em 1962 na Rua Rio Tejo, onde permaneceu até 1997. Atualmente encontra-se inserida num edifício polivalente (futura Casa da Cidadania de Carnide), paredes meias com o Centro Cultural de Carnide. Para além do empréstimo de livros, a biblioteca disponibiliza computadores com acesso à internet, promove ações de literacia digital e dá apoio às bibliotecas escolares da zona. É um espaço familiar, onde toda a gente se conhece. Há leitores assíduos que ali vão desde pequenos, e que ali foram adquirindo hábitos de leitura. Promove atividades com idosos que visam divulgar o bairro e as memórias afetivas, e recebe horas do conto para famílias. Há ainda uma atividade para adolescentes, que consiste em mostrar-lhes que a biblioteca não serve só para ler: pode usar-se a poesia para fazer rap, e ainda ficar a conhecer o património da cidade. A ideia é perceberem que a biblioteca não é um lugar aborrecido e que os livros têm o dom de os levar para fora de portas, já que muitos nunca saíram do bairro. Outra das propostas é Às 6as com Chá: todos os meses, um escritor é convidado a falar sobre a sua obra, enquanto os visitantes ouvem, atentos, acompanhados de chá e bolachas. A clientela é sobretudo local, mas por estar inserida num bairro periférico, a Biblioteca Natália Correia é local de passagem para muitos. Um espaço familiar que leva muita gente a parar ali para requisitar livros com atendimento personalizado.

Livraria Solidária
Rua General Henrique de Carvalho 3
A Rua General Henrique de Carvalho, conhecida por ser uma zona com várias vivendas (a maior parte delas devolutas), fica situada numa das entradas do centro histórico de Carnide. Nessa rua funciona, há pouco mais de um ano, num edifício da Santa Casa da Misericórdia, uma Livraria Solidária. A ideia da Boutique da Cultura foi ganhando forma quando a associação conseguiu o apoio do Bip-Zip (um projeto da CML dá apoio financeiro a projetos de juntas de freguesia, associações locais ou coletividades). O objetivo é simples: dar uma vida nova a um livro usado, gerando receita que irá ser investida em projetos comunitários. As doações de livros são feitas por particulares ou empresas (o único pré-requisito é que estejam em bom estado). Estes livros são então catalogados e colocados à venda por um preço simbólico (o máximo que vai pagar é 5€). Há duas salas cheias de livros dos mais variados temas: romances, livros técnicos, livros infantis, livros em línguas estrangeiras… Neste momento a livraria dispõe de cerca de sete mil livros em permanência. Para além da vertente literária, o espaço também é usado para apresentações de livros, sessões de contos e tertúlias.

Espaço Bento Martins
Largo Pimenteiras, 6
Situado no edifício da Junta de Freguesia de Carnide, o Espaço Bento Martins tem estado, nos últimos anos, sob gestão da Boutique da Cultura (BC). Dentro de poucos meses, a BC mudará a sua sede para um espaço ampliado da Incubadora de Artes, pelo que a sua gestão voltará em breve para a junta. Quando entramos no espaço, a sensação que nos invade é a de alguma nostalgia. A sala, embora tenha sofrido obras ao longo dos anos, mantém os tetos altos e abobados das cavalariças que ali funcionaram aquando da sua construção. Atualmente, o Espaço Bento Martins serve os mais variados fins: colóquios, exposições, peças de teatro, café-concertos, workshops, etc. A vida cultural desta freguesia não para de fervilhar, muito por responsabilidade desta junta que tudo faz para dar apoio e acolher associações que não têm um espaço próprio. Aliás, o próprio edifício da junta dispõe de salas que servem de escritório a algumas destas associações. Exemplo disso é a Associação Tenda que, em troca, produz alguns espetáculos de teatro e animação de rua para eventos como a Feira da Luz, ou ainda do Teatro do Silêncio, cuja atividade se iniciou no Espaço Bento Martins.

Centro Cultural de Carnide
Rua Rio Cávado, 3A
Inaugurado a 24 de março de 2011, data em que passou a ser gerido pela junta, o Centro Cultural de Carnide (CCC) chegou a ser um espaço do Departamento de Ação Social da Câmara Municipal de Lisboa que, mais tarde, foi cedido à Santa Casa da Misericórdia. Desde que a Santa Casa mudou de instalações, o espaço passou a ser gerido pela freguesia. O edifício é polivalente: o átrio acolhe exposições e há uma sala usada para workshops ou reuniões de moradores. No entanto, a estrela principal do CCC é o Auditório Natália Correia. Com 170 lugares, recebe os mais variados espetáculos, desde peças de teatro a concertos, passando por aulas de dança, canto e de teatro, sessões de cinema, festas de associações, colóquios ou debates. Fica no Bairro Padre Cruz, mesmo ao lado da Biblioteca Natália Correia. Em breve, será ali sediada a Casa da Cidadania, um mega edifício que albergará não só o CCC e a biblioteca, mas também algumas das instituições da junta. As obras, aguardadas há mais de três anos deverão começar ainda este ano.

Teatro Armando Cortez
Estrada da Pontinha, 7
Inaugurado em maio de 2003, o Teatro Armando Cortez é uma sala de espetáculos inserida na Casa do Artista. Logo nesse ano, o teatro acolheu o programa semanal da RTP Prós e Contras, que ali se manteve durante um longo período. No ano seguinte, o TIL – Teatro Infantil de Lisboa passou a ser companhia residente do Teatro Armando Cortez, sendo responsável por uma afluência muito grande do público infantil, nomeadamente escolas. Estreou-se com D. Quixote, e tem tido sempre peças regulares, como A Flauta Mágica, Romeu e Julieta – Uma História de Gatos, Soldadinho de Chumbo, Cinderela, ou, mais recentemente, O Feiticeiro de Oz. Para além da programação infantil, o Teatro Armando Cortez também tem sido palco de vários sucessos para o público adulto. Ao longo dos anos, houve várias produtoras a assegurar a programação simultaneamente com o TIL. Neste momento, a Yellow Star Company é a produtora residente. Em março, a companhia estreou Monólogos da Vagina, com encenação de Paulo Sousa e Costa e interpretação de Joana Pais de Brito, Júlia Pinheiro e Paula Neves, que estará em cena até 2 de junho. O Teatro Armando Cortez também recebe, regularmente, workshops de teatro por parte das Oficinas Teatro Lisboa, dirigidas pelo encenador João Rosa.

Incubadora de Artes
Av. Colégio Militar
Inaugurada em julho de 2017, a Incubadora de Artes de Carnide foi um dos projetos mais votados no Orçamento Participativo do ano anterior. O espaço é gerido em parceria entre a Boutique da Cultura e a Direção Municipal de Cultura da CML, e tem como objetivo promover o empreendedorismo e apoiar artistas emergentes. A Incubadora funciona num contentor com cerca de 200 metros quadrados, situado na Av. Colégio Militar. Inclui uma sala de co-working com capacidade para 12 pessoas, uma sala de formação e de reuniões, uma oficina com quatro artistas residentes (nas áreas da cerâmica, estampagem e marroquinaria), uma casa-de-banho equipada com duche, uma copa, armazém e loja. O nome, Incubadora de Artes, por ser muito abrangente, tem induzido algumas pessoas em erro, que se candidatam na área das artes performativas e até da gastronomia. Uma lacuna que será preenchida em breve, já que está a decorrer o alargamento do atual espaço. Para além das atuais valências, a Incubadora passará a ter, também, duas salas-estúdio para ensaios, um pequeno auditório para espetáculos e uma oficina maior. Prevê-se que a sua inauguração decorra nos próximos meses. Uma vez que o projeto foi votado pela comunidade, uma das formas de retorno da Incubadora é facultar formação credenciada, quer para os artistas residentes, quer para a comunidade em geral. Mesmo que não seja artista residente da Incubadora, pode sempre usar o espaço da loja para vender os seus artigos.

Não existe uma narrativa apreensível. Miguel Bonneville fez disso ponto de honra. A ideia para o espectáculo teve origem numa residência artística em França e a inspiração primeira veio do cinema: o Week End (1967) de Jean-Luc Godard e Ma mère (2004) de Christophe Honoré. Bataille era uma referência em ambos e Miguel Bonneville até pensou inicialmente em fazer um filme, projeto posto de parte face às óbvias dificuldades (custos) de tal produção. As ideias do guião que chegou a existir mudaram-se para o palco e os intérpretes escolhidos (Afonso Santos, Vanda Cerejo, Catarina Feijão e Francisco Rolo) para entrar num método de descoberta partilhada, tiveram autonomia para criar o seu próprio movimento, com abertura ao improviso.

Os gestos de cada um, primeiramente rígidos ou ao ralenti, parecem indicar que estão condenados a uma repetição de que não se conseguem libertar. Soltam-se mais tarde, por uma progressiva sexualização da “coreografia”, e por intermédio de um processo que os fará a todos interagir e, de certa forma, chegarem a fundir-se uns com os outros (a sugestão de uma possível orgia fica no ar). Poderá ver-se aqui uma ideia de utopia, da liberdade do sentido até ao encontro libertador das pulsões. Fica à consideração de cada espectador. Final em aberto, com música eletrónica dançante.
A Importância de Ser Georges Bataille estreia a 14 de maio, na Sala Mário Viegas do Teatro São Luiz.
Não é de todo especulativo afirmar que o teatro sonhado (e fundado) pelo Visconde de São Luiz Braga no final do século XIX é um marco na vida de Lisboa. Tanto que, para assinalar os 125 anos do atual teatro municipal, o Teatro Praga concebeu um musical festivo onde se funde o cabaret e a opereta, e até mesmo a revista à portuguesa – ou a liderar o elenco não estivesse o versátil e sempre surpreendente ator José Raposo.
Com a sua habitual irreverência, os Praga criaram vários quadros ilustrativos da história do Teatro (que se confunde, inevitavelmente, com a da cidade e do país), desde a noite em que a “francesa” Rainha D. Amélia o inaugurou com uma opereta de Offenbach, até aos dias de hoje, marcado por uma espécie de “renascimento” iniciado sob direção de Jorge Salavisa, e continuado por Aida Tavares, atual diretora artística do teatro.

Ao longo do exigente trabalho de pesquisa e investigação feito para o espetáculo, André e. Teodósio, coautor e também ator, descobriu que “a história do São Luiz é uma surpresa permanente”. “Foi particularmente interessante perceber como ao longo do tempo este Teatro apresentou propostas artísticas que contrastavam com uma Lisboa atávica”. Teodósio lembra a passagem pelo São Luiz das grandes vedetas internacionais que deliciavam a sociedade lisboeta, mas não esquece as vanguardas, e até mesmo os primeiros espetáculos de transformistas no fim do século XIX, demonstrando que o São Luiz foi sempre “um espaço de diversidade e liberdade, mesmo quando os tempos não se coadunavam com estes conceitos.”
Toda esta ideia conjuga-se, simultaneamente, com a de um Teatro “transformista”, ou seja, em constante mutação, que passou por fases tão diversas e tão díspares. “Houve um período áureo, o das grandes vedetas, que praticamente se fecha com o incêndio; depois vieram os anos do cinema, a que se seguiram longas décadas com uma programação errante.”

O musical dos Praga define-se assim como uma celebração de todo esse percurso, com o São Luiz a afirmar-se como o grande protagonista ao longo de quadros protagonizados pelo Visconde de São Luiz e pela Rainha D. Amélia; pelas divas Eleonora Duse e Sarah Bernhardt; pelos futuristas e modernistas, como Santa Rita e Almada Negreiros; pelo ideólogo António Ferro ou pelo cineasta Leitão de Barros; e até pelos recentes diretores artísticos, Jorge Salavisa e Aida Tavares.
Com José Raposo como “grande mestre de cerimónias”, os Fado Bicha como “guest stars mais do que simbólicas da ideia de transformação”, todo um conjunto de atores que fazem parte da família Teatro Praga (para além de André e. Teodósio, o elenco conta com Cláudia Jardim, Diogo Bento, Jenny Larrue, Joana Barrios, Joana Manuel e João Duarte Costa), uma banda e bailarinos, que xtròrdinária é a história do São Luiz.
paginations here