Queremos começar este artigo com uma viagem no tempo. Como nas histórias (e nos filmes), com “Era uma vez…”, ou com “há muitos, muitos anos”. Num perímetro de cerca de um quilómetro, entre a Alameda D. Afonso Henriques e o primeiro terço da Avenida de Roma, passando pelo Areeiro, a oferta cinematográfica e de espaços de exibição era pujante. Na Alameda, o Império; na Avenida Guerra Junqueiro, o Star; junto ao Areeiro, o complexo multiplex Alfas; na Frei Miguel Contreiras, o Vox, mais tarde King; e na Avenida de Roma, duas salas tão icónicas como os filmes que exibiam: o Londres e o Roma.
Por estas bandas de Lisboa foram nascendo gerações de cinéfilos e amantes dos filmes que ora não perdiam um filme da moda – como os Rambos que estreavam no Roma -, ora não resistiam às obras-primas de Bergman ou de Woddy Allen que se exibiam no Londres. E ainda havia os Alfas onde, por exemplo, se estreou, no início dos anos 80 do século passado, a primeira aventura de Indiana Jones; e o Star, que fazia gala em passar os grandes sucessos do cinema comercial francês; e o King que, nos princípios dos noventas deu a ver as primeiras obras de um dinamarquês que fazia furor nos festivais de cinema europeus chamado Lars Von Trier, ou o jovem e ainda desconhecido Quentin Tarantino com a sua muito promissora primeira obra, Cães Danados.
O tempo e a cidade mudaram e, ano após ano, os cinemas foram fechando, sendo tomados por usos que varreram da memória material aquilo que outrora foram.
Até que, há quase quatro anos, um jovem realizador de cinema teve vontade de partilhar com o público os filmes que viu na infância e devolvê-los ao ecrã de cinema. Assim nasceu, no antigo Cinema Roma, hoje Fórum Lisboa (a sede da Assembleia Municipal), um “quase cineclube” a que, pelas características da programação, chamou CinePop. À persistência de Tiago P. de Carvalho o devemos.

A mira de Clint Eastwood sobre as asas do Batman
Tiago conta que a ideia de programar filmes em sala foi inspirada por “aquela imagem tão recorrente no cinema, sobretudo americano, de encontrar personagens a ver filmes icónicos”, classificação que atribui aos filmes “que qualquer um de nós pode não ter visto mas já ouviu falar”. Por isso, a programação do CinePop é tão heterogénea e não segue, temporada a temporada, nenhuma temática específica, “embora esteja atenta ao que se vai passando no panorama do mercado de exibição ou às efemérides – uma das “lutas” do programador é exibir os Batman dirigidos por Tim Burton no ano em que passam 30 anos sobre a estreia do primeiro filme.
Como Tarantino estreou este ano Era uma vez… em Hollywood, “fazia todo o sentido abrir a temporada com Cães Danados. E, sem ter tido consciência imediata disso, programei a trilogia dos dólares [também conhecida como a trilogia do Homem Sem Nome] de Sérgio Leone”, protagonizada por Clint Eastwood, ator americano que, tal como o personagem de Leonardo Di Caprio no último Tarantino, acabou por ir relançar a carreira a Itália com westerns spaghetti que são, hoje, filmes de culto embora muito pouco vistos em sala.
Outros destaques da temporada são o incontornável filme de terror O Exorcista, de William Friedkin, e a versão de 1992 de A Família Addams, protagonizada por Raul Julia, Anjelica Huston e uma muito jovem Christina Ricci.

Com a cumplicidade do público… e de Nuno Markl
Um dos grandes trunfos do CinePop é a interação que Tiago mantém com o público, seja nos dias das sessões, seja através das redes sociais. “Concluo que sou muito menos cinéfilo do que a maioria dos espectadores habituais. Por isso eles têm sido também uma grande ajuda na programação de cada temporada”. Porém, “às vezes é-me complicado gerir a indignação de alguns que querem este ou aquele filme, e isso nem sempre é possível, seja pela dificuldade na negociação dos direitos, seja pelos valores que os mesmos podem envolver.”
Nem mesmo os fãs de cosplay vão passando incólumes aos domingos no antigo Cinema Roma. “Quando passámos aqui os primeiros Star Wars produzidos, filmes que estiveram em stand by por três anos devido a negociações difíceis com o gestor dos direitos, apareceu um grupo de cosplayers; e o mesmo aconteceu quando exibimos o Ghostbusters”. As sessões de cinema podem tornar-se assim um acontecimento: “no The Big Lebowski [filme de culto dos Irmãos Cohen, com Jeff Bridges] decidi surpreender o público durante o intervalo, tendo-me posto a servir white russians em robe, aqui no foyer.”
Inestimável, e essencial ao longo destes anos, é a colaboração do radialista e humorista Nuno Markl, “também ele um cinéfilo e um cúmplice que, sempre que pode, vem às sessões fazer uma breve apresentação sobre o filme. E quando não lhe é possível, gravamos a apresentação e exibimo-la”. Tiago assume que, parte do sucesso do projeto, se deve “à sua notoriedade e à maneira incansável como divulga o CinePop.”
O privilégio de realizar um sonho neste Cinema
Voltar a ter cinema no “velho” Roma é uma conquista, e Tiago reconhece o privilégio de concretizar “este sonho numa sala de 600 lugares, com excelentes condições de projeção e de som, ao nível dos melhores cinemas da cidade”. Até porque seria impossível haver CinePop sem o apoio do Fórum Lisboa e da sua equipa, uma vez que o projeto subsidia-se a si mesmo com a bilheteira. “E, por vezes, com o meu próprio dinheiro quando as sessões não cobrem os custos com os direitos de exibição do filme.”
Apesar da persistência, Tiago P. Carvalho lembra, que ano após ano, equaciona acabar com o projeto. “Exige muito tempo, muita disponibilidade e criatividade”. Porém, sente-se que há um público que cresce e que se envolve, um público de diferentes gerações que compreende os que ainda lembram o bairro quando por ali existiam cinemas e aqueles que procuram descobrir os filmes de que apenas ouviram falar. O CinePop até pode “estar na corda bamba”, mas promete resistir.
Apaguem-se as luzes. A temporada vai começar!
Visitar CinePop no facebook
Foi a última peça escrita pelo dramaturgo austro-húngaro Ödön von Horváth, em 1937, pouco antes de falecer aos 36 anos. Ao longo da sua curta mas profícua vida de escritor (iniciada em Berlim, no início da década de 1920), Horváth tornou-se autor de um teatro que espelha uma época ensombrada pela ascensão e triunfo do nazi-fascismo. Depois de décadas em que permaneceu praticamente esquecida, a sua obra irrompeu nestes anos de crise económica e social por alguns dos grandes palcos da Europa, nomeadamente em Inglaterra (onde era um autor praticamente desconhecido) ou na Alemanha que o “redescobriu” com particular entusiasmo.
Portugal, naturalmente, não foi exceção. Horváth tornou-se, hoje, um dramaturgo representado com regular assiduidade nos nossos palcos (a exemplo, ao longo dos últimos anos Tonán Quito dirigiu Histórias dos Bosques de Viena, Fé, Caridade e Esperança e Casimiro e Carolina, e a Companhia de Teatro da Almada levou a cena as peças Em direção aos céus e Noite da Liberdade). Agora, é a vez de Cristina Carvalhal apresentar com as “suas” Causas Comuns, O Dia do Juízo, mais uma tragédia de Horváth que é, como todas as suas peças, uma “comédia”. Mas, uma comédia sombria a que a encenadora emprega um ambiente fantasmático, sublinhado pelo trabalho em vídeo da autoria do realizador Pedro Filipe Marques.
Passado numa pequena cidade rural, em O Dia do Juízo acompanhamos a rotina do Sr. Hudetz (Carlos Malvarez), chefe da estação de comboios e seu único funcionário desde que o Estado decidiu racionar os gastos com pessoal, zelando meticulosamente para que nenhum sinal falhe. Uma noite, porém, Hudetz é seduzido por Anna (Júlia Valente), a jovem filha do taberneiro local (Pedro Lacerda), e falha por segundos a sinalização. Ocorre então um terrível acidente que, não só afetará brutalmente a vida do chefe da estação, como a de toda a comunidade, colocando a nu pequenos dramas de personagens em permanente conflito com a própria perceção do acontecimento.

Depois de um longo período de esquecimento, Ödön von Horváth tornou-se, nos últimos anos, um dramaturgo muito revisitado. É um autor para tempos sombrios?
Já queria ter feito esta peça há uns quatro ou cinco anos, precisamente no período da troika. Porém, só agora foi possível. O Horváth escreveu-a em 1937, já com Hitler no poder, retratando um tempo de crise, com falta de empregos, com a desvalorização da moeda e com a fome a assolar muitos europeus. Nos anos da troika, muitos desses problemas ressurgiram um pouco por toda a Europa, tendo-se refletido com maior violência em economias mais frágeis, como a portuguesa. Talvez por isso, nos últimos tempos eclodiram tantas revisitações à obra de Horvath, autor que tão bem espelha tempos difíceis.
E porquê esta peça especificamente?
Apesar de estarmos a viver um tempo de recuperação, esta é uma peça que aborda questões intemporais como a responsabilidade individual – a do chefe da estação que falha o sinal, a do talhante que acossa a noiva por ciúmes, etc. – ou a condição da mulher – o preconceito sobre a mulher mais velha que casou com o jovem, a desconfiança perante a rapariga que usa produtos de beleza… São temas presentes nos dramas de cada personagem e acabam por ter repercussões em toda a ação.
O sublinhado à responsabilidade individual é um alerta para todos nós?
A nossa responsabilidade, hoje, é acrescida porque, através da internet, podemos veicular todo o tipo de opiniões. Vivemos numa sociedade inundada de imagens e informação, muitas delas falsas, que desfilam sem filtros de qualquer espécie. Hoje, através de redes sociais, cada um de nós tem quase o poder de, consciente ou não, provocar revoluções. O alerta que a peça deixa é que cada um de nós, mesmo nos mais pequenos gestos, é responsável na construção da coisa pública.
Mas, esta é também uma peça sobre a culpa…
Com certeza. Faz parte da nossa civilização judaico-cristã, e persegue-nos desde que nascemos [risos]. Mas é, sublinho, uma peça sobre a responsabilidade. Veja-se o caso do acidente: o Estado racionalizou tanto os meios que conta apenas com um empregado para sinalizar o tráfego que passa pela estação. Provavelmente, se houvesse mais um trabalhador, o sinal não falharia e não se dava a tragédia. No apontar de responsabilidades, o chefe da estação falhou, mas o Estado não assumiu as suas responsabilidade ao colocar sobre a supervisão de um único homem a segurança dos passageiros.

A utilização do vídeo é, para além de ser por vezes uma contracena, o espelho sobre a atualidade?
Achámos que dava muitas valências ao espetáculo. Por um lado sublinha a volatilidade da opinião pública, que passa muito pelas imagens, pela manipulação da informação em redes sociais, cada vez mais capazes de fazer eleger “capitães Bolsonaros”. Depois, dá-nos também um lado espetral que pode contextualizar este tempo em que vivemos, em que as coisas são cada vez mais tomadas pela aparência e pelo imediatismo.
Traçando um paralelismo com as redes sociais, aquilo que se passa na peça é também essa capacidade de naquela pequena comunidade cada um dos seus elementos passar de herói a vilão de um momento para o outro…
É um pouco como quem lê o título e não se interessa por ler o resto da notícia. Ou seja, basta o título para formar uma opinião e difundi-la. Na peça, dá-se um fenómeno semelhante quando uma apreciação ou um boato sobre alguém é capaz de contaminar toda a comunidade.
O Dia do Juízo reúne muitos atores como quem já trabalhaste e outros que diriges pela primeira vez. Feliz com este belíssimo elenco?
Muito, mesmo muito. Conseguimos reunir cúmplices de muitos anos e muitos projetos, como a Manuela Couto e a Cucha Carvalheiro, a atores com quem queria muito trabalhar, como o Paulo Pinto ou o Ivo Alexandre. A eles consegui juntar o Carlos Malvarez, o Eduardo Frazão, o Pedro Lacerda e a jovem Júlia Valente, que selecionámos num casting e com quem estamos muito contentes. É um elenco de luxo!
Adrião Quintas, o protagonista do conto é contratado, “nesses tempos em que a televisão aqui principiava a tremeluzir e rumorejar” [finais dos anos 1950 ] , pela RTP. Cabe-lhe apresentar um programa de música ligeira, entrevistando “uma vez por semana, em jeito de sobremesa ao telejornal, aqueles ‘ídolos da canção’ que se viam proclamados como ‘reis’ ou ‘rainhas da rádio’, que cerca de quinze anos mais tarde seriam arrastados na lama como ‘nacionais cançonetistas’ e que já hoje se encontram, muitos deles, sob a revivalista legenda de ‘grandes românticos’ em acelerado processo de reabilitação”. Segundo algumas “línguas despeitadas”, na escolha de Adrião para a apresentação do programa teria contribuído a circunstância de fumar cachimbo e de o fazer com “tanta pompa e solenidade”. Importa salientar que, tal como o personagem principal desta narrativa, também David Mourão-Ferreira fumava cachimbo e foi autor de programas de televisão para a RTP, de que se destacam Poetas de Hoje e de Sempre ou Imagens da Poesia Europeia.

O primeiro sintoma da popularidade do programa televisivo de Adrião revela-se numa tarde em que ao descer a pé a Rodrigo da Fonseca, “duas catraias do Maria Amália, ambas de bata branca, espevitadamente o abordaram para lhe pedirem autógrafos”. Uma das alunas do liceu “alta e ossuda mas ainda mal escorada, a rondar os dezassete anos ou mesmo os dezoito de repente sem complexos, ficou-lhe gravada na memória durantes noites e noites pela pestanuda e sorna insistência com que o fitou, continuamente deixando entrever, na ranhura dos beiços, a ponta de uma língua muito rosada”.

Como efeito da popularidade proporcionada pela televisão, por vezes senhoras perfeitamente desconhecidas cumprimentavam-no com familiaridade, “como se o tivessem tido na véspera a jantar lá em casa”. Ao darem pelo engano mostravam constrangimento e, em certos casos, mesmo irritação. “ Mas houve uma, viva e toda janota, a sair da Bénard ao fim da tarde, que não se mostrou comprometida, nem de leve, quando reparou no logro de lhe ter lançado um desinibido ‘olá!’ a que ele afinal não tinha direito. Pareceu, pelo contrário, saborear o próprio equívoco; e, por instantes estacando à beira do passeio, encarou de frente o Adrião Quintas com o pisco desplante de uns atrevidos olhos míopes: Ah!… Afinal é bastante melhor que na televisão”. Depois desta súbita visão o chiado afigurou-se-lhe “a mais emocionante, a mais imprevisível entre as artérias de todas as capitais”.

Adrião mantem uma relação com Maria do Socorro que conheceu há dois anos numa segunda matinée do cinema Monumental. Os pais do ex-marido de Maria do Socorro moram dois andares mais acima, no mesmo prédio da Avenida de Paris. Para evitar mexericos e “salvar as aparências”, evitando comprometê-la ainda mais depois do escândalo que originou o divórcio, os amantes encontram-se sempre na presença de Dona Guiomar, mãe de Socorro, fingindo que colaboram num trabalho de tradução e que a respeitável senhora fica “a fazer-lhes companhia”.

Adrião reside em casa do Tio Afonso no “segundo andar de um prediozito da Camilo Castelo Branco”. Numa tarde de domingo, aproveitando a ausência simultânea do tio e de sua criada, “a Rosa Beiçuda- como pelas costas lhe chamavam”, Maria do Socorro dá uma escapadela ao apartamento. Aí, mostra-se espantada com a quantidade de livros que preenchem as estantes da sala. “Mas foi mesmo entre as estantes carregadas de livros que o sacrifício se consumou. (Na cama dele não convinha, já que a Beiçuda – também buçuda – logo daria pelos estragos.) E ali, em cima do tapete de Arraiolos havia campo mais que satisfatório. As flores do tapete não tomaram expressões de pânico. As pernas da mesa de trabalho, onde o tio Afonso, empilhava as fichas, mostravam-se valentemente robustas: não tremeriam de infundados pavores.”

Adrião vai entrevistar a cantora Iolanda Nunes no seu programa televisivo. Ela convida-o para jantar na sua casa no quarto andar, sem elevador, da Rua dos Lusíadas, com o objectivo de ensaiarem as perguntas. Entretanto, informa-o: “Como sabe, vivo só. E não tenho satisfações a dar a ninguém”. “Por sua vez Adrião mal acreditava no que lhe estava a acontecer. Durante uns dois anos tinha-se habituado a colocar a Iolanda mais os seus EP na irremediável categoria dos objectos chatos e inapetecíveis. E, de repente, aquela voz de veludo escuro, aquela promessa de jantarinho à luz das velas…”

“A delicadeza a distinção com que fuma cacimbo” torna-se num elemento integrante do charme pessoal de Adrião. Nos programas televisivos “até lhe captavam ‘grandes planos’ das mãos convenientemente ocupadas pelos caprichos e exigências do cachimbo: agarra, acende, retira, pousa; retoma, palpa, leva à boca e vá de riscar mais um fosforo”. Recebe frequentes chamadas telefónicas de admiradoras, “rara, de qualquer modo a que não lhe falasse do cachimbo”. Diferente de todas elas, foi o estranho telefonema que recebeu por altura dos Santos populares: Maria dos Prazeres, uma velhinha bem-educada, convida-o a tomar um chazinho em sua casa, para os lados de Santa Clara, ao pé da Feira da Ladra. Tendo visto “o cuidadinho” que Adrião põe nos seus cachimbos e “como gosta de os coleccionar”, promete oferecer-lhe uma relíquia que tem lá em casa: o cachimbo de um santo.

O grande luxo da salinha da casa de Maria dos Prazeres “era o aparelho de televisão, entroncado e façanhudo (…). Pelas paredes, só imagens de santos, de diversos formatos, mas como que pastoreados pela efigie, em maiores dimensões, de Sua Santidade o Papa Pio XII. Nos cantos do tecto uns arabescos de estuque, bem caiadinhos, como tudo o resto, em tons de salmão desmaiado”. Porém, Adrião sentiu-se atraído, em primeiro lugar, “pela visão dessa varanda com que o tejo tão de perto dialogava”. Maria dos Prazeres vendo que Adrião “gostou tanto da vistazinha desta varanda”, confessa: “Que a mim, digo sempre isto, quem me tira este rio tira-me tudo!”
De onde vem o teu gosto por conhecer música nova?
Tenho várias pessoas da família ligadas à música enquanto executantes, numa vertente clássica. Não sei dizer se este gosto é algo genético ou não. Em minha casa não havia muitos discos, o que havia era o rádio quase sempre ligado. Lembro-me que o meu pai tinha o hábito de ligar o rádio à hora de almoço e era assim que eu ouvia música. Talvez por ter alguns elementos da família ligados à música, os meus pais puseram-me a aprender um instrumento. Ao fim de alguns anos percebi que era melhor a escolher discos do que propriamente a tocar. Isso aconteceu em 1986, na altura em que comecei a trabalhar numa rádio pirata. Eu era daqueles miúdos que andava na escola sempre com discos ou cassetes debaixo do braço.
A paixão pela rádio surgiu depois?
Aconteceu por acaso, nunca pensei fazer rádio na vida. Sempre gostei muito de ouvir rádio, não tanto pelos locutores, mas sim pela música. Até uma certa idade ouvia tanto os programas do Luís Filipe Barros como do António Sérgio, ou do Rui Morrison… Em relação à música não tinha muito critério, ouvia um bocado de tudo: Jimi Hendrix, Doors, U2 ou mesmo o Rod Stewart. Um dos primeiros discos que comprei foi o Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch (1982), do Frank Zappa, devia ter uns 14 anos. Nessa fase tinha sede de ouvir coisas novas, só mais tarde é que comecei a ter algum critério nas minhas escolhas.
Gastavas muito dinheiro em discos, portanto…
O meu pai dava-me dinheiro para lanchar na escola e eu guardava esse dinheiro porque sabia que se juntasse durante uns dias ia ter o suficiente para comprar um disco. Durante uns tempos, a minha mãe questionava-me porque é que eu gastava dinheiro em discos. O meu pai percebeu cedo o caminho que eu estava a fazer. Da mesma forma que ele procurava estar atualizado em relação à medicina, que era a sua área profissional, eu tentava atualizar-me na área da música.
Deves ter uma coleção imensa…
Tenho. Com as mudanças de casa às vezes as coisas são complicadas… Já os tive todos em casa, numa casa grande. Agora tenho-os todos em casa, numa casa pequena. Estou novamente em fase de mudança e estou com alguma dificuldade em transportar os discos outra vez.
Um melómano como tu compra música digital?
Deixei de comprar CDs mas continuo a comprar vinil e música digital. A música digital (e eu trabalho muito com esse formato) tem uma grande desvantagem: não se estabelece relação com um ficheiro, ao contrário do que acontece com o objeto físico, em que se cria uma relação emocional. Porém, aderi muito cedo a esse formato, em parte pela minha sede de urgência, de querer ter acesso o mais rápido possível. A música ficava disponível à noite e eu podia usá-la na emissão do dia seguinte.

Graças ao avanço da tecnologia e à criação de plataformas de streaming como o Spotify, as gerações mais novas acabam por ter uma relação mais desprendida com a música. Como olhas para isso?
Quando sinto o lado nostágico de “no meu tempo é que era bom”, penso que estou a agir como os meus pais e não quero ser um “Velho do Restelo”. De facto, nós consumíamos bandas e estilos de música. Uma pessoa que nascesse na era punk ou pós-punk, consumia muito esse tipo de música e renegava a eletrónica, o metal, etc. Hoje, estas gerações consomem música de uma forma completamente diferente: consomem mais singles de várias bandas diferentes. Também têm outra noção de tempo. Estão próximos desta sonoridade da segunda década do século XXI, mas as coisas que estão para trás também ouvem com muita facilidade (ao ouvir música no Youtube ou no Spotify aparecem sempre músicas relacionadas). Quando íamos à procura dos discos na loja havia coisas que púnhamos de parte automaticamente, sem sequer dar uma hipótese. Acho que esta geração é mais ligada a canções do que propriamente às bandas. Hoje consome-se música com muito mais velocidade e um disco com três meses já é considerado um disco velho, ao contrário do que acontecia há alguns anos, em que ao fim de três meses é que o disco começava a ganhar vida.
Fazes o Indiegente na Antena3 há 22 anos. Durante este período ajudaste a lançar muitas bandas…
O mérito principal é dos artistas. Posso ter ajudado muitas bandas e se calhar houve outras que me passaram ao lado, mas continuo a fazer rádio com a mesma intenção do início: partilhar os discos de que gosto, que é um bocado aquilo que fazia na escola, com a diferença de que neste meio chega-se a mais gente. A ideia é ajudar os artistas a crescer porque ganham mais adeptos, mas também ajudar as pessoas a enriquecerem-se com a descoberta de música nova. Enche-me a alma quando alguém vem ter comigo e diz coisas como: “aprendi a ouvir música contigo”. O ano passado, na primeira edição ao vivo do Indiegente, vieram pessoas de Bragança e do Algarve para o evento, ainda por cima no dia do furacão, o que me deixou muito feliz.
Como é que surgiu a ideia de passar o programa para o formato ao vivo?
No segundo ou terceiro ano do Reverence Festival, falei com a organização para criar um palco Indiegente. Alguns dos artistas em que tinha pensado já tinham sido sondados para irem lá tocar, mas tinham recusado porque não concordavam com os cachets. Quando fui eu a fazer o convite, eles responderam “sim”. Nessa altura, disseram-me: “estás a fazer trabalho sujo porque a ti não conseguimos dizer que não. Se calhar devias pensar em organizar uma coisa tua em vez de organizares para os outros”. A ideia ficou, e pensei em avançar na altura dos 20 anos do programa, mas por razões logísticas não aconteceu. Acabou por ser o ano passado, nos 21 anos. Basicamente precisava de uma sala e de sentir que não estava a comprometer o meu futuro financeiro.
Como foi o processo de seleção das bandas para esta nova edição?
Este cartaz é mais arriscado que o do ano passado, que tinha mais nomes sonantes. O encadeamento estava todo na minha cabeça há muito tempo, até porque tinha sido pensado para o ano anterior. Este ano as coisas não aconteceram assim, até porque fui o último a ser convencido de que devia haver outra edição.
Porquê?
Tinha muitas dúvidas. O ano passado pensei que ia ser um evento único, de uma data só, mas o feedback que tive foi muito positivo, quer do público, quer dos artistas, quer do Pedro Valente (stage manager) da Azáfama Produções. Saí de lá com a sensação de que tinha sido uma festa de Natal antecipada. Para mim só fazia sentido voltar a fazer o Indiegente Live se fosse novamente no Lisboa ao Vivo, e se conseguisse ter as mesmas pessoas a organizar isto comigo.
Isso quer dizer que está tudo em aberto para uma terceira edição?
Vou deixar ao sabor do vento, já não vou voltar a dizer que não, a não ser que este ano me desgrace financeiramente [risos]. A questão é perceber se faz sentido fazer mais uma edição, se é pertinente ou não. Este ano convidei algumas pessoas que tinha pensado para o ano passado, mas a lista já era tão extensa que não deu para incluir no alinhamento…

O conceito está pensado para que haja interação entre os artistas. O que se pode esperar desta edição?
Este ano há nomes menos conhecidos mas que estão a emergir, como Algumacena (Alex D’alva Teixeira e Ricardo Martins), Deadclub, Knot3 (Selma Uamusse e Toni Fortuna), Nancy Knox, Violeta… São artistas à volta dos quais há algum barulho mas ninguém sabe concretamente o que vai sair dali… As Anarchicks também vão atuar e é engraçado, porque o primeiro concerto delas foi no Seixal há uns anos, num evento organizado por mim. Faz todo o sentido reencontrar pessoas com quem me cruzei há muitos anos, ainda para mais naquela que eu acho que é a melhor fase delas.
Expectativas para o dia 19 de outubro?
A minha ideia era juntar artistas com experiência (como os Bizarra Locomotiva ou os Parkinsons) com pessoal novo. Estou muito curioso para assistir àquilo que estão a preparar. Estou curioso para ver, por exemplo, o que é que o Rui Maia vai fazer com as Anarchicks. O ano passado os nomes dos artistas estavam todos no cartaz. Este ano acho que vai haver surpresas [risos]. Uma das bandas deu mesmo uma sugestão engraçada: ter a Manu De La Roche [artista de burlesco] a atuar ao mesmo tempo.
Há planos para levar o Indiegente Live a outras cidades?
Não está fora de questão… A fazer uma terceira edição acho que faria todo o sentido ser no Porto, até porque é uma zona do país onde há uma grande quantidade de bandas que faz parte da família do Indiegente, mas que logisticamente é difícil trazer para Lisboa. Claro que se tivesse patrocinadores seria mais fácil. [risos]
O seu trabalho está muito ligado ao mundo académico?
Também sou um arquitecto no sentido tradicional do termo, tenho um ateliê em Paris, onde sou professor, bem como em Lausanne (Suiça) e em Harvard (EUA). Cerca de metade do meu tempo é dedicado ao ensino e o restante ao meu ateliê. Para além disso, escrevo livros e artigos sobre temas contemporâneos da arquitetura.
Esta edição da Trienal tem como tema central A Poética da Razão. Foi o Eric Lapierre e a sua equipa que o escolheram?
É um trabalho que tenho desenvolvido com uma equipa de professores com os quais colaboro na escola de arquitectura (École d’Architecture de la Ville et des Territoires à Paris-Est). Estavamos a trabalhar o tema há já cerca de um ano, no campo académico. A Poética da Razão é uma pesquisa que procura definir as especificidades da racionalidade da arquitetura. O convite foi oficializado há cerca de três anos, no final da Trienal anterior (2016). Isto permitiu que tivéssemos todo esse tempo para trabalhar o tema, um prazo que permite fazer uma pesquisa mais profunda, ao invés de outras bienais onde, por exemplo, se tem apenas seis meses de preparação.
De que maneira caracteriza essa racionalidade?
Para a nossa equipa é importante dizer claramente que a criação é parte da intuição, mas também está baseada na racionalidade. A arquitetura é uma arte pública, as suas obras não estão fechadas em museus ou colecções privadas. Pertencem a todos, não apenas ao arquitecto ou aos seus clientes, fazem parte do espaço público e da cidade. Assim, é importante afirmarmos que a arquitectura tem de ser racional, inteligível e compreendida por todos, e que para atingir esse propósito tem de se basear em premissas racionais. Note que quando me refiro à racionalidade, não é que esta seja mais aborrecida ou chata do que algo mais subjetivo. A arquitectura tem sempre algo de subjectivo, mas esta parte não tem de ser a mais relevante. É importante pensar que a razão é glamorosa. E que envolve muita imaginação.
Não são conceitos que se costumam classificar como antagónicos?
Não há oposição entre racionalidade e sensibilidade ou sensualidade e imaginação. Uma das nossas exposições, Espaço Interior, curada por Fosco Lucarelli e Mariabruna Fabrizzi, é sobre a imaginação na arquitetura. Mostra que um arquiteto deve começar por criar o seu próprio imaginário, como corolário de um processo racional. Deve ir para além do gosto: os arquitetos precisam de razões mais sólidas para agir e para julgar as coisas. Para o público, a apreciação tem a ver com o gosto de cada um, o que é natural. Para um arquiteto, tal como um artista, há um processo racional no imaginário, que vem da memória, das classificações, da escolha do campo ou da tradição em que gostaria de inscrever o seu trabalho. Estes aspectos pertencem a um processo de racionalidade que não é seco nem aborrecido, nem menos interessante do que a criatividade. Há uma ponte entre racionalidade e criatividade que é impossível de destruir. Racionalidade é um modo de inscrever as nossas obsessões ou desígnios no campo da cultura comum. É o mediador entre essas obsessões íntimas e a cultura comum.
É uma ferramenta?
Sim, uma ferramenta, uma rede de interpretação e de leitura. Algo que abre a imaginação.

Como é que isso se relaciona com a individualidade? Por exemplo, com os arquitetos de grande nomeada que têm um estilo muito reconhecível?
Está a falar dos starchitects [“estrelas da arquitetura”]. Aqui em Portugal têm alguns, tal como o Siza Vieira. São pessoas que desenvolveram uma visão pessoal da arquitectura, ao longo de um percurso. Estes arquitectos estão profundamente conscientes do peso da sua cultura e que por essa razão, as suas obras são facilmente apropriadas pelo público. Para mim, a questão da disciplina da arquitectura é também enfatizar que ser arquitecto é estar envolvido nesta cultura. É o facto de inscrever o seu trabalho conscientemente no fluxo da cultura arquitectónica que permite que se façam coisas colectivas. É algo muito maior que um indivíduo. Fazer arquitetura é fazer algo colectivo, ainda que se faça uma casa privada: é sempre colectiva porque pertence à cultura comum da arquitectura.
Os nomes das exposições da Trienal sugerem que Beleza Natural e Espaço Interior são de um universo mais interior e que Economia de Meios e Arquitetura e Agricultura: Do lado do Campo são de um universo mais racional.
Não diria isso, porque tentamos definir as especificidades da racionalidade da arquitectura e toda esta racionalidade está essencialmente baseada na Economia de Meios. As outras exposições abordam aspectos específicos da racionalidade da arquitectura. Beleza Natural é sobre o facto de precisarmos de uma estrutura para que um edifício se mantenha em pé. É sobre as escolhas que se podem fazer para conceber uma estrutura.
Pode especificar?
Considere, por exemplo, um ramo de uma árvore. Tem a forma e a quantidade de matéria exactamente suficiente para se equilibrar. Pode replicar-se esta qualidade nas estruturas dos edifícios, por exemplo de maneira a cobrir a maior extensão possível de espaço com o mínimo de material. Economia de meios é um modo de pensar intimamente ligado aos processos naturais. Espaço Interior lida com o cérebro do arquitecto e sobre o modo como o arquitecto usa processos racionais para construir o seu imaginário. Recorre a maquetas, desenhos, realidade virtual e uma série de objectos que são uma espécie de cabinets de curiosités. Agricultura e Arquitetura debruça-se sobre o ambiente e os problemas que estamos actualmente a sofrer como o aquecimento global. A exposição evoca a história do ambiente e propõe quatro cenários para o futuro próximo. É um modo de alertar o público que temos de mudar drasticamente e em breve. E que para isso precisamos da arquitectura. A arquitetura sempre respondeu às questões sociais contemporâneas. Quando atravessamos uma crise pode ser muito fácil dizer que não precisamos de arquitectura, mas se amanhã o ambiente é mau, feio e as pessoas estão deprimidas, temos de ter soluções.
Acredito que consiga mobilizar os seus alunos com estas questões, mas como podemos consciencializar os poderes públicos, os nossos líderes ?
Certamente os nossos líderes não estão ainda prontos, mas tem havido uma evolução. Há dez anos, apenas os partidos ecológicos falavam nestes assuntos. Atualmente, excetuando algumas figuras mais extremistas, como Trump ou Bolsonaro, qualquer líder político razoável aborda estas questões. Não penso que consigam já tomar as decisões certas porque as medidas necessárias seriam difíceis de explicar às populações. No futuro próximo, essa vai ser uma das questões centrais: como vamos conseguir impor as mudanças necessárias a quem se habituou a viver esbanjando energia e recursos.
Pensa que há uma responsabilidade dos arquitectos em fazer passar esta mensagem, por exemplo aos seus clientes?
Em parte sim. Quando se tem um contrato com um cliente não é fácil convencê-los, porque pode implicar um aumento dos custos ou mudar de tal maneiro o projeto que eles ficam receosos. Eventos como a Trienal são ideais neste aspeto, porque não sofrem a pressão do mercado, são livres em todos os sentidos do termo. Se dedico o meu tempo a um evento como este é para tentar educar a sociedade de um modo que não consigo nas escolas, por exemplo. Penso que temos o dever de o fazer.
O DESCOLA junta equipas de mais de duas dezenas de serviços e equipamentos municipais. É um programa de aprendizagens criativas que tem como missão desenvolver o potencial transformador das Artes e da Cultura junto do público escolar. O programa, que teve a sua primeira edição no ano letivo de 2018/2019, foi construído e preparado em estreita colaboração entre mediadores, artistas e docentes. Numa primeira fase, esse trabalho colaborativo foi vertido numa brochura que ofereceu às escolas mais de uma centena de projectos, alguns dos quais deram origem a trabalhos finais.
Estes trabalhos finais, apresentados em sessões públicas, resultaram de muitos meses de empenho das partes envolvidas. Sempre liderados por um artista, estes projectos tiveram como objectivo a aproximação entre as escolas e os equipamentos culturais e a motivação dos alunos, dando-lhes voz, levando-os a participar e a envolverem-se. Assim, durante esse período de trabalho, os alunos foram conduzidos na discussão e na troca de ideias, no sentido de perceberem a sua pertinência e a pertinência das suas opiniões, levando-os a serem mais interventivos. Na base de todos os projetos estão temas como a cidadania e a sustentabilidade, que para além de fazerem parte dos currículos escolares, são prementes na atualidade.
O primeiro projeto foi liderado pelo artista plástico Vasco Araújo, em colaboração com a Galeria Quadrum e a Escola Rainha Dona Leonor. Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência cívica ditou o tema do trabalho: Acessibilidade ou não acessibilidade, eis a questão. Vasco Araújo trabalhou com um grupo de alunos dos 10.º e 11.º anos desta escola e preparou uma manifestação de rua, onde os jovens empunhavam cartazes ou outros suportes gráficos com slogans vários, todos de sua autoria.

Sofia Cabrita, por seu turno, trabalhou com os alunos do 8.º Ano do Centro de Educação e Desenvolvimento D. Nuno Álvares Pereira, da Casa Pia de Lisboa, em parceria com o Padrão dos Descobrimento, onde apresentou Viagens Exploratórias. Este projeto, que teve como objetivo levar os alunos a conhecer e respeitar as diferenças de cada um para chegar à cidadania e à participação cívica, desafiou os jovens a definir, de diversas formas, o que é isto de viajar e explora o mundo e a perceber o valor dessa experiência.

Escola Nómada ou a (des)construção das evidências, projeto levado a cabo pelos artistas Hugo Barata e Jefferson de Sá, abordou a problemática do racismo na sociedade atual, tendo por base a herança histórica. Em colaboração com o Gabinete de Estudos Olisiponenses e a Escola Pintor Almada Negreiros, este trabalho, que incluiu debates, visitas orientadas, exercícios de pesquisa e oficinas várias, resultou numa performance de expressão corporal.

Murro no Estômago, uma exposição interativa, juntou a bailarina Mariana Lemos ao Museu da Marioneta e a 45 alunos do 11º ano da Escola Artística António Arroio. O projeto artístico, que pretendia tecer novos caminhos entre a escola e o Museu, centrou-se nas marionetas de São Lourenço e o Diabo, abordando as suas respetivas técnicas de manipulação e métodos de encenação e teatralização. A ideia era desafiar os jovens artistas e professores a contruírem sons, imagens, adereços e marionetas que refletissem um olhar contemporâneo sobre temas centrais de Os Maias, de Eça de Queirós.

A brochura do DESCOLA para o presente ano letivo (2019/2020) já se encontra disponível e volta a reunir mais de vinte agentes culturais municipais – museus, teatros, arquivos e bibliotecas – que acreditam na força educativa das artes e da cultura e querem participar, com professores e alunos, na construção de escolas que se afirmem como comunidades de aprendizagem, abertas e interventivas.
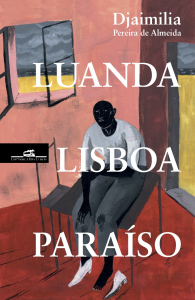
Djaimilia Pereira de Almeida
Luanda, Lisboa, Paraíso
Publicado no final de 2018, o segundo romance de Djaimilia Pereira de Almeida venceu entretanto os prémios literários Fundação Inês de Castro e Fundação Eça de Queiroz. Nele se conta a história de dois angolanos, Cartola e Aquiles, pai e filho, que se deslocam a Lisboa para que o rapaz seja operado a uma deformação de nascença. A estada de ambos vai-se prolongando, o dinheiro acaba-se e eles caem na marginalidade, não no sentido criminal do termo, mas da invisibilidade que a palavra acarreta. É um livro duro mas muito bem escrito. A certa altura, a autora que mede bem o sentido das frases que usa, diz que Cartola e Aquiles se encontram unidos pela fome. Fome aqui adquire também mais de um sentido. Eles estão unidos pelo infortúnio, por uma perda de raízes e referências que traz um sentimento de alienação, transmitido às cartas e aos telefonemas de Cartola para a mulher, e desta para ele – no caso de Glória marcados ainda por uma ingenuidade que comove, pois ao contrário dela temos clara noção das dificuldades que o marido e o filho enfrentam em Lisboa. RG
Companhia das Letras

Charles Baudelaire
Os Paraísos Artificiais e Outros Textos
O poeta francês Charles Baudelaire (1821-1867), autor das célebres As Flores do Mal, reunia-se com os amigos no Hotel Pimodan, desfrutando do haxixe, do ópio e do vinho. Em Paraísos Artificiais, o poeta relata a sua aventura numa série de escritos “não de pura fisiologia, mas sobretudo de moral. Quero provar que os descobridores de paraísos fazem o seu inferno, preparam-no, cavam-no com um sucesso cuja previsão talvez os atemorizasse”. Distingue o consumo do haxixe e do vinho, afirmando: o menor dos inconvenientes do haxixe “é ser antissocial, enquanto o vinho é profundamente humano”, louvando a sua ingestão moderada: “Quem quer que tenha tido um remorso a mitigar, uma recordação a evocar, uma dor a afogar, um castelo em Espanha a edificar, todos, enfim, vos invocaram, deus misterioso escondido nas fibras da videira.” Os efeitos do ópio são apresentados tendo como plano de fundo a análise do livro de Thomas De Quincey, Confissões de um Comedor de Ópio. A presente edição inclui O Cachimbo do Ópio e O Haxixe e o Clube dos Comedores de Haxixe de Théophile Gautier.
Relógio D’Água

H.G. Wells
Ficção Curta Completa Volume II
H.G. Wells, “um Jules Verne científico”, como lhe chamou Oscar Wilde, foi um dos fundadores da moderna ficção científica. Se os enredos das suas novelas podiam parecer implausíveis à época, cem anos depois a tecnologia encarregou-se de estreitar a diferença entre a sua ficção e a realidade. O autor antecipou a bomba atómica, a engenharia genética, a robótica, as viagens espaciais. Porém não tinha o objetivo de inventar tecnologias futuras, mas de conceber modelos sociais melhores apoiados pela ciência ao serviço da inteligência humana. Wells servia-se da forma curta, publicada em centenas de revistas e jornais durante a sua vida, para difundir ideias e muitas delas formam hoje conceitos universais no campo das ciências, da ética ou da política. No segundo de dois volumes que compilam toda a ficção curta do escritor, boa parte dos contos e novelas incluídos nesta edição estava ainda inédita em língua portuguesa.
E-Primatur
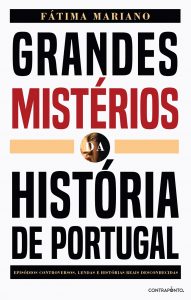
Fátima Mariano
Grandes Mistérios da História de Portugal
A História de Portugal não se construiu apenas em torno dos grandes momentos políticos, sociais, económicos, culturais e religiosos, mas que também é composta por acontecimentos breves e remotos. «Este não é um livro de História, mas de estórias», revela a autora na introdução deste livro. A jornalista e historiadora Fátima Mariano mergulhou nos episódios esquecidos, ocultos ou desconhecidos da nação portuguesa e regressou com um punhado de histórias surpreendentes e fascinantes. Quantos de nós sabem que existiu, até ao seculo XIX, um microestado entre a Galiza e Trás-os-Montes, equiparável a Andorra? E que o rei D. Manuel I recebeu uma fera nunca vista, uma ganda, que juntou em duelo com um dos seus elefantes? Ou que houve um marinheiro valente, soldado destemido e cavaleiro terrível que afinal era mulher? Grandes Mistérios da História de Portugal expõe as diversas teses sobre os mistérios com que Fátima Mariano se deparou durante a sua investigação, apresentando os factos históricos numa linguagem apelativa e esclarecedora, impelindo o leitor a descobrir o que está para lá dos manuais de história.
Contraponto
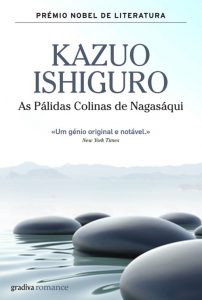
Kazuo Ishiguro
As Pálidas Colinas de Nagasáqui
Nascido em Nagasaki, em 1954, Kazuo Ishiguro foi viver com os pais para Inglaterra aos 5 anos de idade. Aí se tornou num dos mais notáveis escritores de língua inglesa, Prémio Nobel de Literatura 2017. As Pálidas Colinas de Nagasáqui, seu primeiro romance, fixa os seus temas recorrentes: a memória, a perda e a noção de mortalidade. Após o suicídio da filha, Etsuko, uma japonesa a viver sozinha em Inglaterra, recorda a sua gravidez num verão quente em Nagasáqui, e a relação com uma vizinha abastada reduzida pela guerra à indigência, com quem estabelece uma profunda identificação. Na cidade devastada pelos bombardeamentos atómicos da II Guerra Mundial, homens e mulheres, que perderam familiares e haveres, tentam reconstituir as suas vidas numa sociedade em mutação radical. Aos costumes tradicionais da cultura japonesa impõem-se os hábitos dos ocupantes americanos (“Perdemos a guerra, mas isso não é razão para imitarmos os costumes do inimigo”). Nesta obra nostálgica e inquietante, os acontecimentos do passado adquirem, através do exercício da memória, ressonâncias trágicas e premonitórias.
Gradiva

António Lobo Antunes
A Outra Margem do Mar
António Lobo Antunes, Prémio Camões (2007), assinala, em 2019, 40 anos de actividade literária desde a publicação dos seus dois primeiros romances: Os Cus de Judas e Memória de Elefante Estes primeiros livros transformaram-no imediatamente num dos autores de língua portuguesa contemporâneos mais lidos, traduzidos e discutidos no âmbito nacional e internacional. A experiência em Angola na Guerra Colonial como tenente e médico do exército português, entre 1971 e 1973, marcou fortemente os seus primeiros romances. Realidade a que o autor regressa na sua mais recente obra de Ficção, o romance A Outra Margem do Mar que recupera o início da sublevação na Baixa do Cassanje, em Angola. O romance recai, assim, nos incidentes ocorridos antes da guerra colonial, quando grandes plantações de algodão começaram a ser incendiadas, acontecimentos que foram fulcrais para o desenrolar do conflito.
Dom Quixote

Rosário Alçada Araújo
O País das Laranjas
O romance de Rosário Alçada Araújo inspira-se num facto histórico: a vinda de 5500 crianças austríacas para Portugal após a Segunda Guerra Mundial, ao abrigo de um programa da Cáritas. Martha, a heroína desta história, com apenas 10 anos, parte para Portugal com o irmão Peter. Estamos em 1949 e a fome e o frio fazem parte do seu quotidiano, pois a Áustria, a sua terra-natal, é ainda um país destruído pela Guerra. Chegados a Lisboa, são inesperadamente separados e Martha vai viver para a Covilhã, no seio de uma família abastada que a recebe com um amor e conforto que nunca antes experimentou. Martha irá viver dias inesquecíveis, mas não consegue separar estes tempos de felicidade das recordações da guerra que traz consigo, das saudades do irmão e da mãe, da tristeza por não se lembrar das feições do pai. Quando o regresso à Áustria se aproxima, Martha vê-se obrigada a pensar em quem é realmente e a que lugar quer pertencer, numa inspiradora história de vida unida por duas pontas: Linz e a Covilhã.
Asa
Depois do fim da Cornucópia e da decisão tomada pela Câmara de Lisboa de interromper o projeto artístico prosseguido pelo Teatro Municipal Maria Matos após a saída de Mark Deputter, este novo TBA pretende ser uma conciliação dos dois legados?
O projeto do TBA é novo, com um foco específico na experimentação e no emergente, mas não quer dissociar-se desse lastro, seja pela relação com o espaço em que a Cornucópia trabalhou durante décadas, seja porque cerca de metade da equipa é proveniente do Maria Matos. Ou seja, as paredes são aquelas e as pessoas são estas. A maneira como a Cornucópia usou o Teatro é inspiradora, sobretudo pela versatilidade e flexibilidade do espaço, características benéficas para a experimentação. Quanto ao que herdámos do Maria Matos foi um grupo de pessoas que trazem o saber e a experiência para dentro de uma equipa nova. Mas, apesar de tudo isto, não somos, de todo, nem herdeiros nem continuadores desses dois projetos.
Como é que o TBA se vai tornar um espaço de diferenciação no panorama cultural da cidade, tendo em conta que há vários projetos de experimentação artística muito ativos, como a Rua das Gaivotas, o Ibérico ou até mesmo o TNDM II, o São Luiz e, claro, a Culturgest?
Reconheço que possam existir interseções, aproximações, sobreposições ou até colaborações com outros teatros. O que me parece ser distintivo neste projeto é o foco. Ao contrário daqueles que também programam “experimental”, o foco do TBA é, exclusivamente, esse. Depois, existe um espaço diferenciador à partida. Dos institucionais este é o único que não é um teatro à italiana, portanto, o que aqui temos é um grande hangar que pode ser usado de múltiplas maneiras: ser compartimentado e reduzido até uma escala muito intima; ou ser utilizado em toda a sua extensão, que ronda os 30 metros. Podemos ser uma black box para 50 espectadores ou para 170, o que significa podermos oferecer aos artistas a possibilidade de testar ideias no espaço. Outra característica distintiva é a regularidade da programação internacional.
Podes ser mais concreto?
Acho que, com o encerramento do Maria Matos e a saída da equipa do Miguel Lobo Antunes da Culturgest, houve aqui mais ou menos um ano em que projetos internacionais de pequena escala deixaram de ser vistos em Lisboa com tanta frequência. Os nossos primeiros meses de programação têm precisamente a ver com isso, num esforço para recuperar aquilo que possa ter sido um tempo perdido.
Não temes que esse hiato, e até pela atomização dos públicos tão característica dos nossos tempos, tenha provocado um efeito de desmobilização?
É possível. Nós não damos nenhum público como adquirido. Um dos objetivos nestes dois primeiros anos é o de criar um público habitual, e não é só aquele que ia ao Maria Matos ou à Culturgest. Temos que chegar a um público novo, desafiado por coisas que não conhece ou conhece mal. Sobretudo, queremos ter um público aventuroso que venha e queira voltar.
E haverá várias formas de chegar ao público para além das artes performativas, com as conversas, os debates, o pensamento…
Sim, há toda uma programação a que chamamos “de discurso” e, também, formas de chegar às pessoas que não passam necessariamente por tê-las no Teatro. Temos uma programação on line com podcasts de autor, faremos transmissões em streaming e programámos vários eventos fora do TBA, como aliás já fizemos no Quase, o programa que serviu de cartão de visita ao nosso projeto. Aliás, vamos ter, a 19 de outubro, um percurso performativo da Joana Braga em Marvila, na antiga Zona J.
Quanto ao edifício, houve alguma alteração substancial?
O processo de reabilitação do espaço começou antes da minha nomeação. Foi um processo longo que contou com a ajuda de pessoas, que não do ponto de vista do espectador, conheciam bem o Teatro. Diria que, apesar de não terem sido feitas obras profundas, as intervenções são complicadas, sobretudo devido à dimensão do edifício. Depois há os vetores da acessibilidade, da segurança e da renovação técnica que eram essenciais. Na questão da acessibilidade, por exemplo, iremos abrir ainda sem tudo concluído, nomeadamente o elevador. Quanto ao espaço, o bar ainda não vai estar em funcionamento no dia 11, mas espero que o foyer tenha já pronta uma cenografia surpresa.
Concordas com a ideia de que uma sala como a do Maria Matos era sobredimensionada para as propostas que apresentava?
Nunca a consideraria sobredimensionada. Não tenho nenhum problema em programar contra o espaço, até porque acredito que não devemos ser escravos da arquitetura. Porém, acredito que há determinadas propostas que podemos trazer aqui que, eventualmente, não seriam muito viáveis no Maria Matos; e vice-versa. Sublinho mesmo que, para a experimentação, este é o espaço mais interessante em Lisboa devido às características de que falámos.
Está pensado ser estabelecido um diálogo programático com os outros teatros municipais, o São Luiz e o Lu.Ca, e com outras instituições?
Estamos em contacto. Sobretudo com o São Luiz, uma vez que há artistas que nos interessam. Com o Lu.Ca, há a ideia de encontrarmos colaborações específicas, com criadores que também têm propostas para públicos mais jovens. Onde penso que esse diálogo mais se notará é com os festivais da cidade: o Alkantara, o Temps d’Images ou o Cumplicidades. Aquilo que pretendemos é estabelecer um diálogo aberto com todas as programações. No entanto, e no imediato, as colaborações bilaterais não nos parecem muito produtivas, sobretudo porque precisamos de encontrar o nosso lugar.

Falando à margem do programador… Continuas a traduzir? Sentes saudades de escrever crítica?
Sim, continuo a traduzir apesar de agora ter muito menos tempo. Crítica, fiz pouca. É interessante como essas atividades, e também a de programador, têm relação entre elas: a programação, a tradução e o escrever sobre objetos artísticos. São todas elas atividades de mediação e é nelas que me tenho encontrado ao longo do tempo. Acredito que fazer crítica é uma maneira de traduzir; e programar é também uma maneira de fazer crítica.
Agora, vais dirigir um Teatro de que foste espectador. Guardas alguma memória especial do “velho” Teatro do Bairro Alto?
Tirando os espaços onde trabalhei, este Teatro foi, provavelmente, o que mais frequentei. Era um espectador da Cornucópia e lembro-me perfeitamente das primeiras vezes que cá vim. Devo aqui ter visto algumas dezenas de espetáculos e recordo muitos deles. Aliás, o título que dei ao meu projeto de candidatura à direção artística do TBA vem do nome de um espetáculo da Cornucópia: Sete Portas, de Botho Strauss [estreado em 1993, com encenação de Luís Miguel Cintra]. Mas há muitos que poderia referir, como Afabulação de Pasolini [1999] ou O Barba Azul de Jean-Claude Biete [1996].
Haverá algum dos textos que a Cornucópia trabalhou que gostarias de programar aqui?
Eventualmente. Há um texto que penso poder caber na programação deste nosso projeto e, por sinal, é o único que a Cornucópia encenou duas vezes…
E qual é?
Isso agora… [risos]. Mas é fácil descobrires! [Francisco Frazão não o disse, mas trata-se de A Missão, de Heiner Muller, que a Cornucópia encenou em 1983 e 1992, resultando em espetáculos diferentes]
Quando é que se prevê que isso possa acontecer?
Não será para já. Acho que chegará o tempo para estudar, pensar e refletir sobre a Cornucópia e, mesmo não nos querendo pôr no lugar daquela companhia, o TBA não poderá deixar de participar. Provavelmente, em 2023, ano em que comemoraria 50 anos, pode haver a hipótese de inscrever esse texto na nossa programação.
O TBA vai abrir com dois espetáculos de dança: Hidebehind, de Josefa Pereira, e CHROMA, de Alessandro Sciarroni. Porquê duas propostas para o mesmo fim de semana?
Eu, a Laura Lopes, a Ana Bigotte Vieira e a Diana Combo, equipa de programação, decidimos que não queríamos ter “o” espetáculo de abertura, a grande inauguração. Queríamos, isso sim, dar visões parciais daquilo que o TBA pode ser. Ou seja, ter várias declarações de intenções que se irão replicar ao longo da temporada. Estes espetáculos foram programados em conjunto porque são peças curtas, são dois solos e têm em comum a ideia do movimento circular. A eles, junta-se ainda uma conferência sobre a ideia de respiração e sufoco pelo italiano Franco Berardi que, como iremos ver, estabelece alguns contactos com os espetáculos.
Para os próximos meses, o que podes destacar na programação do TBA?
Há um espetáculo da Gob Squad, companhia que programei na Culturgest, e que virá ao TBA apresentar, em novembro, um clássico do teatro experimental intitulado Super Night Shot. No mesmo mês, teremos uma coprodução internacional que fizemos com o Tim Crouch, estreada em Edimburgo e que está agora em Londres, no Royal Court. Depois, destacaria também, em dezembro, um solo da Raquel Castro em estreia absoluta e um espetáculo do Alex Cassal, Morrer no Teatro, que é ainda uma produção do Maria Matos, e que estreou este ano no Funchal. Para o ano, temos já agendado um projeto grande da Sofia Dias e Vítor Roriz, uma peça a solo da Teresa Coutinho e uma criação, em coprodução, da iconoclasta artista inglesa Lucy McCormick.
Mais de uma década depois de Cabaret, Diogo Infante regressa ao teatro musical e, uma vez mais, ao universo de um dos grandes coreógrafos da Broadway, Bob Fosse. Chicago é, desde 1975, ano em que o musical inspirado na peça de Maurine Dallas Watkins estreou em Nova Iorque, com música de John Kander e libreto de Fosse e Fred Ebb, um dos maiores sucessos mundiais do género, tendo sido representado desde então em dezenas de países.
Embora exista um franchising do musical, Infante acabou por conseguir dissociar-se e obter aquilo que considera “uma licença para a criatividade”, sendo que a versão em cena no Teatro da Trindade “resulta do trabalho de uma equipa que, com muita ambição, colocou todo o seu talento em cena”. Assim, a exemplo, a coreografia é assinada por Rita Spider, os figurinos por José António Tenente e a encenação reflete “um olhar pessoal e muito atual sobre o musical, realçando a crítica a um sistema judicial ou a aura de estrela que os media conferem a alguns criminosos.”

Curiosamente, Infante conta que, quando o viu pela primeira vez há largos anos em Nova Iorque, não ficou particularmente entusiasmado e, talvez por isso mesmo, não lhe interessou trazer para palco o formato “oficial”. “Por exemplo, achei bem mais interessante o filme [dirigido por Rob Marshal em 2002 e vencedor do Oscar de Melhor Filme] que, tal como na nossa versão, dá particular atenção às partes não musicais, algo que por vezes se descura neste género de produções”, sublinha.
Por essa razão, o encenador foi particularmente criterioso na escolha do elenco. “Qualquer dos artistas em cena tinha que ser capaz de cantar, de dançar e de representar”, refere ao lembrar que o casting foi essencial para selecionar os melhores. “Quando decidi fazer o Chicago só tinha definidos três atores: a Gabriela Barros e a Catarina Guerreiro, que tinham estado nas audições de Cabaret e que com muita pena minha não chegaram a entrar no espetáculo, e o José Raposo, que imediatamente vi no papel de Amos Hart, o marido traído de Roxy.”

Ambientado na Chicago da década de 20 do século passado, o musical conta a história de duas cantoras rivais de vaudeville, Roxy (Gabriela Barros) e Velma (Soraia Tavares), acusadas de homicídio – a primeira pelo assassinato a sangue-frio do amante; a segunda, pela morte do marido e da irmã. Presas, ambas vão recorrer aos serviços de um inescrupuloso advogado, Billy Flynn (Miguel Raposo), e aos esquemas obscuros da chefe das guardas prisionais, Mama Morton (Catarina Guerreiro), de modo a reconquistar a liberdade e atingir as luzes do estrelato.
CHICAGOEncenação Diogo InfanteÉ crime não ver este espetáculo!A partir de 11 SETBilheteira Online: bit.ly/TeatroTrindade_CHICAGO
Publicado por Teatro da Trindade em Domingo, 1 de setembro de 2019
Quando estreou em Espanha, em 2014, Emília foi um retumbante sucesso, mais um triunfo de Claudio Tolcachir, o autor argentino que anos antes se afirmara no panorama teatral internacional com A Omissão da Família Coleman. De algum modo, Jorge Silva Melo sublinha a influencia que a peça terá tido no cineasta Alfonso Cuaron que, algum tempo depois, dirigiria Roma. Tal como o consagrado filme, também Emília é a história de uma ama, tendo a peça nascido, segundo o próprio Tolcachir, do encontro casual que teve com a mulher que dele cuidou na infância.
Enquanto Roma mergulha no passado, Emília projeta-se no reencontro (casual) da velha ama (Isabel Muñoz Cardoso) com Walter (Américo Silva), o seu “menino”, agora já homem feito. Os fortes laços afetivos avivam-se e Walter leva Emília a sua casa para lhe apresentar a família – a família que ele “construiu”. Porém, tudo naquela casa, prestes a ser habitada (a família acaba de se mudar), é trespassado pela fragilidade, nomeadamente a dos laços familiares que não são bem o que aparentam.

Habitada por “personagens ricos e intensos”, a peça tem, como sublinha Silva Melo, “um erro de paralaxe”, ou seja, não é a genética que define o amor, pelo que “a ideia de família subjacente é a que se deseja”, não a que biologicamente foi determinada. E essa forma de consumar aquilo por que se anseia une, até tragicamente, Emília e Walter. Ela, desejando continuar a ser a que cuida e acarinha, a “mãe” (embora tenha tido um filho biológico com quem não mantém qualquer tipo de relação); ele, que desejou constituir família e acabou tomando uma de empréstimo, antevendo o quão devastador pode ser viver um amor assim.
Emília estreia a 11 de setembro, no Teatro da Politécnica, e permanece em cena até 19 de outubro.
paginations here