Com estreia mundial agendada para o Espace Cardin, em Paris, a 22 de maio, Mary Said What She Said é um monólogo escrito pelo escritor afroamericano Darryl Pinckney, autor reconhecido no mundo do teatro pelas suas colaborações com Robert Wilson. Aliás, este é um reencontro ainda mais lato, uma vez que a eles se junta a consagrada atriz francesa Isabelle Huppert, mais de 20 anos depois deste “glorioso” trio ter levado a cena outro monólogo: Orlando, a partir do romance de Virginia Woolf.

Como o próprio Pinckney sublinha, “o sempre inventivo Robert Wilson oferece à grande Isabelle Huppert o trono da Rainha Maria da Escócia, a soberana que, por causa das suas paixões, perdeu a coroa”. Peça em três atos, Mary Said What She Said é uma história de amor, poder e traição sobre uma mulher que encarnou exemplarmente o desejo irreprimível da liberdade. Adivinha-se, portanto, um papel à medida de todo o talento de Huppert.
Numa produção do Theatre de la Ville (dirigido pelo luso-francês Emmanuel Demarcy-Mota), Wilson assina não só a encenação, como a cenografia e a luz do espetáculo, que conta ainda com música original do famoso compositor Ludovico Einaudi e figurinos de Jacques Reynaud.
O espetáculo integra a programação do 36.º Festival de Almada que decorre de 4 a 18 de julho em Almada e Lisboa. Os bilhetes (com preços entre 10€ e 50€), bem como as assinaturas (75€) que facultam o acesso a todos os espetáculos do festival, serão colocados à venda no decorrer deste mês.

Filipe Homem Fonseca
A Imortal da Graça
Filipe Homem Fonseca (n. 1974) é um veterano da escrita de textos humorísticos para teatro, televisão, rádio, cinema e Internet, atividade que lhe trouxe o reconhecimento do meio e também do público, e que ajudou à personalização de uma escrita que se reflete igualmente nos romances de que é autor. O terceiro chama-se A Imortal da Graça e introduz-nos na Lisboa atual com contornos de distopia. As idosas do bairro da Graça tecem cenários e conspiram para tentarem chegar ao pódio da mais velha de todas. À sua volta outras personagens, igualmente sitiadas pelas obras que não têm fim, levam existências sonhadas, adiando planos, algo que o escritor acentua sublinhando uma estagnação comum que é olhada de vários pontos de vista. As personagens são definidas com eficácia, mordacidade, em poucas linhas. O livro é também fértil em aforismos. Como este: “A felicidade é, também, uma espécie de conveniência dos afectos e das disponibilidades.” Quetzal

Nuno Júdice
O Café de Lenine
Escrever um romance é “um trabalho que nos envolve, mas que, ao mesmo, tempo, nos liberta dessa qualquer coisa que existe algures, dentro de nós, e que temos de materializar para descobrir do que é que se trata”. Nuno Júdice, poeta, ensaísta, e ficcionista, escreve um romance pós moderno cujo tema é justamente a criação de um romance. O que escrever? Como começar? Como criar uma personagem sabendo que “um personagem é um ser incómodo para o escritor. Precisa de um nome de um corpo, de uma psicologia (…) e de um contexto”? Mas, rapidamente surgem desvios e o autor envereda por caminhos secundários: compara com humor a inspiração aos mosquitos, o tabaco às ideologias, as cigarras a Deus. Atravessa várias épocas e cruza personagens literários e figuras históricas, faz-nos conviver com Fabrice del Dongo em Waterloo, com Ema Bovary no Luxemburgo ou testemunhar uma conversa de café entre Guerra Junqueiro e Lenine. São, afinal, esses múltiplos desvios que enformam a matéria de um romance que se repensa, combinando ficção, crónica, memória e reflexão. Dom Quixote

Maya Angelou
Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola
Maya Angelou, figura fundamental da cultura afro-americana e dos direitos civis nos EUA, incentivada pelo seu amigo, o escritor James Baldwin, publicou este seu primeiro volume autobiográfico em 1969. A obra constitui um dos mais impressionantes documentos humanos do século XX, sobre a experiência de uma mulher negra vítima de dupla discriminação, de género e de raça. É também um exemplo notável de capacidade de superação face à adversidade. O título cita um verso de Sympathy, de Paul Laurence Dunbar e recorre à metáfora do “pássaro na gaiola” para representar a condição da escravatura e as suas marcas na identidade negra. O canto do pássaro assume também um duplo significado: simbólico (através do seu primeiro livro, Maya procura “a sua voz” enquanto escritora) e literal (em consequência de ter sido violada em criança, Maya deixou de falar durante cinco anos). Maya Angelou foi um pássaro que, até à data da sua morte, em 2014 aos 86 anos, não parou de cantar, pois “não há maior sofrimento do que guardar uma história por contar dentro de nós.“ Antígona
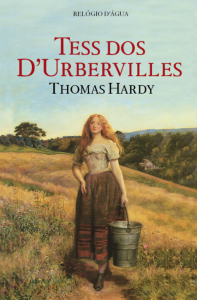
Thomas Hardy
Tess dos D’Urbervilles
Raros foram os escritores se distinguiram igualmente na poesia e na prosa; Thomas Hardy constituiu uma das mais notáveis excepções. Os seus poemas, longe de preciosismos, escritos numa linguagem próxima do discurso falado, prepararam o caminho para a poesia inglesa moderna. Os seus romances realistas, profundamente pessimistas, recebidos com a maior severidade pela sociedade vitoriana, perspetivam o Homem como refém das duas maiores influências da civilização ocidental: a tragédia grega clássica e a noção de destino, o cristianismo e o conceito de culpa. Nesta obra admirável, Hardy, “o maior escritor trágico entre os romancistas ingleses”, segundo Virginia Woolf, narra a história de Tess, uma jovem camponesa violada por um parente rico que tenta refazer a vida com Angel, por quem sente um amor puro e sincero. Relação que será destruída pelos preconceitos e pelas convenções sociais. Uma vez mais, o autor constrói um romance revelando duas forças em movimento: “a alegria de viver que nos é inerente, e aquilo que se opõe a essa mesma alegria por via das circunstâncias.” Relógio D’Água
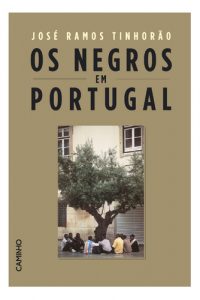
José Ramos Tinhorão
Os Negros em Portugal
Os Negros em Portugal – uma presença silenciosa é já uma obra de referência da historiografia portuguesa. Recorrendo a uma vasta gama de fontes, explorando em particular os textos literários e teatrais, José Ramos Tinhorão oferece-nos uma obra sólida, trazendo para a luz do dia uma realidade escassamente conhecida e estudada. Obra rigorosa e de grande erudição, escrita de forma viva e ágil, torna-se por isso acessível a um público muito vasto. O autor nasceu em Santos, no Brasil, a 7 de fevereiro de 1928. Depois de se mudar para o Rio de Janeiro, em 1938, formou-se em Direito e em Filosofia e tem-se dedicado ao jornalismo e, principalmente, à investigação na área da Música e da Etnografia. Autor de uma vasta bibliografia, principalmente da música brasileira, publicou na Editorial Caminho, entre outros, os seguintes títulos: Fado: Dança do Brasil, Cantar de Lisboa, o Fim do Mito; As Origens da Canção Urbana. Caminho

Fernanda Botelho
A Gata e a Fábula
O romance A Gata e a Fábula tem no seu cerne a revisitação das origens, do mundo da infância. Aquando da sua publicação original, em 1960, as suas personagens desvendavam uma geração que, então, se afirmava e questionava no mundo do pós-guerra português. A história desenvolve-se em torno de um grupo de mulheres pertencentes à aristocracia empobrecida, que procuram manter o estatuto através do casamento. Fernanda Botelho traça um apurado retrato social da sua época, trabalhando processos narrativos, que versam sobretudo o monólogo interior das personagens. Escreve Marcelo G. Oliveira no prefácio da presente edição: “Talvez uma das características fundamentais de todo o percurso de Fernanda Botelho seja a forma com a sua obra sempre conseguiu escapar a rótulos e a apreciações convencionais, revelando uma integridade inexcedível na sua constante e pessoalíssima busca por uma expressão justa da condição humana nesse Portugal da segunda metade do século XX.” Abysmo
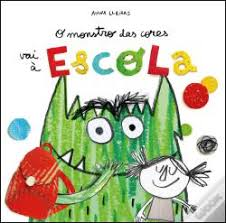
Anna LLennas
O Monstro das Cores Vai à Escola
O primeiro dia de escola é um dos momentos mais marcantes na vida de uma criança. E o Monstro das Cores está compreensivelmente nervoso porque, afinal, esse dia nunca é fácil. Muitas emoções para explorar e gerir, novos amigos para fazer, muitas aventuras para viver… Como se sentirá o nosso amigo? Neste livro, é possível acompanhá-lo na descoberta de novas rotinas, diferentes espaços e outras dinâmicas e o importante é ele perceber que não está sozinho. Porque por muito difíceis que sejam as mudanças, há sempre a parte boa: as surpresas que elas nos podem trazer. Será que o Monstro das Cores vai gostar da experiência? Nuvem de Letras
Diamantino começa assumindo-se como ficção. No entanto, a personagem principal e o contexto sociopolítico têm uma aparência muito real. Onde encontraram inspiração para esta obra?
O filme parodia bastante o que está mesmo agora a acontecer. Aspirava a satirizar ludicamente a cultura da celebridade, especialmente focada em estrelas dos desportos como Cristiano Ronaldo ou Lance Armstrong, estrelas de reality show como Kim Kardashian, ou mega-celebridades como Madonna e Angelina Jolie. Mas todas essas estrelas foram só inspirações. Diamantino deixa de algum modo ver para além e por detrás da máscara da celebridade superficial, auto-obsessiva e materialista, e permite aceder a um tipo de pessoa completamente diferente, que é apenas inocente, cândida, e cheia de amor.
O filme é uma metáfora de um país, Portugal, mas também do mundo ocidental. Através da comédia são abordadas questões dramáticas: a crise dos refugiados, o populismo que vinga nos EUA e na Europa, e um endeusamento exacerbado de determinadas personalidades. Foi intenção levar o público a reflectir sobre estas questões?
O filme é uma sátira e espero que faça o público rir e pensar sobre as coisas mais ridículas e chocantes que estão hoje a acontecer, como o Brexit, a presidência do Donald Trump, a ascenção da extrema direita ou a crise dos refugiados. Nesse sentido, Diamantino inspira-se na grande tradição da sátira política que vem desde Aristófanes, passa pelo Candide para desembocar em South Park: uma comédia que é suposto fazer rir e pensar ao mesmo tempo.
Podemos dizer que hoje os estádios de futebol são as novas catedrais, que os jogadores são os novos Michelangelo?
O filme começa com o Diamantino a dizer isso mesmo em voz off. E há alguma verdade nessa frase. A beleza dos jogadores mais talentosos pode ser comparada às mais belas obras de arte e os estádios são um centro de devoção, de fé, de superstição. Mas tudo isso talvez esteja um pouco hiper-romantizado. Os estádios são também lugares comparáveis ao Coliseu de Roma, no sentido em que neles se manifesta a mentalidade da horda populista que os tornou possíveis. Penso que o filme joga com essa dupla função do desporto de elite – pode ser belo e inspirador e ao mesmo tempo uma das mais virulentas formas do nacionalismo, do nepotismo, e do pensamento massificado que hoje se espalham rapidamente.

Diamantino foi o filme de abertura do festival Queer, em Lisboa. Em que sentido se pode dizer que esta obra pertence ao universo queer?
Diamantino é um filme sobre ambiguidade e liberdade, sobre a descoberta da sexualidade, sobre a fluidez de género. É também extremamente camp e tonto, e deleita-se no poder intoxicante do mau gosto mais trashy, como por exemplo com uma super estrela do futebol a fantasiar sobre cãezinhos pequineses enormes a saltar através de nuvens cor-de-rosa.
Os atores são todos portugueses. Como foi feito o casting para o filme, foi imediata esta opção em relação aos atores?
O Daniel e eu ficámos muito empolgados por trabalhar com este cast. Já tinha trabalhado três vezes com o Carloto Cotta, e o Daniel e eu escrevemos o guião a pensar nele. Queria também o Filipe Vargas e a Joana Barrios, com quem já tinha colaborado. Não conhecia a Margarida e a Anabela Moreira, a Maria Leite, a Carla Maciel ou a Cleo Tavares, mas foram todas tão brilhantes… São alguns dos atores mais talentosos e foi realmente magnífico trabalhar com eles.
Diamantino recebeu este ano o Grande Prémio da Semana da Crítica no Festival de Cannes. Tem ainda marcado presença em importantes festivais de cinema. Qual o impacto dos prémios e a importância da presença em festivais?
O Daniel e eu ficámos chocados por ganhar o prémio. Já tínhamos ficado surpreendidos por termos sido aceites num festival tão prestigiado. Começámos a trabalhar no Diamantino em 2010 e estamos ainda a trabalhar na distribuição do filme agora em 2019 – por isso pode dizer-se que, do princípio ao fim, levou mais de uma década a fazer esta obra. Durante este tempo houve imensos altos e baixos, chegámos por vezes a perder a perspetiva do filme e do que ele poderia representar para as pessoas. Neste sentido o prémio, bem como a reação dos críticos e público em Cannes, foi arrebatadoramente positiva e uma grande emoção, fazendo-nos sentir que todos estes anos a trabalhar no filme valeram a pena. O mais importante para nós era ouvir as pessoas a rir, senti-las a emocionarem-se com o filme.
O Gabriel tem também formação em artes visuais. De que forma essa vertente influência o seus filmes?
Comecei a pintar quando era muito novo, fui para a escola para pintar e foi então que passei a frequentar as aulas de História do Cinema com o mítico crítico do Village Voice, Jim Hoberman. Aprendi quase tudo o que sei sobre história do cinema nessas aulas. Ele deu-nos a ver Dryer e Griffith juntamente com Anger e Warhol. Penso que foi esse mix de experiências arcaicas no cinema primitivo e de filmes de arte underground que realmente influenciou as minhas primeiras tentativas de fazer cinema.
De que melhor maneira poderíamos definir este objeto enigmático e caricato, grotesco e absurdo, tão excessivamente divertido, mas até trágico, chamado Ballyturk? Jorge Silva Melo, que assume ter sido a peça mais difícil que dirigiu até hoje, considera-a “uma slapstick comedy [em português a referência será o chamado “pastelão”] que faz Beckett sair da academia e entrar numa taberna irlandesa, com Guiness a rodos e serradura no chão.”
Aliás, o teatro de Enda Walsh (n. 1967) desde Acamarrados explora “esse lado voluntariamente rasca” e impregna-o de referências eruditas. Em Ballyturk, uma comédia bem irlandesa, descortinam-se marcas de James Joyce (as paredes que falam sugerem ser conversas de vizinhos num qualquer bairro de Dublin), do galês Dylan Thomas “e do seu belíssimo Sob o Bosque de Leite”, mas, principalmente, de Samuel Beckett e do seu incontornável À Espera de Godot. “Descobri Godot himself naquele misterioso visitante que surge na sala, vindo de algures numa paisagem irlandesa”, sublinha Silva Melo.

A essas referências, Walsh junta o tal universo slaptick das populares comédias britânicas da série Carry On ou dos célebres Três Estarolas. Como se metesse todos os ingredientes numa centrifugadora – tal o ritmo frenético a que, em palco, os atores (no caso, Américo Silva e Pedro Carraca) são sujeitos –, o autor constrói uma “espécie de ritual a dois, aplicando excesso aos gestos quotidianos que, à Beckett, retira às rotinas das vidas normais.”
A peça é “uma loucura” não só pela exigência física das interpretações, como pelos efeitos especiais em cena. “Não imaginava no que me estava a meter quando decidi fazê-la”, confessa o encenador, lembrando que o cuco do relógio se incendeia e até o microondas explode a dada altura.
Aliás, é o tempo, marcado pelos relógios e pelos mais diversos artefactos em palco, que parece ser a chave para descodificar este objeto tão fascinante como enigmático. Porque, no fundo, nunca sabemos onde estão e quem são aqueles homens e que lugar é esse que ressoa, mas não vemos, chamado Ballyturk.
Falámos com Gonçalo Riscado, da Cultural Trend Lisbon – CTL (entidade organizadora do evento), para quem este festival se distingue “por se dedicar à promoção e internacionalização da música popular atual, com especial foco na produção musical vinda dos países de língua portuguesa”. Lisboa torna-se, assim, uma espécie de ponto de encontro de profissionais da indústria da música de vários pontos do mundo, criando “uma ponte entre os mercados da música europeu, africano e sul-americano”, explica.
Ao longo dos três dias do programa, são dados a conhecer mais de 70 novos e entusiasmantes artistas em diversas salas do Cais do Sodré. Que Lisboa está na moda ninguém discute. Há salas para todos os gostos e feitios em diversas zonas da cidade. Segundo um dos fundadores da CTL, a escolha do Cais do Sodré prende-se com a sua importância, mas também com questões logísticas: “este é um bairro central na vida noturna lisboeta que congrega uma diversidade de salas de espetáculos e clubes nocturnos que possibilitam este modelo de programação”.

Programa artístico
Entre os variados nomes que integram o cartaz, destacamos os nacionais A Negra, Blaya, PAUS, Filho da Mãe, Octa Push, Cave Story ou Conan Osiris. Há muitos mais (ver programação integral aqui), escolhidos de forma criteriosa: “os nomes que integram o alinhamento são artistas emergentes que têm potencial de exportação e internacionalização”. A organização procura sempre “propostas musicais que fujam ao circuito de música mainstream e que estes artistas introduzam um fator de novidade dentro das tendências da música popular atual”.
E que dizer, então, do grande boom na produção da música nacional alternativa dos últimos tempos? Gonçalo Riscado é perentório: “nesta última década, a produção de música independente em Portugal desenvolveu-se de forma significativa. Deste crescimento resultaram e continuam a resultar projetos e coletivos muito interessantes que dinamizam um circuito de música que é bastante rico e diversificado”. Por isso mesmo, o MIL ”está de olhos postos nesta realidade e procura fazer a ponte com os circuitos de música internacionais”.
MIL PRO
O festival tem também uma vertente dirigida a profissionais com uma componente de formação: masterclasses e workshops, encontros de networking e debates sobre tópicos relevantes para a indústria da música. Para a CTL, esta vertente funciona como “plataforma de inovação, fornecendo ferramentas teórico-práticas essenciais para as diversas áreas do setor da música”. Este é, aliás, um dos grandes trunfos do MIL, uma vez que proporciona “várias oportunidades de negócio e intercâmbio, possibilitando o contacto entre agentes e profissionais de todo o mundo.”
Na primeira vez que dirige um texto de Brecht, o encenador António Pires admite não o ter feito por razões artísticas. “O que me moveu foram questões sociais”, e releva “a urgência” de trazer para o palco um conjunto de cenas curtas que compõem esta “profunda reflexão para teatro sobre a ascensão do nazismo na Alemanha.”
Terror e Miséria no Terceiro Reich terá sido escrita, na Dinamarca, entre 1935 e 1938. Brecht estava exilado, mas particularmente atento aos ecos que chegavam do seu país natal, onde, e resgatando uma expressão cunhada por Hannah Arendt já após a grande guerra de 1939/1945, a banalidade do mal imperava na sociedade alemã.

Num ambiente de uma certa austeridade cénica, pontuada por uma janela ao fundo do palco onde, recorrendo ao vídeo, surgem paisagens das cidades, dos campos ou das fábricas (consoante a temática da cena), António Pires construiu, a partir da tradução de Fiama Hasse Pais Brandão, um mosaico cronológico que se inicia em 1933, com a chegada ao poder de Hitler, e encerra com a anexação da Áustria em 38, num quadro em que os resistentes se mobilizam, adivinhando que o pior ainda estava por vir.
Mas as 15 cenas que compõem o espetáculo não são, de todo, narrativa histórica. São, isso sim, cenas do quotidiano do povo alemão, que Brecht adapta a partir de notícias de jornal e relatos testemunhais, revelando como o medo se instalou paredes meias com o espírito messiânico nacionalista personificado na figura do Fuhrer. E estas cenas, escolhidas de um total de 24 do texto original de Brecht, evidenciam, nas palavras do encenador, “assustadoras semelhanças com aquilo que se vai passando na atualidade” (chama-se a atenção para um excelente texto do jornalista Daniel Oliveira, que integra a folha de sala, e parte precisamente do caso brasileiro).

Perante o terror e a miséria, é com bastante humor e ironia que a peça convoca a inquietação no espectador. São absolutamente deliciosas cenas como a do casal (Adriano Luz e Inês Castel-Branco excelentes) que teme a denúncia por parte do filho menor, devido a um conjunto de conversas que mantêm muito pouco abonatórias da situação social e política que se vive; ou aquela em que o guião de um programa de rádio, feito em direto de uma fábrica para propagandear a “alegria e infatigável energia” do proletariado no nacional-socialismo, acaba por fugir ao controlo do locutor e do próprio agente das SA, graças às imprevisíveis declarações dos operários.
Mas numa sociedade em que o mal se impregnou, a tragédia só pode mesmo trespassar as vidas dos cidadãos comuns. A cena da judia, casada com um “ariano”, que faz a mala para fugir e vai dando conta da cobardia do marido; ou a do comunista que sai da prisão e procura ajuda junto de um casal de amigos que a negam, são bem demonstrativas da profunda melancolia em que o Brecht exilado se encontrava quando as escreveu.
Reunindo um elenco composto pelos já referidos Adriano Luz e Inês Castel-Branco, mas também por Carolina Serrão, Francisco Vistas, Jaime Beata, João Barbosa João Maria, Mário Sousa, Rafael Fonseca, Sandra Santos e Manuel Encarnação ou Tomás Andrade (crianças), Terror e Miséria conta ainda com a participação do músico e pianista Nicholas MacNair. Um espetáculo em estado de urgência, para ver no Teatro do Bairro, até 14 de abril.
Completaste dez anos de atividade artística em 2018. Qual é o balanço que fazes desta década como criador?
Estes dez anos marcam-se pela minha saída da Escola Superior de Teatro e Cinema, apesar de, antes disso, já ter trabalhado profissionalmente como estagiário e enquanto ator. Esta década como criador começa comigo a trabalhar com o Francisco Camacho, que tinha sido meu professor. Depois trabalhei como cocriador com a Raquel André durante algum tempo, até ir para o Brasil, há cerca de cinco anos. Esta minha viagem mudou bastante aquilo que eu queria trabalhar e a pesquisa que queria fazer, que acabou por se tornar um pouco académica, já que estou a estudar lá. Apesar da minha carreira ter passado por vários momentos e de ter havido uma viragem há cinco anos, para já o balanço é bastante positivo e penso que é indicador do que podem vir a ser os próximos anos.
Vives entre Portugal e o Brasil. Para ti, quais são as principais diferenças entre os dois países a nível artístico?
A parte social define muito aquilo que podem ser os pressupostos artísticos, técnicos e formativos. No caso do Brasil, a experiência que tive foi a trabalhar como intérprete para outros criadores brasileiros ou já a apresentar no contexto brasileiro. Na verdade, a minha forma de trabalhar não muda assim tanto. No Rio de Janeiro, onde estou, no que respeita às artes performativas, como o teatro, há uma ligação muito grande ao registo televisivo. Parece que já nasces numa cidade que é uma Hollywood do Brasil, onde a meta que pretendes atingir enquanto ator se prende com uma visibilidade muito televisiva. Na minha opinião, isto faz com que, nos objetos teatrais, tu sintas que há sempre uma câmara no espaço. Por exemplo, a nível do teatro de pesquisa, que em Portugal é muito forte, há uma questão autoral muito significativa que parece não se sentir tanto no Brasil. A maior diferença que sinto é que, no Brasil, os temas sociais estão a passar para a cena, já que lá existe uma permeabilidade maior do que é a realidade. Em Portugal não sinto tanto isso. Parece que existe uma distância entre o que é e o que se pode ver representado. Claro que isto é uma generalização, já que há companhias como a Mala Voadora, o Teatro Praga ou o trabalho do Tiago Rodrigues onde tu sentes que eles estão, não a espelhar a realidade, mas muito atentos ao que se passa. Acho que a diferença passa mais por aqui: pensar que socialmente isso altera o que tu queres que seja uma cena, o que tu queres que seja o teatro.

Este mês levas à Culturgest Gulliver, um espetáculo destinado ao público mais jovem. Como surgiu a ideia para este projeto?
A ideia surgiu logo no dia a seguir à estreia do Pangeia, há dois anos, precisamente na Culturgest. Lembro-me que tinha um livro do Gulliver em casa, porque sempre me fascinou esta questão do que é que o meu corpo ainda não consegue atingir ou ao que eu, enquanto criança, ainda não consigo chegar no mundo dos adultos. A ideia mais generalizada sobre o livro é existir um Gulliver numa posição de gigante em relação a um lugar de Liliputianos, onde são todos muito pequenos, e isso sempre foi corroborado pelos desenhos animados e pela literatura paralela. Mas, na verdade, quando te debruças mais atentamente sobre o livro, apercebes-te de que se trata de um viajante que se vai alterando; na segunda viagem, ele já é mais pequeno. Esta história aborda muito a capacidade de te colocares no lugar do outro, o perspetivismo, onde a tua identidade não é só onde tu estás, é também como vês esse lugar assim que te deslocas. Isso foi o que mais me interessou. Além de que, depois, fala do tema do colonialismo recorrendo à sátira, brincando muito com o lugar do viajante da época.
Uma vez que a tua obra é um cruzamento de teatro, dança e artes visuais, o que se pode esperar deste espetáculo?
Neste espetáculo estamos a utilizar muito o vídeo, mas um vídeo que parece ser mais operativo, ou seja, que responde mais aos pressupostos da ideia dramatúrgica do que às preocupações estetizantes. Quando faço essas travessias tento sempre pensar ao que é que vou dar prioridade. Neste caso, pensei logo que Gulliver tinha que ser uma peça de teatro, onde há muito texto, mas poderia ser só um gigante em palco. Mas que este vai ser um espetáculo visual, lá isso vai.

O que te levou, numa primeira fase, a criar espetáculos para crianças?
Este é o quarto espetáculo que faço para um público mais jovem. Fui desafiado pela Leonor Cabral e pelo João de Brito, há uns sete ou oito anos, a fazer um primeiro trabalho na Culturgest. Era dirigido a crianças mesmo muito pequenas e acho que foi um enorme desafio. A minha exigência quando pego num objeto dirigido a famílias é quase a mesma, a única coisa que tem de se ter em atenção é o tipo de linguagem. Todos os criadores deveriam experimentar criar alguma coisa para ser vista por um olhar ainda sem muitas regras sobre o que é uma peça de teatro. É um desafio, acima de tudo porque há um cuidado a ter com esse público que é muito novo, mas que será o futuro público adulto. Porque ninguém nasce espectador, e pensar que aquele primeiro estímulo que uma criança pode ter com oito ou nove anos pode levá-la a querer ser ator, como aconteceu comigo, ou simplesmente espectador, é muito gratificante. E Lisboa está a fazer um ótimo trabalho nesse sentido. Muitos teatros têm serviço educativo. O Lu.Ca [Teatro Luís de Camões] abriu com essa missão, então há uma consciência, principalmente nesta cidade, de que a formação e a captação desse tipo de público é importante.
Já nos podes falar um pouco dos teus próximos projetos?
No Brasil, no final do ano, vou ter um projeto que tem mais a ver com dança, que se chama A Fresco. E estou na fase de pré-produção de um trabalho para 2021, que consiste numa viagem de barco que vou fazer entre Lisboa e Porto Seguro, no Brasil. Vou tentar replicar a viagem dos nossos “autoproclamados” descobridores e tentar perceber como é o Atlântico – esse território que conecta Portugal e o Brasil – e como é que posso retirar desse mar histórias do passado, como é que eu consigo trazer, à luz da contemporaneidade, algumas questões ali submersas.
“A memória só serve se for para fazer futuro”, considera a diretora artística do Teatro São Luiz, Aida Tavares, introduzindo o ponto alto das celebrações do 125.º aniversário: a encenação da ópera A Filha do Tambor-Mor, de Jacques Offenbach, precisamente aquela que inaugurou, a 22 de maio de 1894, o então Theatro D. Amélia, atual São Luiz Teatro Municipal.
Numa produção integralmente assumida pelo teatro municipal, este regresso da ópera de Offenbach à sala principal do São Luiz reúne “um elenco para o futuro”, proveniente de escolas superiores de música, dança e teatro de todo o país. Com encenação de António Pires e direção musical de Cesário Costa, esta grande produção conta com Paulo Vassalo Lourenço como maestro do coro, cenografia d’ A Tarumba – Teatro de Marionetas, Dino Alves nos figurinos e Aldara Bizarro no movimento. A ópera será de entrada livre, estando em cena de 22 a 25 de maio.

Numa extensa programação, que arranca já este fim de semana, com Espetáculo Guiado de André Murraças, as comemorações dos 125 anos do São Luiz prosseguem em abril com duas propostas do Teatro do Vestido. O coletivo dirigido por Joana Craveiro promove uma Ocupação (de 24 a 30 de abril) de todos os espaços do teatro, naquele que será “um espetáculo documental de investigação, onde não só o que se passava dentro de portas merece ficar registado, mas também nos espaços envolventes – ou não estivesse o São Luiz situado paredes meias com a antiga sede central da PIDE em Lisboa; ou não se tivessem muitos dos manifestantes refugiado junto ao São Luiz e dentro dele, no 25 de abril de 1974, em que a PIDE abriu fogo sobre a multidão reunida na Rua António Maria Cardoso.”
Em Era Uma Vez um País Assim: Contar Bem Contadas a Ditadura e a Revolução retrata-se, para o público infantojuvenil, as histórias da resistência ao fascismo e evoca-se o dia em que “pessoas que tinham lutado às escondidas, puderam sair para a rua a escrever a tal palavra – Liberdade”. Com texto e encenação de Joana Craveiro, o espetáculo, inserido na programação “São Luiz Mais Novos”, está em cena entre 1 e 7 de abril.
Mais futuro, sem perder a memória
Para além da ópera de Offenbach, o mês de maio marca o regresso ao São Luiz do coletivo Teatro Praga e de Miguel Bonneville. Aos Praga, o teatro municipal fez a encomenda de um musical “histórico” que revisite mais de um século de vida de uma sala que já teve três nomes (D. Amélia, República e São Luiz), que foi teatro e também cinema, que sobreviveu a um devastador incêndio e que inscreveu nas suas paredes as passagens de divas maiores da arte de representar, como Sarah Berhardt e Amélia Rey-Colaço. Xtraordinário sobe a palco a 10 de maio.
Quanto a Miguel Bonneville, o criador e ator continua a perseguir as vidas e obras de artistas e pensadores que influenciaram o seu percurso artístico. Desta feita, Bonneville dedica-se à figura de Georges Bataille, influente autor francês nascido três anos após a fundação do São Luiz.
Em junho, mês das Festas de Lisboa, o destaque vai para o Teatro Meridional que apresenta Histórias de Lx, um retrato da cidade que somos, hoje, entre lisboetas de todas as raças e credos e turistas dos quatro cantos do mundo, com recolha de textos e encenação de Natália Luiza.

A abrir a Temporada 2019/2020, Miguel Loureiro encena A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas (Filho), com Carla Maciel, numa evocação da passagem de Eleonora Duse pelo palco do São Luiz, em 1898. Ainda em setembro, arranca mais uma temporada de Os Sapatos do Sr. Luiz, de Madalena Marques, agora numa nova versão que não esquece figuras ligadas à história do teatro, como Sarah Berhardt, Mário Viegas ou Almada Negreiros, nem aqueles “técnicos que, nos bastidores, ajudam diariamente a pôr todos os espetáculos em pé.”
E, porque o São Luiz foi, durante um largo período de tempo, uma sala de cinema, o pianista e compositor Filipe Raposo foi desafiado a compor uma partitura para uma das obras-primas da história da sétima arte: Metropolis, de Fritz Lang. Este clássico do cinema mudo estreou em Portugal a 7 de abril de 1928, precisamente, no então denominado São Luiz Cine, e voltará a encantar as plateias de 11 a 17 de novembro.
Nota final para o lançamento, a 6 de setembro, do livro São Luiz 125, editado por Vanessa Rato. Trata-se de uma “reflexão sobre a instituição que foi, é e será o Teatro São Luiz, destacando não apenas a memória histórica, mas também o seu papel no panorama cultural e artístico do presente e do futuro”. O livro, com edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda, conta com textos de António Pinto Ribeiro, André Teodósio, Filipe La Féria, Joana Craveiro, José Gil, José Sarmento de Matos, entre outros.
Programação integral em teatrosaoluiz.pt
Enquanto dobra metodicamente os guardanapos que hão-de ser dispostos nas mesas dos hóspedes desse Pequeno Hotel do Lago que gere com o marido, Júlia (Paula Mora) continua a revelar a altivez que lhe reconhecíamos daquela noite de São João, há mais de 30 anos, quando seduziu o criado João. É uma anfitriã calorosa que encontramos, zelosa das suas muitas certezas e prontamente disponível para dar conta de qualquer situação. Que o diga João (Manuel Coelho), homem que os anos volvidos não nos permitem reconhecer de imediato, mas que enaltece a cada momento a felicidade conjugal que encontraram, logo após uma fuga a dois em que sonhos mais altos ousaram romper convenções.
Este não era, de modo algum, o final que August Strindberg projetara para a menina Júlia, já que a didascália final deixava adivinhar o suicídio. Mas Tiago Rodrigues descobriu um caminho para a felicidade do casal de amantes e deu-lhes um futuro. Júlia e João podem não ter cumprido todos os sonhos e promessas que fizeram na embriaguez do desejo, mas tornaram-se um casal com filhos já crescidos, a gerir o seu negócio, não debruçados na elegância do Lago de Como, mas numa aldeia a alguns quilómetros de um outro lago, com certeza não tão afamado.
Parecem, de facto, felizes enquanto ouvem música, experimentam os vinhos da casa e provam um bom presunto. Felicidade que partilham com o público e que talvez nada possa ensombrar. A não ser que, ao final da noite, uma certa hóspede bata à porta: é Cristina (Lúcia Maria), a serviçal da casa paterna de Júlia e noiva de João à data daquela noite de São João.

Chega então o momento de reviver o passado. Júlia (Inês Dias), João (Vicente Wallenstein) e Cristina (Helena Caldeira) voltam a ser as jovens personagens de Strindberg, numa espécie de “voo rasante, versão condensada de Menina Júlia” (a tradução escolhida é a de Augusto Sobral). Mais do que um tributo à obra original – “peça que sempre me intrigou, apesar de nunca a ter considerado particularmente fascinante”, ressalva Rodrigues –, a coexistência em cena das personagens no passado e no presente vai expor a fragilidade dessa rara condição de ser feliz.

E será mesmo felicidade aquilo que Júlia e João encontraram quando decidiram fugir e casar? Não terá sido essa felicidade roubada por Júlia a Cristina, essa mulher que foi “vítima do desejo dos outros, a pessoa banal que é simultaneamente a personagem que nunca ninguém sabe o nome sempre que falamos de Menina Júlia”?
Tiago Rodrigues joga habilmente com estas questões para criar o drama. Ao abdicar da tragédia colocando as personagens de Strindberg “a negociarem com a vida e a fazerem as suas escolhas”, não as redime, mas dá-lhes a existência que, provavelmente, cada uma delas fez por merecer. Mesmo que a felicidade de uns tenha sido furtada ao destino de outros.

Joel Neto
Só Tinha Saudades de Contar uma História
O livro é tão curto que o podemos ler na íntegra numa viagem de comboio Cascais-Lisboa ou num trajeto de autocarro que atravesse a cidade. A resposta à curiosidade de saber que motivo leva um autor de fôlego comprovado a decidir lançar um objeto tão pouco usual de vermos editado, está no título da obra. Joel Neto só tinha saudades de contar uma história. Uma saudade momentânea deu este pequeno livro que contém mais que as suas 60 páginas em corpo de letra grande. A narrativa contada pelo rapaz que ia com os amigos ouvir um velho polícia negro e matulão contar histórias ou oferecer respostas e alibis a quem deles necessitasse, fala da função universal da literatura que é a de oferecer uma chave interpretativa para a vida de cada um de nós. Lemos também em busca de nós próprios e de soluções que redimam as dificuldades da vida. Este livro singelo não se propõe safar ninguém fora da história que conta, mas proporciona uma boa leitura que só termina com a moral da história.
Cultura Editora

Paul Virilio
Guerra e Cinema
Quando em 1983, o arquitecto urbanista e filósofo francês Paul Virilio escreveu a obra de referência Guerra e Cinema, o mundo ainda não havia assistido às imagens em directo captadas na Guerra do Iraque por câmaras instaladas nos capacetes dos soldados. Neste seu livro, o autor analisa a utilização sistemática das técnicas cinematográficas nos conflitos decorridos ao longo do século XX e comprova como o cinema, desde o seu surgimento, abasteceu conceitual e tecnologicamente a guerra e os nacionalismos bélicos. Recorrendo a imagens de combate e a filmes como O nascimento de uma Nação de D. W. Griffith. Napoleão de Abel Gance, Guerra e Paz de King Vidor ou Dois Vultos na Paisagem de Joseph Losey, compõe um inventário histórico dos vários intercâmbios técnicos e ideológicos entre a indústria do armamento, a fotografia e o cinema. Uma fascinante reflexão crítica sobre a capacidade persuasiva das imagens de guerra que demonstra, de forma erudita e original, como o domínio da percepção mediática se tornou mais decisivo do que os acontecimentos no campo de batalha.
Orfeu Negro
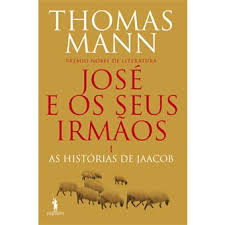
Thomas Mann
José e os Seus Irmãos
Thomas Mann (1875/1950), Prémio Nobel de Literatura de 1929, é com frequência considerado o mais importante escritor alemão do século XX. Nas suas novelas revela-se um profundo analista de uma época à beira de uma crise cultural e expõe os principais problemas políticos e morais contemporâneos. Preocupa-o, de forma persistente, a responsabilidade do artista face à sociedade. O escritor evoluiu do conservadorismo para o humanismo social incompatível com o nazismo, vendo-se forçado ao exílio em 1933, primeiro na Suíça e depois nos EUA. Em 1944 torna-se cidadão norte-americano. A sua prosa é complexa, de estilo cuidado e exigente. Sobre José e os Seus Irmãos, romance monumental em quatro partes sobre a figura bíblica de José, escreveu Milan Kundera: “é uma exploração histórica e psicológica dos textos sagrados (…) contados num tom sorridente”. “Porque a religião e o humor são incompatíveis”, o respeito que o romance de Thomas Mann granjeou constituiu, ainda segundo Kundera, “prova de que a profanação deixara de ser percebida como ofensa para fazer doravante parte dos costumes”.
Dom Quixote
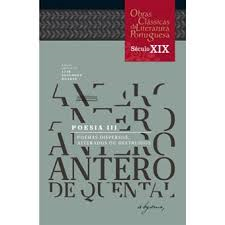
Antero de Quental
Poesia – III
A presente edição crítica da Poesia de Antero de Quental distribuída por três volumes, pretende disponibilizar ao leitor de hoje o conjunto da obra poética do autor: a que ele publicou em livro e manteve; a que publicou em livro mas destruiu ou de algum modo alterou; e a que publicou dispersamente ou deixou inédita. Neste terceiro e último volume reúnem-se todos os seus poemas inéditos, bem como aqueles que foram abandonados, alterados ou destruídos e que foi possível recuperar. Sobre e edição de Os Sonetos Completos escreveu Antero: “Ele Forma uma espécie de autobiografia de um pensamento e como que as memória de uma consciência”. Como refere Luiz fagundes Duarte, responsável por esta edição crítica no seu prólogo: Esta relação de convivência entre os sonetos canónicos e a restante produção poética de Antero é particularmente interessante, na medida em que nos permite (…) tomar consciência de um facto incontornável: que há outro Antero para além dos Sonetos”. É esse “outro Antero” que esta magnífica edição nos dá a descobrir.
Abysmo
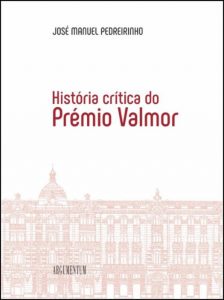
José Manuel Pedreirinho
História Crítica do Prémio Valmor
Conhecer o Prémio Valmor de Arquitectura e a sua evolução, desde que foi regulamentado em 1902 é, de certa forma, compreender também a arquitectura e o próprio desenvolvimento da cidade de Lisboa. O prémio constitui efectivamente um excelente reflexo da arquitectura que se foi fazendo, e dos gostos dominantes em cada época, já que nele se espelham os estilos predominantes. O galardão tem também funcionado como forma de chamar a atenção do público para o ambiente edificado, seja através das notícias relativas às obras e autores distinguidos, seja pelo inegável prestígio que tem sabido manter. Nesta edição, ilustrada com 150 imagens, o autor analisa os diversos factores e contexto das obras premiadas nos 116 anos da existência do Prémio. Um livro indispensável para conhecer o processo de distinção da arquitectura pelo mais importante prémio instituído pelo Município de Lisboa, sob proposta testamental do Visconde de Valmor (1837-1898).
Argumentum

Ursula K. Le Guin
A Mão Esquerda das Trevas
Neste clássico da ficção científica, Ursula K. Le Guin explora criativamente os temas da identidade sexual, incesto, xenofobia, fidelidade e traição deixando, como na maior parte dos seus trabalhos, uma poderosa mensagem social que nos convida a ir além do racismo e sexismo. A escritora, que Harold Bloom considerou que “elevou a fantasia à alta literatura, mais do que Tolkien”, cria um livro fascinante ambientado num mundo gelado de seres andróginos, vencedor dos Prémios “Hugo” e “Nebula” (1969). Genly Ai é enviado para o planeta Gethen por uma federação interestelar, o Ecuménio. Governado por um rei extravagante, a estranheza deste universo acentua-se na multiplicidade de géneros sexuais, em que os seres podem ser simultaneamente mães e pais de diferentes crianças. Através de Genly, o leitor sofre uma mudança de pensamento e aprende a aceitar as diferenças abismais que encontra na forma de relacionamento entre estes seres, alargando a compreensão da sua própria realidade.
Relógio D’Água
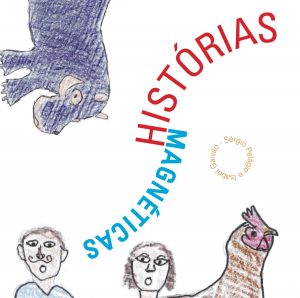
Sérgio Pelágio e Isabel Galvão
Hístórias Magnéticas
Nos últimos dez anos, Sérgio Pelágio, compositor e guitarrista, compôs bandas sonoras originais para histórias infantis narradas por Isabel Galvão e levou-as a escolas, bibliotecas e a outros lugares menos convencionais. Ali, eram recriados os ambientes dos textos de partida e construídos novos significados para as situações narradas. Este projeto, de seu nome Histórias Magnéticas, deu agora origem a um livro que fala!, um CD que reúne as seis histórias-concerto que compõem o seu repertório. A bomba e o general, de Umberto Eco; O meu primeiro Dom Quixote, traduzido do castelhano por Alice Vieira; Enquanto o meu cabelo crescia, de Isabel Minhós Martins; Uma galinha, de Clarice Lispector; Um estranho barulho de asas, de Alice Vieira a partir de um conto macaense, e Nungu e a senhora hipopótamo, de Babette Cole, são os textos que se podem ouvir neste audiolivro e que prometem estimular a imaginação de qualquer pessoa, seja criança ou adulto. Porque a experiência diz a Sérgio e a Isabel que o hábito de ouvir contar boas histórias torna as crianças mais curiosas, mais inteligentes e mais calmas.