Como é que o fado entrou na tua vida?
Isto vem de família, tenho o sangue do fado a correr-me nas veias. Costumo dizer que nem sei bem quando é que começou, porque vou a casas de fado desde os três anos. Lembro-me de, com seis ou sete anos, ouvir discos de fado em casa da minha tia (a fadista Joana Correia). Com oito ou nove anos comecei a passar as letras para um caderno para decorar o que a minha tia cantava. Aos 13 anos entrei na Grande Noite do Fado. Venci e aí tive a certeza de que era isto que queria para a minha vida.
Essa participação na Grande Noite do Fado foi um momento de viragem?
As pessoas que me rodeavam sempre me incentivaram para continuar, mas sim, fez-se um click, soube que era mesmo isto que queria.
Comparas muito as casas de fado com o ritual de ir à missa…
Fadista que se preze precisa de ir às casas de fado, porque é onde ele realmente acontece. É onde convivemos com fadistas com mais experiência, é ali que vamos beber o que precisamos para subir ao palco. Para além disso, tem um ambiente mais intimista, estamos mais próximos do público. Gosto muito de estar em palco, é onde me sinto ‘eu’. Sou muito ansiosa, mas quando subo ao palco isso desaparece.
O teu álbum de estreia tem merecido rasgados elogios por parte da crítica. Estavas à espera de uma reação tão calorosa?
De certa forma estava à espera de boas críticas, porque sei o trabalho que fiz. Foram três anos investidos neste trabalho. O que mais queria era fazer este disco tal e qual ele saiu, e passar uma mensagem para jovens da minha geração que não ouvem fado. Sinto que as pessoas jovens que vieram agora para o fado e que estão a começar o seu caminho também bebem muito de mim, e isso é incrível. Foi sempre isso que quis, poder ser considerada uma influência. Só tenho 25 anos, embora muita gente me ache mais velha…
Achas que isso está relacionado com a ideia que muita gente tem de que o fado é para pessoas mais velhas?
As pessoas não sabem o que é a essência do fado, não conhecem… É importante que quem vive no meio, como eu, consiga mostrar um pouco da história. Há um grande desconhecimento em relação à história do fado. Costumo dizer que não fui eu que escolhi cantar fado, foi o fado que me escolheu, isso é notório no meu percurso. Além de gostar muito de cantar, o meu grande objetivo era passar uma mensagem, despoletar esta curiosidade nas pessoas: procurem saber mais sobre o fado porque há muito para saber!
O facto de o fado ser, essencialmente, uma música com uma tradição e um ritual associado, afasta as gerações mais jovens?
Penso que esse afastamento se deve à imagem que o fado sempre teve. As roupas pretas, pesadas, os vestidos compridos, as letras tristes… Lembro-me de ser miúda e de algumas pessoas me dizerem não era música para a minha idade. Hoje em dia, o fado tem uma roupagem muito mais leve. As letras são mais atuais, os fadistas já se apresentam de outra forma… Essa mudança era necessária, mas claro que há marcas muito tradicionais que se devem manter. Acho que a roupa não define o fadista nem ninguém que cante. Não me faz confusão se a pessoa canta de saia ou de calças, mas há um certo cuidado que se deve ter. Cada pessoa deve ter a sua identidade e o seu gosto próprio. O fado está na voz, não está na roupa.

O disco tem a participação de Diogo Clemente e Ângelo Freire, dois nomes pesados do fado. Como chegaram a esta colaboração?
Já nos conhecemos há muito tempo e há muito que eles me diziam que, quando chegasse a altura, queriam gravar um disco comigo. O meu crescimento foi feito ao lado deles. A determinada altura senti necessidade de deixar alguma coisa minha, um registo. Acho que é necessária uma certa maturidade e alguma experiência, não só no fado mas na música em geral. É preciso ter uma história para contar às pessoas. Tenho 25 anos, tenho muito ainda para viver, mas senti que já estava preparada para fazer um disco. Já tenho 15 anos de fado, estava na altura certa. Comentei isto com o Diogo e ele também achou que tinha chegado o momento.
Escolheste dar o teu nome ao primeiro disco. Porquê?
Primeiro, porque queria dar-me a conhecer como Sara Correia. Depois, porque a escolha dos fados tradicionais são quase autobiografias minhas, de histórias da minha vida. Pensei que não fazia sentido estar à procura de um mote para este disco. O mote sou eu, Sara Correia, tal e qual como sou.
Compararem-te à Amália é o maior elogio que te podem fazer?
É, mas é também uma grande responsabilidade. Não gosto de comparações. Tenho as minhas referências, como qualquer pessoa. Para mim, a D. Amália Rodrigues é a essência do fado, o seu expoente máximo, desde sempre que a canto. Gravei, inclusivamente, o Fado Português, que pensei várias vezes se devia gravar ou não.
Estavas com receio?
Estava, porque há canções que é impossível fazer melhor. Aquilo que a D. Amália fez é perfeito, o que coloca a fasquia altíssima, mas pensei: “porque não?”. Da mesma forma que gravei fados de outros fadistas que admiro muito.
No dia 21 de fevereiro apresentas este disco no Capitólio. Como vai ser este espetáculo?
Vou fazer umas coisas novas, estou a preparar umas surpresas, mas sempre à volta do cantar fado claro, que é aquilo que sei fazer.
O que te traz o futuro?
Neste momento estou focada neste disco, mas já tenho ideias para o próximo, porque isto não pode parar… Agora estou focada em promover o disco e em dar concertos. Já tenho algumas coisas marcadas, irei novamente atuar no Caixa Alfama, em breve vou estar na Noruega e em Viena de Áustria… É engraçado que o público lá de fora gosta muito de fado. Mesmo não percebendo o que estamos a cantar, é quem mais pede os fados tradicionais, o fado puro e duro.
Qual é a sala de sonho para um fadista?
Tenho muitos sonhos, mas não tenho nenhum palco de sonho. O meu sonho é cantar em palcos, seja onde for, seja para que público for. Esse é o meu sonho: poder cantar para os outros. Conhecer outros artistas, outras culturas musicais.
É já um clássico ver a Companhia do Chapitô a brincar aos clássicos (perdoem-nos a redundância!). Desta feita, e depois de uma versão “sonoro-teatral” de Macbeth, o irreverente coletivo decidiu lançar-se uma vez mais a Shakespeare, agora com Hamlet. É certo não se tratar de uma estreia absoluta porque, entretanto, esta visão muito peculiar da peça andou de armas e bagagens em digressão, depois de em 2018 ter esgotado as lotações da Tenda do Chapitô numa primeira temporada em Lisboa.
Como nos explica José Carlos Garcia, coencenador com Cláudia Nóvoa e Tiago Viegas, o que o público vai ver não é uma remontagem do espetáculo estreado há cerca de um ano, mas sim “uma versão depurada e constantemente trabalhada do projeto original”. Aliás, as produções da companhia têm esse ADN: “são sempre muito dinâmicas e ganham constantemente tempos novos”. Algo que resulta do aprofundamento do “trabalho coletivo que começa de um modo completamente caótico e depois vai ganhando forma”, até atingir esse ponto de rebuçado que tem vindo a conquistar o público, a crítica e um palmarés internacional invejável desde 1996, ano de fundação da companhia.

Neste frenético Hamlet do Chapitô, o Reino da Dinamarca dá lugar à Hamlet Tower, sede de uma grande multinacional, e para além da trama já sobejamente conhecida, protagonizada por esse “rapaz às direitas” conhecido mundialmente por Hamlet (aqui, natural herdeiro de um império financeiro, não fosse a vilania do tio usurpador), tudo vai tentando ser o mais fiel possível ao texto original de William Shakespeare. Só que o mundo não para, e por entre os sinais do tempo, lá surgem cenas de luta de classes ao som d´A Carvalhesa ou uma festa de casamento num roof top “ao ritmo disco dos Bee Gees”. E tudo a cappella, ou não fossem os indomáveis, e devidamente engravatados, Jorge Cruz, Susana Nunes, Patrícia Ubeda e Tiago Viegas, atores habilitados para isso e muito mais, como poderá testemunhar a cada noite, entre 24 de janeiro e 24 de fevereiro, no palco mais animado da Costa do Castelo.
Posted by Chapitô on Tuesday, 8 January 2019
A cada peça de Annie Baker, uma sensação de familiaridade envolve o espectador e amarra-o às pessoas que o habitam. “Pessoas” parece ser o termo certo, ao invés de “personagens”, porque, nas suas alegrias e fracassos, estão seres humanos comuns, sem grande história, sem qualquer papel determinante na vida familiar ou comunitária. São, como aponta Pedro Carraca, que pela segunda vez dirige uma peça da autora norte-americana, “pessoas das margens”, e que ai sempre permanecem.
Já em O Cinema (peça escrita posteriormente a Os Aliens) elas estavam lá. Gente comum lutando no seu posto de trabalho pela subsistência, muitas vezes não olhando a meios (e aos outros) para o conseguir, capazes certamente do pior, mas também habilitadas para gestos de extrema generosidade. Nesta peça, o conflito é, talvez, mais subtil e mais íntimo. Os dois homens e o rapaz que a protagonizam não disputam propriamente o lugar do outro, mas lutam consigo mesmo para encontrar um lugar no mundo.
Os Aliens passa-se nas traseiras de um cafezinho de uma pequena cidade da Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos. Em torno de uma mesa de campismo, KJ (Afonso Lagarto) e Jasper (Pedro Caeiro), dois homens chegados aos 30 anos, afundam-se no tédio das suas existências. Fumam cigarros atrás de cigarros; KJ canta com os olhos postos no céu enquanto beberica um chá de cogumelos psicadélicos e Jasper lamenta-se do abandono da namorada, consolando-se no romance que está a escrever. Entretanto, surge Evan (Pedro Baptista), empregado do café, anunciando que aquele espaço passou a ser de uso exclusivo dos funcionários. Apesar das ordens expressas do patrão, o jovem depressa se percebe impotente para enfrentar os rotineiros visitantes, acabando por estabelecer, sobretudo com Jasper (“um génio”, considera Evan), uma forte empatia.

Para além destas “pessoas”, a força humana que perpassa por Os Aliens (um dos nomes de uma banda que outrora KJ e Jasper tiveram, retirado de um poema de Charles Bukowsky, grande poeta das “margens”) está presente nos silêncios tornados tão preponderantes quanto os diálogos – “há muito silêncio na vida real”, destaca Baker numa entrevista. E depois há ainda aquele espaço confinado onde decorre a ação, como se tudo se passasse não nas traseiras do café, mas nas traseiras da vida, no recalcamento de sonhos caídos e de outros novos, mas tão improváveis: o de Jasper em ser reconhecido como um grande romancista ou o de KJ em abandonar definitivamente aquela cidadezinha.
Vendo bem, para Jasper e KJ, o mundo está sempre fora de cena – emerge quando explodem os fogos do 4 de Julho (feriado que assinala a Independência dos Estados Unidos) e quando a porta que dá acesso ao interior do café é cruzada por Evan, e só por ele. Por isso, mesmo antes que a peça termine, rendido e num tom de otimismo sincero, ouvimos KJ dizer ao rapaz: “tu vais longe, meu.”
Obra-prima da dramaturgia norte-americana, Do Alto da Ponte conta a história de homens que, citando o texto, ganham a vida “nas docas que se estendem de Brooklyn até ao quebra-mar, onde o oceano começa”. Objetivamente, a peça de Arthur Miller (1915-2005) narra o drama de Eddie Carbone, “um bom homem”, daqueles que “trabalhava nas docas quando havia trabalho, trazia o dinheiro para casa e vivia”. Um dia, a vida normal do estivador Eddie altera-se radicalmente com a chegada de dois primos da mulher, clandestinos, provindos de Itália. Sobretudo quando um deles começa a cortejar Catherine, a sua jovem e adorada “sobrinha”.
“A peça é como que um romance intenso entre várias personagens, com um lado folhetinesco muito cativante”, considera Jorge Silva Melo. A genialidade de Miller está precisamente na “facilidade narrativa, carateristica que conquista o público”. Mas não só. O que é arrebatador no texto são as “personagens dúbias e esse conflito trágico entre duas leis: a da família – siciliana, imigrante e clandestina – e a formal – a americana, liberal e democrática.”
Estreada inicialmente em 1955 (numa encenação de Martin Ritt), em plena “caça às bruxas” do MacCarthismo, esta tragédia moderna sobre amores proibidos, suspeição e delação começou por ser um rotundo fracasso na brilhante carreira do autor de Morte de um Caixeiro Viajante e As Bruxas de Salém. Um ano depois, já reescrita, seria encenada em Londres por Peter Brook, passando a figurar de pleno direito entre as maiores obras dramáticas do século XX.
Assim, mais de meio século passado sobre a estreia, Silva Melo e os Artistas Unidos chegam a este Miller, àqueles anos 50 em que despontava o rock’n’roll, àqueles estivadores e migrantes – os “semi-cidadãos” nas palavras do encenador –, àqueles que buscavam um futuro na “garganta de Nova Iorque que engole toda a tonelagem do mundo”, como escreveu o próprio autor.
O elenco e as personagens
Apesar de ter visto várias encenações da peça, sobretudo em Inglaterra, Jorge Silva Melo confessa que nunca imaginou encená-la. “Até hoje, quando percebi que os meus atores tinham a idade certa para a fazer”.
Optando pela total depuração e por uma quase austeridade cénica, o encenador recusou na sua montagem de Do Alto da Ponte toda “a tralha naturalista”. Por isso mesmo coube ao “corpo dos atores desenhar uma cenografia para o espetáculo”. Contando nos papéis centrais com artistas que tão bem conhece, o que importa verdadeiramente experienciar a cada récita são essas “personagens que perturbam, comovem e intrigam”. Como nota introdutória à peça, convidámos os atores a fazerem uma breve apresentação sobre elas.

Américo Silva
Eddie
“O Eddie Carbone é um estivador com uma vida relativamente estável, embora nem sempre tenha trabalho, que um dia vê a rotina ser perturbada com a chegada de dois primos da sua mulher Beatrice. Em crescendo, a presença deles vai começando a destabilizá-lo, e as coisas complicam-se quando um deles, Rodolpho, começa a cortejar a sobrinha da mulher, uma jovem de 17 anos (e que ele criou como filha) por quem nutre algo mais do que um amor filial. Diria que o Eddie é um homem que não se conhece a si próprio, e isso acaba por levá-lo ao desespero e a um destino trágico.”

Joana Bárcia
Beatrice
“A Beatrice é uma dona de casa, casada com Eddie, que devido à morte prematura da irmã, cria a sobrinha, Catherine, como filha. Percebe-se que, apesar de uma aparência submissa muito típica da mulher dos anos 50, ela conhece bastante bem o marido e vai antecipando as desgraças que estão prestes a ocorrer. Aliás, ela adivinha o protagonismo da sobrinha na vida de Eddie e tenta contrariar isso, lembrando o quanto precisa de que o marido volte para ela. Considero-a uma mulher de garra e muito verdadeira.”

Vânia Rodrigues
Catherine
“Para a Catherine chegou a hora de ser mulher. Ela é uma jovem de 17 anos movida pela dúvida, dividida pelo conforto da família e o desejo de emancipação, pelo afeto do tio que a criou e a descoberta do primeiro amor… E vai ter de encontrar um caminho e fazer escolhas. É uma personagem que noite após noite me faz descobrir coisas só minhas.”

André Loubet
Rodolpho
“O Rodolpho é um imigrante ilegal, um jovem que pinta o cabelo de louro, que gosta de cantar e dançar e que sonha estabelecer-se num país novo, que lhe permita cumprir os sonhos. Vai apaixonar-se pela Catherine e entrar em conflito com Eddie, que o acusa de andar apenas atrás de um passaporte. Mas, apesar de toda a hostilidade a que vai sendo sujeito (até porque ele não respeita propriamente os padrões de masculinidade vigentes naquela época), é sempre um personagem vivo, alegre, pacificador e até bastante ponderado.”

Bruno Vicente
Marco
“Ao contrário do irmão Rodolpho, o Marco chega à América como ilegal para trabalhar, juntar dinheiro e voltar para a Sicília natal, onde o esperam mulher e três filhos famintos. É um tipo forte, crente nas tradições ancestrais da honra e que não poderá perdoar a traição.”

António Simão
Alfieri
“O advogado Alfieri tem uma enorme ambivalência na peça. Ele é simultaneamente personagem – o advogado a quem Eddie recorre a dado momento e que o reconhece como um homem bom, simples e trabalhador – e narrador, como se fosse o coro num paralelismo à tragédia grega. Ao mesmo tempo, é ele quem transmite a opinião do público perante aquilo que está a ver e é quem faz a ponte entre o passado e o futuro, o imigrante e o cidadão americano. Ele é, muito provavelmente, a representação do próprio Arthur Miller.”

LOUIE LOUIE (Escadinhas do Santo Espírito da Pedreira 3)
A loja de Lisboa surge em 2007. Já existia uma Louie Louie no Porto. Jorge Dias era sócio dessa loja e também tivera quota na Carbono. A Louie Louie considera-se uma alternativa às megastores. O vinil veio representar uma salvação para as lojas do género. O substancial aumento do turismo em Lisboa também. Os estrangeiros compram mais, mesmo que em quantidades que levam em conta a viagem de regresso. Jorge Dias distingue três tipos de cliente: o que só compra discos novos, o que só compra usados, e aquele que procura um disco em particular e está-se nas tintas se é novo ou usado. Enquanto falávamos tocaram na loja o Homogenic de Björk e o primeiro álbum homónimo de Caetano Veloso. Da música editada em 2018, a casa recomenda a banda-sonora de Thom Yorke para o remake de Suspiria e o surf-pop com boa onda dos Khruangbin (Com Todo el Mundo).

FLUR (Avenida Infante D. Henrique, Armazém B, loja 4)
A Flur existe desde 2001 e mantém a mesma morada próximo da discoteca Lux Frágil. A loja valoriza a familiaridade que criou com os clientes que nunca trocaram a compra de discos na Flur pelo comércio online. A Flur tem também um site que funciona sobretudo como montra e que juntamente com a newsletter semanal é a única promoção que fazem. Os discos de vinil representam o dobro da faturação relativamente ao CD. Novos custam sensivelmente o dobro do preço também. A música que se escutava na loja naquele momento pertencia ao disco Izlamic Songs, de Muslimgauze. Na altura de escolher discos importantes editados em 2018, Zé Moura, responsável da Flur, referiu o álbum Belzebu, dos Telectu, e Taipei Disco, com inéditos do projecto DWART, ambos com o selo Holuzam, editora muito recente que pertence aos três atuais sócios da Flur.

VINIL EXPERIENCE (Rua do Loreto 65)
O espaço corresponde à designação de sobreloja: “pavimento, geralmente de pé-direito baixo, que fica entre a loja ou rés-do-chão e o primeiro andar”. Na prática é como se José João (Jota) nos recebesse numa divisão da própria casa. Os discos encontram-se de algum modo ordenados mas de certeza que só o responsável consegue localizar algo em específico. Fecham dois dias na semana (3.as e 4.as), além dos domingos. Escutámos durante a conversa uma banda de tributo a Jimi Hendrix, The Purple Fox, e os modernos psicadélicos King Gizzard & the Lizard Wizard. Jota também puxou a brasa à sua sardinha no momento de escolher um disco recente que o tenha marcado: é que o EP 909DemocrashDrug dos portugueses Democrash é edição com selo partilhado pela Raging Planet e pela Vinil Experience.

GLAM-O-RAMA (Rua do Viriato 12)
A Glam-O-Rama foi a porta de entrada de Luís Lamelas em Lisboa. Há 4 anos isso tornou-se realidade. Há menos tempo conseguiu negociar com o proprietário do espaço um valor realista para a renda e a Glam-O-Rama mudou-se para onde antes tinha sido a VGM. A loja promove ainda a apresentação de discos, sessões de autógrafos e concertos acústicos. Conversámos com ele no começo do trabalho e a loja estava em silêncio. Momentos depois já se escutava o surf-rock instrumental de Head Shrinkin’ Fun dos Bomboras. A Glam-O-Rama fatura aproximadamente o mesmo entre CD e vinil; o CD usado está a recuperar terreno por ser mais barato. A conversa termina com a escolha da reedição do álbum A Wind of Knives dos Zygote como um disco importante de entre os muitos que Luís Lamelas ouviu recentemente.

CARBONO (Rua do Telhal 6B)
A Carbono foi a primeira loja de discos usados a surgir em Portugal, corria o ano de 1993. Aquilo que logo impressiona quem entra no espaço da Rua do Telhal é a sua dimensão. Podemos circular à vontade embora estejamos cercados por discos a cada canto e no centro da loja. E há mais material para ver e comprar no rés-do-chão. Para o responsável da Carbono, o vinil está na moda. Os particulares que guardam as boas edições não querem vender e o mercado é cada vez mais atravessado por reedições que não têm o mesmo valor. Também nos diz que qualquer loja por regra vende mais CD que vinil. O preço tem um papel decisivo na equação. A música que se ouvia pertencia ao “bootleg” With your host Bob Dylan 2007/2008. O disco de 2018 que João Moreira escolheu para nós foi Knock Knock, de DJ Koze.

TABATÔ (Rua Andrade 8A)
Entra-se na cooperativa Crew Hassan, desce-se umas escadinhas e damos com a Tabatô. O responsável é o francês Bastien que visitou Portugal em 2010, para fazer uns trabalhos como DJ (world music, reggae), e voltou para ficar. A loja abre em 2015. Os clientes procuram discos raros, música africana, dos PALOP, e recebe muita gente de França, Alemanha e Holanda. A Tabatô fecha aos fins-de-semana e isso talvez explique que segundas e sextas-feiras sejam os dias de maior afluência. Quando falámos com Bastien a loja estava a minutos de abrir e a música chegava do andar de cima onde uma rádio passava The War on Drugs. Bastien escolheu para nós, entre as suas descobertas mais recentes, os álbuns A Regra do Fogo, de Luís Cília, e o maxi-single muito raro do cabo-verdiano Vera Cruz Pinto (funaná).

DISCOLECÇÃO (Calçada do Duque 53)
Após permanência em três outros espaços da cidade, a Discolecção fixou-se na Calçada do Duque. O espaço estava cheio. Escutava-se “a plenos pulmões” The Bracknell Connection, do Stan Tracey Octet, jazz britânico dos anos 1970. Vítor teve sempre e exclusivamente vinil, mas agora podemos encontrar numa área nobre da Discolecção dezenas de CD que em nada divergem do critério geral. É cada vez mais difícil encontrar material desta qualidade em particulares. Vítor continua a deslocar-se à feira de Utrecht que diz ser a maior e mais importante para este mercado. Confia no material exposto, no efeito surpresa e na capacidade de fazer regressar os que ali passam e compram. Escolhe de entre as últimas coisas que o surpreenderam, A Meditation Mass (1974) dos germânicos Yatha Sidra, e Your Daily Gift (1971) dos dinamarqueses Savage Rose. Ambos no género que Vítor Nunes mais aprecia, o rock clássico e suas variantes.
A Ana é licenciada em escultura, mas dedica-se ao canto. Procurando um paralelismo, podemos dizer que cantar ópera é modelar uma personagem em palco através do canto e da representação?
Podemos sim. É também um trabalho de criação. Dentro da interpretação temos um espaço enorme de criatividade para explorar. Se houve algo que retive do passado da escultura e da minha passagem pelas Belas-Artes foi o de ter criado as ferramentas suficientes para alimentar a imaginação que é necessária em ópera e em concerto. Até mais em concerto, porque na ópera temos um contexto que nos ajuda, no concerto estamos sozinhos. Precisamos de imagens e de experiências que nos alimentem essa imaginação e as Belas-Artes deram-me esse vocabulário de imagens tão importante para contextualizar, para me por na pele do “outro”. No fundo, par entender o “outro” e também para melhor me entender.
Não existe ainda a tendência para valorizar um cantor de ópera pelas qualidades vocais, mais do que pelo talento dramático?
Na ópera, desde há bastantes anos, o papel do encenador na escolha do elenco é cada vez mais forte e exige-se cada vez mais ao cantor que, para além da voz, tenha uma presença e saiba encarnar as personagens. Existe um grande poder dos encenadores no sentido de terem alguém talhado para o papel e, por vezes, estão até prontos a fazer algumas concessões musicais em prol da sua ideia da personagem.
Especializou-se no repertório barroco. Porquê?
Esteticamente, é o repertório com que mais me identifico. Quando me iniciei a ouvir música clássica, ouvia Bach, Haendel. Mas também houve um elemento casual porque quando comecei a trabalhar foi com orquestras barrocas e fui-me entusiasmando com o repertório. E há tanta coisa por fazer que nunca foi feita e por descobrir na música barroca. E partir de um repertório quase virgem permite uma criação maior e menos sobrecarregada de referências. O barroco tem uma liberdade que não encontramos nos outros estilos e eu gosto desse trabalho de completar uma partitura que não está terminada, que dá espaço para escolher uma interpretação e até selecionar os instrumentos com que tocamos.

No prefácio de Alceste, Gluck propunha-se reformar a ópera tornando-a num verdadeiro drama musical. Que renovação foi esta?
Foi compor a música em função da poesia, do texto. Sem recurso ao artifício, propondo um corte com alguma estrutura previsível do Barroco e alguma permissividade e virtuosismo dos cantores. Gluck queria abolir os excessos em prol de uma linha depurada que fosse direta à emoção. Cantar Gluck exige uma depuração da linha vocal e um lirismo ausente do Barroco.
Fale-nos de Alceste, a personagem que vai interpretar. Como a definiria?
A Alceste é uma mulher que se sacrifica pelo marido. Baseada no peso das interpretações da Alceste nos anos 50 e 60, tinha a ideia de uma heroína determinada e forte que enaltece a sua coragem e toma as rédeas do destino nas suas mãos,. Porém, quendo comecei a ler o libreto apercebi-me que a personagem é mais do que essa estatuária, essa rigidez. Entendo-a como uma anti heroína. Alguém, que não é uma heroína por natureza, mas que faz aquilo que deve fazer e acha que está certo. Toma a opção de se sacrificar como ultima saída. É, afinal, e isso é muito nítido na partitura, uma personagem que está sempre a bascular entre o medo e a coragem. É isso que a humaniza e que a faz avançar. No fundo, é uma personagem com uma certa fragilidade, apesar de toda a sua força e determinação.
Que desafios apresenta este papel?
É um papel muito tenso. Trata-se de uma personagem emocionalmente muito forte e o desafio é saber encontrar o equilíbrio perfeito entre o trabalho de atriz e o trabalho vocal.
Canta a Despina e disse que gostaria de interpretar a Suzana de Mozart. São papéis ligeiros que exigem uma grande vivacidade. Correspondem a outra faceta do seu temperamento?
Sim. Apesar de me sentir muito próxima da Alceste, de possuir uma natureza que me permite abordar este tipo de drama, a verdade é que eu sempre desempenhei papéis ágeis, vivos, picantes, jovens. Esses são até os papeis que me aparecem mais. A Alceste não é um papel que tenha a oportunidade de fazer todos os dias.
Desta nova encenação de Graham Vick, que aspecto gostaria de realçar?
A forma como aborda a personagem. Fui convencida a fazer o papel porque ele viu em mim a capacidade de o fazer, o que não é evidente para a minha voz. A ideia que ele manifesta de uma Alceste que não é necessariamente forte, mas que possui um lado frágil e vulnerável é o que me parece mais interessante e que, justamente, coincide com a visão que eu tenho.
Como convenceria alguém que nunca assistiu a um espectáculo de ópera a vir ver Alceste?
Para assistir a um espectáculo de ópera é preciso vir com disponibilidade para aceitar este tipo de linguagem. E no caso da Alceste, de aceitar a experiência de conviver com uma personagem teatralmente muito forte. Depois é preciso curiosidade, porque o tema do sacrifício, nesta perspetiva, não é muito comum. Mas, a música de Gluck vai direita à emoção, o que torna esta ópera muito comovente. Afinal, é isso que esperamos quando vamos assistir a um espectáculo, de nos sentirmos tocados, emocionados. Essa é, só por si, uma razão valida para vir ver esta Alceste.

Georges Vigarello (Direcção)
História da Virilidade I
A virilitas romana, da qual a palavra virilidade deriva, funde as qualidades sexuais (do marido possante, procriador) com as qualidades psicológicas (do homem ponderado, vigoroso, corajoso e comedido), num ideal de força e vontade, segurança e maturidade, certeza e dominação, autoridade física e moral. Esta obra monumental reflete sobre a transformação do ideal viril nas sociedades ocidentais segundo as culturas e os tempos: os universos sociais, as subculturas, o ambiente urbano ou rural, guerreiro ou letrado. Uma questão deu origem ao presente estudo: a virilidade está em crise nas sociedades contemporâneas? Será ela própria um ideal anacrónico, fechado no passado ou estará a passar por mais um processo de metamorfose em busca de novas identidades? O primeiro de três volumes, dirigido por Georges Vigarello, diretor na École des Hautes Études en Sciences Sociales e autor de inúmeros trabalhos sobre as representações do corpo, descreve a formação do ideal viril na Grécia e na Roma Antiga e acompanha as suas variações durante a época medieval e a Renascença.
Orfeu Negro
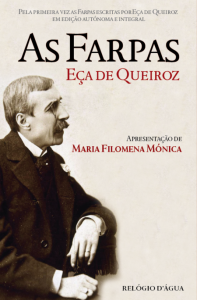
Eça de Queiróz
As Farpas
Em 1881, Fialho de Almeida louvava As Farpas e o “humor cáustico dos dois cintilantes espíritos”. Escritas e publicadas por Eça de Queirós e Ramalho Ortigão ao longo dos anos de 1871 e 1872 em fascículos mensais de cem páginas, As Farpas foram sempre reeditadas em conjunto sem indicação das respectivas autorias. Destinadas, pelo autor de Os Maias, ao “leitor de bom senso”, estas “páginas irónicas, alegres, mordentes, justas”, pretendiam descobrir “através da penumbra confusa dos factos, alguns contornos do perfil do nosso tempo”. Os artigos reunidos nestes opúsculos de capa alaranjada, decorada com o diabo Asmodeus, constituem crónicas brilhantes sobre um país em crise que, segundo Eça, “perdeu a inteligência e a consciência moral”, onde “ninguém se respeita”, “não há nenhuma solidariedade entre os cidadãos”, “ninguém crê na honestidade dos homens públicos”, “a classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia”, e “o povo está na miséria”. Esta edição publica, pela primeira vez, As Farpas integrais de Eça de Queiroz, separadas das escritas por Ramalho Ortigão.
Relógio D’Água

Charles Bukowsky
Os Cães Ladram Facas
A personalidade de Charles Bukowsky (1920-1994) foi marcada pela experiência de uma infância violenta e infeliz e o seu rosto pelas marcas profundas da acne, dando origem a um sentimento constante de rejeição. O poeta e romancista incarnou o mito do autor marginal, que desprezava as convenções sociais e se identificava com os loucos, alienados e alcoólicos, procurando, como salienta Valério Romão, seleccionador e prefaciador da presente antologia poética, “uma forma de estar no mundo sem o estar”. Na sua poesia, Bukowski recorre aos seus temas habituais; o sexo e a mulher, a infância e o álcool, os hipódromos e as apostas, a escrita e os outros escritores. O estilo, inspirado por Hemingway, é direto e recusa a complexificação geralmente associada à prática poética. A radical honestidade dos seus versos, nos quais não hesita em descrever-se nos termos menos lisonjeiros, contamina-os de uma profunda e impressiva humanidade: “demorei 15 anos a humanizar a poesia / mas vai ser preciso mais do que eu / para se humanizar a humanidade”. Tradução de Rosalina Marshall.
Alfaguara

John le Carré
A Rapariga do Tambor
“Tenho um caso de amor com a palestina, como no passado tive um caso de amor com os judeus”, referiu John le Carré a propósito deste seu romance de espionagem, publicado em 1983. O autor agradece na nota prévia aos inúmeros palestinos e israelitas que o ajudaram a escrever o livro. De facto, o escritor entrevistou membros dos dois lados do conflito do Médio Oriente (agentes da Mossad, Yasser Arafat) e visitou campos de refugiados em Beirute, materializando na obra uma preciosa apreensão do real e um profundo sentido de atmosfera. Inspirado, segundo se julga, em Vanessa Redgrave, narra a história de Charlie, uma atriz de teatro com convicções de extrema-esquerda e empenhada na causa de libertação da Palestina. Charlie aceita um contrato pra representar numa Ilha Grega sem imaginar que se trata de uma armadilha dos serviços secretos israelitas para capturar Khalil, um terrorista palestino. Obra admirável sobre os meandros labirínticos da espionagem internacional com uma narrativa constantemente intensificada pela suspeita, tem no centro uma trágica história de amor e de lealdades divididas.
Dom Quixote
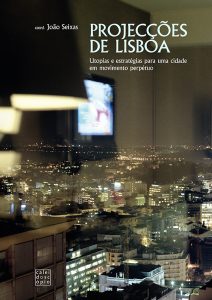
João Seixas (Coordenação)
Projecções de Lisboa
Na introdução do presente livro, escreve João Seixas, coordenador do projecto: “As cidades são, por excelência, espaços de diálogo e de confronto perante lógicas múltiplas e papéis diversificados. Como notáveis acumulações de energia humana, como esteios da cultura e da política, tem sido sobretudo através das cidades que se têm desenvolvido muitas das mais pronunciadas e sempre incertas utopias, visões e projecções da humanidade”. A obra refete sobre as razões, os desejos, as condições, os processos de como e porquê, ao longo dos tempos se pensou e projectou a cidade de Lisboa. Sobre os seus momentos de transformação e as projecções utópicas e estratégicas para o seu desenvolvimento num período que decorre entra a Lisboa ainda medieval, mas já proto-imperial, e a atual Lisboa metapolitana, europeia e globalizada.
Caleidoscópio
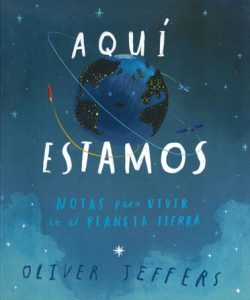
Oliver Jeffers
Aqui Estamos Nós
Quando chegamos ao mundo podemos sentir-nos perdidos, pois tudo à nossa volta parece demasiado confuso. Aqui Estamos Nós funciona como guia prático para o compreendermos melhor, numa viagem maravilhosa à descoberta do planeta Terra. Este livro é um hino ao respeito pelo nosso lugar no mundo, que aborda temas como a gentileza, a consideração, a tolerância e a igualdade. Através de uma linguagem clara e direta e de ilustrações apelativas e emocionantes, Oliver Jeffers – um dos maiores autores de literatura infantil – desperta no leitor a absoluta necessidade de amar e respeitar todos os seres humanos e o planeta em que vivemos. Aqui Estamos Nós, vencedor do Prémio Design Book Awards 2018 para o melhor design de livro ilustrado para crianças, é um livro repleto de esperança e de mensagens essenciais. Afinal, isto é tudo o que temos.
Orfeu Negro
O que a levou a fazer um filme sobre esta família?
Durante muito tempo tive vontade de fazer alguma coisa junto ao rio Tejo, que se passasse em Vila Franca porque foi onde nasci e sempre vivi. Aqui há 8 ou 9 anos, pediram-me para ir filmar à praia dos Cavalos, um sítio só acessível por barco, a norte de Vila Franca e quem me deu boleia foi o Albertino. Quando estava no barco com ele tive aquela imagem do herói, do cowboy sem cavalo, era a figura de alguém que estava realmente no seu habitat natural. Senti mesmo que ele pertencia ao rio. Durante quatro anos essa imagem nunca me saiu da cabeça. Comecei a pensar que a personagem para aquela tal ideia, aquela sensação de fazer alguma coisa em Vila Franca, junto ao rio, seria o Albertino. O filme nasceu da minha ligação a esses dois pontos, o rio/Vila Franca, e o Albertino.
De que forma o quotidiano deste homem e da sua família, é diferente dos outros que ali vivem?
Mais do que um filme etnográfico sobre a pesca, interessava-me muito trabalhar a relação dele com o rio, que é muito emocional. Queria trabalhar a ideia de pertença a um lugar. Na viagem inicial que fiz de barco com o Albertino percebi que ele tem uma relação com a natureza que poucas pessoas têm. Depois percebi que também existia o lado familiar e por isso o filme foi naturalmente seguindo esse curso e passou não só a ser um retrato do Albertino enquanto pescador, mas também um retrato familiar.
Em Terra Franca regressa a um local que lhe é familiar. Também nos trabalhos anteriores as suas origens estão presentes. Porquê?
Não sei fazer filmes de outra maneira, os meus filmes têm de ser sempre pessoais e tenho de estar sempre implicada. Não sei falar de outras coisas que estejam longe de mim, não conseguiria implicar-me, nem dar tanta importância. Por outro lado, sinto que ainda não tenho conhecimento suficiente para dar esse salto e trabalhar sobre uma coisa que não tenha conhecimento próprio.
Ao longo do filme as estações do ano vão sendo assinaladas. Foi intencional o paralelismo que existe entre a vida dos personagens e a passagem do tempo?
Sim, foi. A partir do momento em que decidi que era importante passar um ano na vida desta família, soube que não era só passar um ano na vida das personagens, mas também perceber de que forma é que o espaço muda e como esse espaço e a luz influenciam as personagens. Queria muito que se sentisse esta passagem do tempo, que estamos a viver um ano com estas pessoas neste sítio e por isso todas as transformações não só físicas, mas também psicológicas.

A banda sonora do filme contrasta com a realidade apresentada. É quase como se fosse um elemento estranho. Qual foi a intenção de escolher temas da soul americana?
Quis ir mais longe e mais do que fazer um documentário, onde de uma forma geral não há muito a utilização de música e o que transparece é a realidade em frente à câmara, por isso procurei agarrar todas as ferramentas que o cinema me dá, talvez as mais ligadas à ficção, mas que na verdade podem ser aplicadas ao documentário, enaltecendo-o. Achei que estes momentos musicais ajudavam imenso a trabalhar toda a parte interior e tudo aquilo que o Albertino poderia estar a sentir. Acima de tudo há uma nostalgia que existe nessas músicas que têm muito a ver com o Albertino. Ele não é uma pessoa de agora, é de outro tempo e carrega uma nostalgia que essas músicas também transmitem.
Também a fotografia do filme, em particular as cenas em que Albertino está sozinho no barco, é de uma enorme beleza conferindo-lhe um lirismo, que contrasta com a sua vida simples. Foi esse o objectivo?
A ideia era tentar fazer com que o filme, embora fosse um documentário, se parecesse ao máximo com uma ficção na maneira como era feito, filmado e construído. Tal como com o som, o mesmo aconteceu com a fotografia. Há esta ideia de que no documentário o que interessa é o conteúdo. A câmara acaba por ser um bocado sacrificada. É geralmente uma câmara à mão, muito instintiva que aponta para o que está a acontecer. Queria muito que também através da fotografia, o rio e o valor das personagens fossem enaltecidos.
Albertino e a família não são atores. Como foi filmá-los? Houve algum tipo de direcção?
Houve um fator que me ajudou imenso, que foi o tempo. Passei cerca de dois anos a filmar estas pessoas e de certa forma esse tempo e disponibilidade permitiram que nos conhecêssemos melhor. A certa altura eu estar ali já era algo habitual, eu já fazia parte da família. Mais do estranharem a câmara, eles confiavam na pessoa que estava atrás dela. Naturalmente que há cenas que foram encenadas, mas a maioria do filme foi espontâneo.
Esta é a sua primeira longa-metragem. O que a levou a optar por este formato?
Inicialmente a ideia era fazer uma curta. Mas à medida que ia estando com eles percebi que havia tanta coisa para dizer que o espaço de uma curta não seria suficiente. Se eu queria estar um ano na vida de uma pessoa seria muito difícil resumir esse ano a 20 minutos. Naturalmente percebemos que não era possível e o projeto cresceu para uma longa.
Todos os trabalhos que realizou são documentários. Já pensou em fazer ficção?
Tento em cada filme que faço experimentar coisas novas e procurar sempre características de ambos os géneros. Mas a verdade é que hoje em dia as coisas esbatem-se muito e é difícil definir o que é um documentário e uma ficção. O que importa explorar é a junção das duas coisas. Mas essencialmente interessam-me pessoas reais, pessoas que existem e ao trabalhar com elas perceber também de que forma o filme faz sentido para elas. Porque o cinema está muito relacionado com este tipo de partilha: o que dou e o que me dão.
O filme já ganhou uma série de prémios. O que representam para si?
Os prémios nunca dependem de mim, só o filme depende de mim. Obviamente fico feliz porque é o reconhecimento do meu trabalho e da minha equipa. Quando se ganha algum prémio importante as pessoas falam do filme, e é gerada uma curiosidade para se ver o filme. Isso é o que mais quero, que o maior número de pessoas tenha acesso ao filme. Por outro lado, os prémios permitem que quando surge um novo projeto seja mais fácil o financiamento.
Em estreia no Cinema Ideal, Cinema NOS Amoreiras e Cinema City Alvalade
Cenas de beira-mar em praias do Levante, pescadores na faina na zona costeira de Valência ou crianças e jovens veraneantes em brincadeiras estivais são algumas das imagens mais marcantes da obra de Joaquín Sorolla y Bastida (Valência, 1863 – Cercedilla, 1923). Em parte, são aquelas que lhe granjearam fama e popularidade em vida, mas também uma notória indiferença, e até irrelevância histórica e crítica, ao longo de décadas. Em Portugal, como António Filipe Pimentel e José Alberto Seabra Carvalho apontam na recensão incluída no catálogo da presente exposição, Sorolla foi praticamente ignorado pela historiografia da arte, tendo sido alvo de “uma simplista e estereotipada interpretação da sua obra, ao ponto de muitos o entenderem como uma espécie de Malhoa espanhol.”
Como consideram o diretor e subdiretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), respetivamente, o valenciano foi “um grande pintor, moderno no seu tempo embora não «vanguardista», inovador mas comprometido com os mestres do passado”. Por isso mesmo, essencial para a compreensão da “pintura finissecular do século XIX e das primeiras décadas do século XX, sem obediência às narrativas oficiais e académicas que, por assim dizer, passam do impressionismo e do pós-impressionismo para o cubismo ou o modernismo, como se entre ambos não mais tivesse havido do que um deserto.”

A comissária de Terra Adentro – A Espanha de Joaquín Sorolla, Carmen Pena, explicita mesmo, como causa para tantos equívocos e preconceitos em relação à obra de “luministas” como Sorolla, o facto da historiografia da arte do século passado ter privilegiado os impressionistas, “considerados pintores de vanguarda do século XIX”. Afinal, foram esses “contemporâneos” que detiveram “um papel hegemónico nessa narrativa, que privilegiou os fenómenos vanguardistas enquanto processo explicativo da arte contemporânea.”
Não sendo, portanto, um vanguardista, o que existe de tão “moderno” na obra de Sorolla, e como é que o pintor recuperou internacionalmente um lugar destacado na historiografia da arte (lugar que, aliás, os espanhóis nunca lhe recusaram)? Carmen Pena justifica-o com a “oficialização” das vanguardas, que passaram de “transgressoras a modelos canónicos”, e com isso ajudaram a relevar na história da arte de finais do século passado alguns desses denominados “modernos integrados”, ou seja, “pintores da moda” na sua época, formados nas escolas nacionais, entre os quais se incluía Sorolla, e que fizeram frisson nos salões de Paris e nas exposições universais.

O “moderno” na obra do pintor valenciano acentua-se naquilo que Pena considera o “denominador comum da sua obra”: “conseguir captar os infindáveis e mutáveis efeitos da luz ao ar livre, no contexto da física moderna das cores e como uma aplicação experimental”, e com isso “conseguir modernos efeitos lumínicos”, a que não será de modo algum estranho a “nova” arte da fotografia a que era particularmente atento. Aliás, tal como os seus contemporâneos luministas e impressionistas, como Degas ou Monet, na pintura de paisagem.
É precisamente no outro Sorolla, o “introspetivo”, o da Terra Adentro, como que em contraste com o Sorolla “solar” das praias mediterrânicas, que se afirma o génio de um “moderno”. Como refere Román Casares, da Fundação Museo Sorolla, foi “nas paisagens espanholas do interior, às vezes despidas, severas, imponentes” que o pintor descobriu “outros motivos para a sua pintura e outras razões para perceber o seu país.”
Nesta magnífica exposição do MNAA, o visitante poderá testemunhar os dois lados de Sorolla: o do realista “otimista e luminoso”, que tantos conhecem; e esse que ainda permanece quase desconhecido – o das solitárias paisagens de uma Espanha sonhada, demonstrativa, como sublinha Carmen Pena, do “pensamento regenerador espanhol da sua época”, que procurou através da pintura novos “ícones identitários”. Este último, com certeza, uma grande revelação.
Numa cena de A Mentira, Miguel (personagem interpretado por Miguel Guilherme) confronta a mulher com uma quase evidência que acaba por nortear todo o espetáculo: “Se toda a gente dissesse a verdade não existiria um único casal à face da Terra”. Do outro lado, em A Verdade, Paulo (Paulo Pires) dirige-se à amante, como se interpelasse o público, questionando o efeito que teria no mundo se todos nós só disséssemos a verdade.
Numa época em que na ordem do dia estão as chamadas fake news e as “verdades” alternativas, constantemente veiculadas nas redes sociais e, infelizmente, um pouco por toda uma imprensa em crise e ávida de audiências, João Lourenço abraçou o desafio de encenar, em simultâneo, duas peças da autoria do jovem autor francês Florian Zeller, revelado entre nós há dois anos, precisamente no Teatro Aberto, quando da encenação de O Pai (espetáculo que valeu a João Perry o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Ator de Teatro). Embora nenhum dos textos aborde diretamente as notícias falsas, que “instalam um culto de mentira em toda a sociedade”, o encenador considera de uma enorme pertinência e atualidade a temática. Porém, aqui, a mentira é o eixo de duas comédias de costumes, centradas numa teia de enganos e infidelidades entre casais e amigos, e que, no caso, surgem em cena interpretadas por um mesmo elenco.
Em A Mentira, a proposta passa por transmitir, “com toda a transparência”, as regras do jogo, convidando o público a passar previamente pelo palco para visitar o cenário e apreciar cerca de duas dezenas de reproduções de obras de arte que têm como tema a mentira e a máscara enquanto instrumento de ocultação (ou revelação) da verdade. O espectador é então encaminhado para o seu lugar na plateia e segue-se o drama: antecedendo um jantar entre casais, Joana (Joana Brandão) conta ao marido, Miguel, que viu o melhor amigo deste, Paulo, a beijar uma mulher. Incomodada, propõe contar tudo a Patrícia (Patrícia André), ou não fosse ela uma das suas melhores amigas. Miguel discorda e coloca-a perante o dilema de uma pressuposta virtude da mentira “piedosa”. E, mais não revelamos, mas, prepare-se, porque poderá ser chamado a tomar partido quando a discussão atingir o clímax e o que estiver em jogo for algo mais do que escolher entre a verdade ou a mentira.

Como o leitor já terá percebido, as personagens têm o nome próprio dos atores. “Uma perversãozinha” que João Lourenço decidiu juntar às muitas que os dois textos comportam, mas que, no conjunto, acaba por dar ao espectador uma certa sensação de conforto. Mais a mais, entre tantos “puxar de tapete” numa e noutra peça, sabe bem um pouco de aconchego, sobretudo para aqueles que sejam mais dados a inconfessáveis segredos.
Chegados a A Verdade, encontramos Paulo amantizado com Patrícia e casado com Joana. Certo é que Paulo é também o melhor amigo de Miguel, marido de Patrícia, e apesar de ser um mentiroso compulsivo depressa percebemos que, como o próprio Zeller considerou, é “um mentiroso a quem toda a gente mente”. Num tom de constante dissimulação, as quatro personagens vão demonstrado como a verdade é muito pouco interessante, até mesmo quando a mentira começa a escaldar (e muito) para lá dos lençóis.

Reconhecendo alguns traços comuns com o teatro de Harold Pinter, sobretudo nas ambiguidades e nos silêncios que funcionam como subtexto, Lourenço optou por situar a ação de A Verdade no final da década de 1950, criando um “ambiente propenso a uma época de otimismo” e onde se desenhava no horizonte uma revolução sexual que abalaria fortemente os costumes. A citação à série Mad Men e ao mundo da publicidade é bem evidente, e Paulo Pires, enquanto personagem central nesta visão daquilo que é originalmente uma peça de vaudeville passada na atualidade (escrita por Zeller em 2011 para o ator Pierre Arditi, nome incontornável na filmografia do cineasta Alain Resnais), torna-se uma escolha de particular consistência.
A Mentira, de Florian Zeller | EM CENA | Sala Azul
A Mentira,de Florian Zeller | EM CENA | Sala Azul
Posted by Teatro Aberto on Monday, 21 January 2019
Como faces de uma mesma moeda, este compêndio de enganos, desenganos e novos enganos de cariz conjugal, vai estar em cena até ao final de março nas duas salas do Teatro Aberto. A Verdade e A Mentira prometem divertir, mas também inquietar, até porque, como remata João Lourenço, “não acredito que alguém não tenha passado já por qualquer destas situações”. Vai uma aposta?
paginations here