A Rua General Silva Freire, que tem início nos Olivais Norte e termina na Encarnação, na Rua dos Logistas, serve de ponto de partida a este itinerário. Mais concretamente no resquício do Aqueduto da antiga Quinta de São João da Panasqueira, antigo local de azinhagas e quintas. A política de Obras Públicas do Estado Novo trouxe grandes transformações a este local. Na época, Oliveira Salazar pretendia expandir a cidade, edificando a “casa portuguesa” para vários grupos sociais: funcionários públicos, comerciantes, entre outros. Duarte Pacheco foi o ministro que levou a cabo o programa Novos Bairro que dá origem ao Bairro Social da Encarnação, entre 1940 e 1946. Nos anos de 1960, o Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa inicia o primeiro projeto de habitação social nos Olivais-Norte. Numa área de 40 hectares a construção é dividida em células, que seguiam os pressupostos urbanísticos contemporâneos para a época, provenientes da Carta de Atenas.

Seguimos caminho até à Escola Primária, nº 175, da autoria de Joaquim Bento de Almeida e Victor Palla. Construída ao abrigo do Plano dos Centenários, programa de construção em larga escala, promovido pelo Estado Novo com o objetivo de criar uma rede escolar de abrangência nacional, é exemplo de uma viragem na arquitetura moderna. Sem monumentalidade, apresenta uma visão humanizada e funcional do edifício. Atualmente este espaço alberga a escola básica do 1.º ciclo e jardim-de-infância de Santa Maria dos olivais.

Um pouco mais adiante, ainda na R. General Silva Freire, ergue-se o edifício de habitação 55-55 A, Prémio Valmor, em 1967, projetado pelos arquitetos Nuno Teotónio Pereira e António Pinto Freitas para a Sociedade Cooperativa O Lar Familiar. Pela primeira vez um edifício de tipologia social é digno deste reconhecimento, no entanto a distinção gerou alguma polémica, uma vez que já existiam outros cinco edifícios de traça igual. A torre, mais alta do que os edifícios circundantes, correspondia à conceção inovadora do espaço que se pretendia para a zona – delimitações específicas para peões e veículos, abundância de áreas verdes e boa exposição solar. Cada uma das torres tem 8 pisos, sendo os apartamentos construídos em torno de uma zona de escadas, ascensor e patamar excecionalmente ampla. O objetivo era favorecer a permanência e sociabilização entre os moradores. Um tratamento escultórico na área das escadas e exterior pretendia oferecer uma certa dignidade ao ambiente das edificações económicas.

A marcha prossegue e chegamos à Rua dos Lojistas, uma das mais emblemáticas do Bairro da Encarnação. Da autoria do arquiteto Paulino Montez, o Bairro da Encarnação é inaugurado em 1946. Reproduzia o modelo de aldeia portuguesa e apresenta a forma de uma borboleta, podendo ser admirado através de vista aérea. As casas da Encarnação são unifamiliares, com três tipologias e rodeadas por um jardim próprio, daí a denominação de Bairro Jardim. Na Praça Norte do bairro, frente ao Mercado, somos surpreendidos pela estátua A Varina. Em bronze, com dois metros de altura, foi executada pelo escultor José Laranjeira Santos, em 1965 e ali colocada numa alusão ao local onde funciona, hoje, o Mercado da Encarnação Norte.

Chegamos ao cimo da Alameda da Encarnação onde se ergue a Igreja da Encarnação, também conhecida como Igreja de Santo Eugénio. Da autoria do arquiteto Fernando Peres é uma igreja de linhas simples que apresenta diversos elementos que remetem para a relação papal. O nome evoca Stº Eugénio de Toledo, numa homenagem ao nome de batismo do Papa Pio XII (Eugénio Pacelli). Destaque para o fresco de Lino António que cobre o fundo da capela-mor e que apresenta várias cenas relativas a Pio XII, entre elas a ordenação episcopal a 13 de maio de 1917 e a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. O próprio Papa oferece para adornar o altar-mor, a imagem em bronze de Santo Eugénio.

No extremo norte da Alameda da Encarnação é de notar a estátua do General Ferreira do Amaral. Militar e político português da primeira metade do séc. XIX, João Ferreira do Amaral (1801-1849) foi governador de Macau e ficou para a história por ter conseguido conquistar a autonomia do território face à China. Os chineses mataram-no, insatisfeitos com as políticas que defendia a favor de Portugal. A estátua em bronze que agora se encontra na Encarnação é da autoria de Maximiliano Alves, e data de 1940. Enviada de Macau para Portugal quando é feita a transição do território macaense para a China, é inaugurada em Lisboa, em 1999. Consta que muitos habitantes do bairro foram surpreendidos por esta obra, que lhes apareceu à porta de um dia para o outro.

Passamos pelo Mercado da Encarnação Sul e seguimos em direção à Avenida de Berlim conhecida em tempos como a avenida de ligação entre aeroportos (o Aeroporto da Portela e o Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo, onde até meados dos anos 1940 amaravam hidroaviões) que divide os Olivais Norte e Sul. Na confluência desta avenida com a Av. Dr. Francisco Luís Gomes é possível vislumbrar uma obra em sucata de aço, chapa metálica e ferro, com 3 toneladas de peso que pretende ser uma alegoria à Reconstrução do Homem. Intitulada Recriação, é da autoria de Lúcio Bittencourt. A caminho dos Olivais Sul passamos pela Piscina Municipal dos Olivais, construída em terrenos cedidos pela Viscondessa de Valdemouro. Projetada pelos arquitetos Aníbal Barros da Fonseca e Eduardo Paiva Lopes abriu portas em 1967 e foi a primeira a existir na cidade com características olímpicas.

Um pouco mais à frente situa-se a SFUCO – Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense, coletividade da freguesia de Santa Maria dos Olivais fundada em 1886. A importância da instituição não provém apenas dos seus 132 anos de história, que fazem da coletividade a mais antiga da freguesia, mas também da relevância cultural que tem. A sua atividade desenvolve-se, quase exclusivamente, no campo da cultura musical, através da Centenária Banda e Escola de Música de onde saem os executantes que a compõem. A banda tem apresentado concertos em diversos pontos de Portugal e Espanha e é dirigida desde 2012, pelo Maestro Luís Filipe Henriques Ferreira.

A caminho da Quinta da Fonte do Anjo, nos Olivais Sul, é-nos dado a conhecer um pouco da história do Convento de São Cornélio que, em 1674, acolhia uma comunidade de frades arrábidos. No terreno onde se erguia o convento encontramos hoje o Cemitério dos Olivais. Estacamos frente ao portão da Quinta da Fonte do Anjo, da qual existem registos que remontam a 1384. A construção pombalina está inserida num complexo rústico. Em 1762 é construída a capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, revestida com azulejos historiados que representam a vida da Virgem. Em 1834 o primeiro Duque de Palmela compra a quinta e oferece-a à Duquesa, sua mulher, como forma de recompensa pelas joias que esta vendeu e que lhes permitiu subsistir durante as Lutas Liberais. Com a expansão urbana e a expropriação de terrenos levadas a cabo por Duarte Pacheco, na década de 1940, a área da Quinta foi diminuindo. Hoje, ainda é habitada pela família do Visconde de Valdemouro.

Quase a finalizar o percurso chegamos à Igreja Matriz de Santa Maria dos Olivais, situada na zona conhecida como Olivais Velho. Reza a lenda que a imagem da padroeira terá aparecido numa oliveira, acontecimento que levou à construção da igreja neste local. A primeira referência à igreja remonta ao século XIV, mas é no século XVI que esta zona dos Olivais se começa a definir, com a construção de casas em redor da matriz. A traça da atual igreja data do século XVII. Com o Terramoto de 1755 o edifício fica muito danificado, mas foi prontamente reconstruído. Perto da igreja há um edifício com uma inscrição que faz referência a F. A. Gouveia. As iniciais são de Francisco Alves Gouveia, industrial que em 1874 funda a Estamparia Alves Gouveia. Cerca de 20 anos antes nascia o caminho-de-ferro (1856) que fazia a ligação entre Lisboa e o Carregado. Os Olivais tinham uma estação própria o que facilitava o escoamento de produtos e como consequência a fixação de várias indústrias no local. Foi o caso da atividade deste empresário que edificou parte das casas da zona para albergar os seus funcionários.

Terminamos o percurso na chamada Praça da Viscondessa, situada na zona posterior à Igreja Matriz. O Rossio – mais tarde Pç. da Viscondessa –começa a desenhar-se depois do terramoto. Surgem assim os primeiros arruamentos, como a Calçadinha dos Olivais, a Rua Nova ou a Rua das Casas Novas. A praça é definida por uma série de edifícios construídos entre os séculos XVII e XIX, e dos quais se destacam o antigo asilo-escola da Viscondessa, a Casa dos Almadas, a Quinta de Santo António da Boiça e a Quinta dos Buracos. Entre 1891 a 1896, foi erguido um chafariz, um urinol público em ferro e um coreto, onde a Filarmónica Capricho Olivalense atuava, e que é também símbolo dos ideais revolucionários e republicanos. A prová-lo uma referência subtil que se encontra na sua base: uma pedra em forma de barrete frígio, símbolo da liberdade adotado pelos republicanos.
Entre outras valências, o Polo Cultural Gaivotas | Boavista tem primado por possibilitar a novos artistas e criadores espaços para ensaio, essenciais para o desenvolvimento dos mais variados projetos artísticos. Mas, sempre problemática é a escassez de locais para a apresentação desses mesmos projetos.
A pensar especificamente nessa dificuldade, o polo municipal da Rua das Gaivotas abraçou a Biblioteca de Marvila, e uma valência essencial que este equipamento possui: um moderno auditório com 172 lugares. Assim, eis-nos chegados à primeira edição de Gaivotas em Marvila, um programa que, para além de permitir a estreia de novos projetos nas artes performativas, tem como objetivo vital esbater as fronteiras entre o centro e a periferia, levando o palco para a zona oriental da cidade.
Nesta primeira edição, o teatro é está em destaque com dois espetáculos assinados por estruturas emergentes – o Coletivo Caroço e os Ás do Acaso. Aos primeiros cabe uma imersão no universo de Harold Pinter com É Só Isto (2 e 3 de novembro); os segundos estreiam um texto original de Miguel Viana, As Pessoas Falam Demais (dias 3 e 4) centrado nas aventuras de três irmãs. Em comum, tratam-se de espetáculos protagonizados por mulheres.
Comemoras 20 anos de carreira. Que memórias guardas desse início?
Foi um início de incerteza, ansiedade, desconfiança, de alguma insegurança, de receio de cair no ridículo. Vejo muita gente a cair no ridículo: a maneira como se expressam em televisão, como se mostram nas redes sociais… Expõem-se demais nas redes sociais. Esquecem-se de que têm um futuro à frente. É que nem sempre se está lá em cima; quando estão cá em baixo fica um silêncio terrível e não serão capazes de lidar com esse silêncio. Hoje acham-lhes graça, mas haverá um momento em que cairão em desgraça. Eu sempre contei com essa desgraça. Essa timidez que as pessoas acharam que eu tinha era propositada, no sentido de não dar confiança, para que não invadissem o meu mundo, o meu espaço. Se corresse tudo mal, eu já estava preparado para isso.
Sempre foste muito recatado em relação à tua vida pessoal…
O Eddie Vedder diz uma coisa com a qual sempre concordei: “músico que é músico só deve falar sobre música e nunca sobre a sua vida pessoal para não ficar exposto e não haver qualquer tipo de preconceito”. Houve momentos em que as editoras me diziam que eu devia ir a determinado programa falar sobre a minha vida, mas nunca me quis expor, sempre disse que isso não era importante, não era isso que me ia fazer vender discos ou mais espetáculos, simplesmente ia expor-me mais.
Foste um promissor lutador de lutas greco-romanas. Alguma vez te arrependeste de ter deixado o desporto para trás?
Costuma-se dizer que já temos a vida traçada. Não sei se será bem assim, mas há coisas que acontecem na nossa vida por uma decisão do momento em que tudo se perde ou tudo se ganha, que foi o que aconteceu com a minha participação no Chuva de Estrelas. Nunca me arrependi, no sentido em que o desporto continua a fazer parte da minha vida, nunca o deixei. Continuo a envolver-me nas lutas, a acompanhar jovens atletas (fui a Las Vegas acompanhar o campeonato do mundo, fui a Paris e a Madrid acompanhar torneios) mas, tendo a consciência de que a minha vida agora é musical e de que sou cantor das minhas canções.
Ficaste conhecido do grande público depois de teres participado num programa de televisão. Imaginavas que ias chegar aqui?
Não, não imaginei e isto não é demagogia alguma, simplesmente não sou hipócrita. Eram tempos diferentes, não havia nada parecido, o programa dava às sextas-feiras e tinha uma audiência de dois milhões de pessoas. Hoje a informação é tanta que as pessoas dispersam-se mais. Na altura eu era atleta de alta competição de luta greco-romana, pertencia à seleção nacional. Representava a seleção em campeonatos do mundo, da Europa… Ainda hoje treino e a minha vida continua a ser como era, o que mudou foi o facto de me expor publicamente a cantar. De resto não mudou nada, continuo a ter o meu silêncio, o meu espaço. Continuo a sentar-me no Jardim da Estrela a pensar, sozinho. Ainda não me deu para falar sozinho [risos], isso é só quando estou a compor. Sou um monólogo de mim próprio.
Incomoda-te quando as pessoas te abordam?
Não me incomoda nada, desde que sejam educadas. Nesse aspeto tenho tido sorte, nestes 20 anos as pessoas sempre me respeitaram.
Ao longo desses anos de carreira trabalhaste com muita gente, inclusivamente fizeste uma tournée com o Bryan Adams. Quando se chega a esse patamar consegue-se manter a humildade?
O desporto deu-me a decência de saber estar, de respeitar, de não subestimar o outro. Não sou um dado adquirido, há sempre alguém melhor do que eu. Vivo da minha criatividade, mas também sou influenciado pelo que leio e ouço, mas tenho a consciência de que não inventei nada.

Sempre foste um artista muito acarinhado pelo público e pelas rádios. Os teus clássicos mais antigos passam com frequência. O que sentes quando ouves uma canção tua?
Fico envergonhado [risos], porque hoje em dia já não canto essas músicas da mesma forma. Hoje já têm mais tempero, mais sal. Acho que as pessoas gostavam das minhas canções pelas melodias e não pela minha forma de cantar. Foi isso que chegou às pessoas. Acho que algumas dessas canções foram mal produzidas. Os produtores eram ingénuos, não tinham muita experiência com o meu tipo de música, queriam fazer as coisas à sua maneira. Hoje ouço e não gosto. Respeito, porque faz parte da minha história, mas sou muito mais exigente e crítico, e sei que faço muito melhor.
Revês-te nas letras dessas canções mais antigas?
Sim. Revejo-me, por exemplo, no Ninguém é de Ninguém. Acho essa letra brutal e muito atual. Alguns homens pensam que são donos das mulheres e depois há aquele provérbio estúpido, que diz que “entre marido e mulher ninguém mete a colher“. Por isso é que têm morrido uma data de mulheres, porque ninguém se meteu! Se alguém se apercebe que as coisas estão mal, então devem meter-se, sim. Devem queixar-se, devem dizer. Eu pertenço a mim próprio. Quem estiver comigo também não me pertence. É um acordo de amor enquanto estivermos juntos.
O processo de escrita alterou-se com o teu amadurecimento?
Claro que sim, tenho mais cuidado, mais confiança, se bem que isso às vezes pode ser perigoso porque, antigamente, eu escrevia aquilo que me saía e não pensava mais no assunto. Hoje não, já sou mais exigente comigo próprio, o que pode tirar alguma autenticidade ao processo.
És uma pessoa muito reservada no que toca à tua vida privada, no entanto, escreves as tuas próprias letras, onde partilhas pedaços da tua vida. Isso faz-te sentir exposto de alguma forma?
Claro que sim, porque as canções são autobiográficas. É um risco que corro porque a minha vida é contada nas canções: as minhas relações, amizades, experiências…
Isso também serve de terapia?
Uma vez um colega meu disse-me que eu nunca estava sozinho, porque pego na viola e estou comigo. É verdade, nunca tinha pensado nisso…
O teu filho também é músico. É caso para dizer que ‘filho de peixe sabe nadar’?
Sim, tem muita influência. Mas, muita atenção, porque ele é muito melhor do que eu. Ele sabe o talento que tem como baterista, guitarrista e cantor. Ele quer construir o seu caminho, mas se tiver que ser comigo ele prefere não seguir, não quer dormir à sombra do apelido. Sabe bem o que quer e toca mesmo muito…
Este mês atuas em dose dupla no Coliseu, em dois concertos praticamente esgotados. O que estás a preparar?
Vai ser um concerto para reavivar memórias e histórias. As músicas mais antigas terão novas roupagens, mas sem descaracterizar, sem fugir à harmonia. Improvisando mais, sentindo-me mais à vontade com as próprias canções. Vou ter um quarteto de cordas, vou ter o Keith Scott (guitarrista do Bryan Adams) a tocar comigo. Haverá momentos em que estarei só eu a cantar com a viola, ou com o piano, assim uma coisa mais despida.
Para quando um novo disco?
Já estou a compor, não posso parar. A minha continuidade na música depende da minha criatividade, e nesse aspeto não vivo do passado. Há pessoas que vivem do passado, tocam sempre as mesmas canções com 30 anos. Isso faz-me muita confusão. As pessoas querem coisas novas. Claro que tenho que cantar as coisas mais antigas, mas tenho que dar a conhecer o que vou fazendo, que é atual. Espero ter um novo disco de originais já em 2019.
Na peça de Federico García Lorca, a última escrita pelo autor andaluz antes de ser executado pelas forças falangistas durante a Guerra Civil Espanhola, a viúva Bernarda Alba toma com mão de ferro as vidas das suas cinco filhas (Angustias, Madalena, Amélia, Martírio e Adela). A casa é o cárcere onde a matriarca enclausura e oprime todas as pulsões das suas descendentes.
Partindo do enredo desta obra-prima absoluta, João Garcia Miguel (que há uns anos levou à cena outra das peças essenciais do autor, Yerma) escreveu um texto como se procurasse “o segredo oculto e inacessível que ela contém”. Suprimindo algumas personagens, o espetáculo explora “uma conexão profunda com a terra e o corpo” que o encenador descortina na escrita e no universo de Lorca e da qual se apropria. Por isso, A Casa de Bernarda Alba segundo Garcia Miguel afasta-se “do olhar sobre o quotidiano para mergulhar no mais íntimo de cada um de nós.”

A personagem de Bernarda Alba – aqui interpretada surpreendentemente pelo consagrado ator irlandês Sean O’Callaghan – é paradigmática desse olhar, como se a crueldade fosse, enfim, uma expressão do humano. “Para salvar a família, Bernarda transforma-se na déspota. O luto não é a catarse, mas sim a barbárie”, sublinha o encenador. “No fundo, esta personagem encarna o ciclo invisível entre extremos que cada um de nós tem dentro de si e que a qualquer momento, sem que muitas vezes o consigamos compreender, se revela.”
Num dos vértices desses extremos, surgem Bernardas Albas que “crescem à luz cruel dos nossos dias, tornando-se cada vez mais coercivas, com discursos onde admitem mecanismos de repressão e censura, em nome da liberdade”. Mas, pelo menos neste palco, mais do que abordar economia, política ou a sociedade em geral, “aquilo que verdadeiramente importa é escavar bem no íntimo do humano”, sobretudo numa busca de tudo aquilo que está para além da razão.

Um elenco internacional
Nesta produção da Companhia João Garcia Miguel, o encenador conta apenas com um ator português, o jovem Duarte Melo, com que trabalhara anteriormente em Tio João. “É um intérprete de enormes recursos, com uma impressionante fisicalidade, daqueles que tem a marca do tipo de trabalho que desenvolvemos”. A ele cabe o papel da governanta Poncia. Mas, como vimos, não é a única “supressão” de género que o espetáculo contém, já que Sean O’Callaghan interpreta a mãe castradora Bernarda Alba.
Para o ator com vasto currículo em produções do Shakespeare’s Globe e da Royal Shakespeare Company, “trata-se de um enorme desafio por se tratar de uma das mais importantes personagens da dramaturgia mundial. Curiosamente, hoje há grandes atrizes a interpretar personagens masculinos. Na Grã Bretanha tem sido recorrente ver mulheres a fazer o Lear ou Ricardo III. A mim coube-me a Bernarda e sinto que é um trabalho de uma enorme liberdade, tão grande que ultrapassa a questão de género.”
Para Garcia Miguel, ambas as escolhas permitem “evitar uma imagem previamente determinada das personagens”, dado que “o teatro não é mais o mundo do naturalismo, mas sim das possibilidades”. E, como iria o encenador não aproveitar a possibilidade de ter em palco, sob sua direção, um ator como Sean O’Callaghan, confesso admirador do trabalho de Garcia Miguel?
A presença declaradamente feminina está nas intérpretes brasileiras, Annette Naiman e Paula Liberati, a quem Garcia Miguel distribuiu os papéis das filhas Martírio e Adela. Para ambas, “não se trata só de trabalhar com um homem de teatro tão reconhecido como Garcia Miguel. Fazer esta peça, tendo em conta o Brasil que deixámos há dois meses e meio, tem um significado muito especial para nós ou não andassem as Bernardas Albas por lá à solta.”
Em antestreia no Teatro Ibérico, de 18 a 20 de outubro, este visceral e empolgante olhar sobre A Casa de Bernarda Alba volta ao mesmo palco entre 12 e 22 de dezembro. Antes dessa temporada mais extensa em Lisboa, o espetáculo passa pelo Brasil durante o mês de novembro.
A decana das companhias de teatro profissionais portuguesas, o Teatro Experimental do Porto, regressa a Lisboa com três peças da autoria de Gonçalo Amorim e Rui Pina Coelho que refletem sobre o papel da juventude na História portuguesa contemporânea.
Salutar provocação ao influente Pequeno Tratado de António Pedro (membro fundador da companhia), O grande tratado de encenação é um olhar sobre a geração dos anos 50: num sótão, três jovens (Catarina Gomes, Paulo Mota e Sara Barros Leitão) anseiam por um teatro novo, como se ele pudesse forçar a entrada num mundo diferente daquele que está lá fora, nas ruas, no país de Salazar.
Em A Tecedeira que lia Zola, ensombrados pela Guerra Colonial e por uma ditadura que não tem fim, um grupo de jovens universitários (Bruno Martins, Catarina Gomes, Paulo Mota e Sara Barros Leitão) parte para os campos e para as fábricas, com a cabeça cheia de livros, para plantar as sementes daquilo que virá a ser a Revolução.
A encerrar a trilogia, Maioria Absoluta, ou um olhar sobre a geração que o cavaquismo gostou de apelidar de “rasca”: eles e elas (Carlos Malvarez, Catarina Gomes, Eduardo Breda, Íris Cayatte, Mariana Magalhães, Paulo Mota e Pedro Galiza) envergam camisas de flanela e calçam All Star e Doc Martens, ouvem grunge, e lutam contra propinas ou provas gerais de acesso ao ensino superior, “manifestando-se dia sim dia não” em busca de um rumo, de uma via criativa para um período em que o país vivia a ilusão do asfalto e do cimento a expensas de fundos comunitários.
A 27 de outubro, os três espetáculos são apresentados, respetivamente, às 16h30, 18h30 e 21h30.
Referiu numa entrevista que considerava a criação contemporânea demasiado ligada a aspectos formais e tecnológicos e que seria preciso voltar a facetas mais humanas e de intervenção. A programação que hoje apresentou reflete essa preocupação?
Não é tanto algo que eu considere que deveria acontecer, é mais uma observação do que está a acontecer na prática. Houve um período em que os artistas estavam muito interessados nos elementos mais formais da criação, por exemplo em juntar tecnologias como o vídeo ou outras. Artistas como John Cage ou Merce Cunningham foram aos limites conceptuais da música e da dança, tentaram ultrapassar as fronteiras da ideia comum que existia sobre estas formas de arte. Foi um período muito interessante e provavelmente necessário para abrir a nossa percepção e as nossas próprias definições sobre o que é a arte. Porém, nos últimos dez anos, aproximadamente – é difícil apontar uma data específica – há um maior interesse nas pessoas. O facto de muitos criadores estarem a trabalhar em áreas como o documentário, é um sinal disso. Também é visível no teatro, onde assistimos a um regresso à vida real, às pessoas e às suas vidas. Um bom exemplo é o espectáculo 100% Lisboa, que está na nossa programação (fevereiro 2019), onde os Rimini Protokoll trabalham com pessoas que não são atores, mas utilizam as suas experiências de vida, integrando-os no seu espectáculo. Não existe um texto de base, ele é criado pelas 100 pessoas que intervêm, selecionadas com o objetivo de traduzirem demograficamente a sociedade portuguesa.
A programação inclui uma série de eventos que têm como denominador comum a tristeza. Como nasceu esta ideia?
Está centrada no espectáculo Triste in English from Spanish da Sónia Baptista. Quando o vi, gostei muito do modo como ela trata o tema e a grande relevância do mesmo. Estamos a viver numa sociedade onde não há muito lugar para as pessoas que falham, para os momentos em que já não temos forças. Precisamos de momentos para a tristeza, para a perda, para o não-funcionar. Vale a pena pôr este tema em cima da mesa e dar-lhe a atenção devida. O espectáculo faz isso de uma maneira muito bonita. Tem uma grande fragilidade e é também muito generoso e muito bem concebido. Fala também sobre a depressão, um problema cada vez mais generalizado na sociedade e que tem pouco espaço de reflexão. Decidimos usar este tema e aprofundá-lo na programação. A ideia de poder aumentar o alcance de um espectáculo é algo que me agrada muito, porque permite focar várias maneiras de olhar para os temas e tocar em públicos diferentes. Pessoas que têm interesse no assunto mas que não vão regularmente ao teatro, podem sentir-se atraídas pelo tema e pelo que um artista tem a dizer sobre ele.
Esse aspeto tem a ver com a vossa intenção de alargar e atrair novos públicos, de ultrapassar um certo conceito de nicho que é por vezes associado à criação contemporânea?
Há muitos espectáculos que se podem caracterizar como arte contemporânea que são muito acessíveis, que não são, por assim dizer, ‘difíceis’. Como disse, houve tempos em que artistas como o John Cage iam aos limites dos limites e nessa pesquisa podiam levar a um certo afastamento do público, mas acho que estamos numa altura em que os próprios artistas querem sair disso. Procuram públicos maiores e falar de coisas que as pessoas entendem. Não estou a inventar nada, é uma coisa que está a acontecer na criação contemporânea. O Jérôme Bel, por exemplo, é um artista que começou por trabalhar na dança de um modo muito conceptual, muito à procura dos limites da dança mas que foi evoluindo até ficar quase obcecado com a percepção do público. Estava muito preocupado, embora de um modo saudável, com a inteligibilidade da sua obra e assistia a todas as sessões para avaliar a resposta da assistência. Há cada vez mais artistas a pensar assim.
Na apresentação da programação falou também numa preocupação com a escala. Em que consiste?
A programação da Culturgest incluía muitos espectáculos de menores dimensões, recorrendo a espaços menores ou ao redimensionamento da sala, com o palco no centro e com construção de bancadas em redor, por exemplo. Decidimos apostar mais na sala tal como ela é, com 600 lugares, e imaginar uma programação que funcione neste espaço. Sem perder a alma da Culturgest e da sua missão criação contemporânea, queremos integrar propostas para chegar a um público mais alargado.
Há muita oferta neste tipo de produções?
É mais difícil e há menos oferta, sobretudo em Portugal. Com a falta de meios, quase ninguém arrisca em produções com mais de dez artistas ou com grandes cenários. Pretendemos criar um mercado e apoiar este tipo de trabalhos, desafiando artistas que têm experiência e know-how em espectáculos desta dimensão. É importante que uma produção nacional não fique limitada por condições económicas. Eu próprio tenho um grande amor pela criação experimental, de pequenas dimensões, como foi visível no meu trabalho no Maria Matos, mas penso que a Culturgest tem outra vocação, pela própria arquitetura do espaço. Gosto muito da sala principal que, apesar de ser de uma dimensão considerável, permite uma proximidade muito boa com o palco.
Neste âmbito, quais os espectáculos que destacaria na programação?
Sem dúvida, o Ballet Rosas já em outubro. É uma combinação de artistas de grande nível e com grande experiência. A Anne Teresa de Keersmaeker é desde logo uma rainha da dança a nível internacional. Conta ainda com 18 bailarinos em palco e com a participação do ensemble B’Rock, uma orquestra barroca muito inovadora, e com os concertos Brandeburgueses de Bach, que é uma obra deslumbrante. É um tipo de proposta que pode atrair um público mais alargado, pela sua dimensão e grandeza. Destaco também outros dois espectáculos de maior dimensão. O 100% Lisboa, é um espectáculo extraordinário, inusitado e é uma grande festa. Nasceu no Hebbel Theater de Berlim, onde convidaram os Rimini Protokoll para fazer uma criação de comemoração do centenário do teatro. Foi um sucesso tal que muitos programadores os convidaram a repetir o formato nas suas cidades. Há anos que tinha vontade de trazer este espectáculo a Lisboa mas o Teatro Maria Matos não tinha a dimensão adequada. Posso mencionar também o espectáculo Happy Island, que a coreógrafa La Ribot e a cineasta Raquel Freire criaram com a companhia de dança inclusiva madeirense Dançando com a Diferença, em cena a 23 de novembro. Estreou na Suíça, onde foi muito bem recebido.
Outra das apostas são as co-produções nacionais. Estão em preparação?
Felizmente, quando fui convidado em outubro de 2017, tinha a programação do ano já fechada pelo Miguel Lobo Antunes. Foi importante ter este tempo para preparação. Os espectáculos desta dimensão levam cerca de ano e meio a preparar, pelo que irão aparecer na segunda metade da temporada, já em 2019.
Porque optaram por uma programação semestral?
Originalmente pensámos numa programação anual mas na área da música e das conferências tornava-se muito complicado. No teatro e na dança, o agendamento anual é a prática normal, mas na música e nas conferências os prazos têm de ser mais curtos. O prazo de seis meses também nos dá tempo de fazer uma melhor divulgação.
Mudaram também a imagem institucional, desde o logótipo à sinalética. É uma lavagem de cara relativa aos 25 anos?
Havia uma necessidade muito prática, o website da Culturgest estava muito antiquado. Foi feito há 15 anos atrás com base numa programação muito antiga e pouco interativa. A partir dessa intervenção optámos por uma mudança mais abrangente. Era importante criar uma nova imagem e dar uma ideia de frescura, de um novo ciclo que vai começar, o que é sempre apelativo. Na área da cultura é normal mudar a imagem periodicamente e este era um bom momento para o fazer.
Os programadores das diferentes áreas foram todos escolha sua?
O Delfim Sardo (Artes Visuais) já tinha sido convidado pelo Miguel Lobo Antunes, mas como gosto muito do trabalho dele não tive qualquer dúvida em mantê-lo, foi um acaso feliz. A Raquel Ribeiro dos Santos (Participação, Famílias e Escolas) também já fazia parte da equipa de programação. Temos estado a trabalhar numa reformulação desta área para incluir um trabalho mais alargado na captação de públicos. As obras artísticas valem por si mas queremos enriquecê-las com outro tipo de propostas que as podem complementar com leituras mais amplas. A Liliana Coutinho (Conferências e Debates) e o Pedro Santos (Música) são convites meus. Sou um espectador muito regular do trabalho do Pedro, que muito aprecio. Na área da Liliana procuramos fazer um trabalho de colaboração com as universidades, que também têm interesse em sair da sua bolha académica. Ela está muito actualizada nessa área que pretendemos trazer para fora do universo exclusivo dos estudantes e da academia. Há coisas muito interessantes que passam despercebidas ao grande público.
O Mark Deputter é Belga flamengo e vive em Portugal há vários anos. Sente-se mais português ou belga, ou estrangeiro em ambos países?
Acho que nós somos várias coisas, cada um de nós é várias pessoas. Quando se é estrangeiro num país sentimo-nos sempre um pouco de fora. É curioso que agora sinto muito isso na Bélgica, mais do que aqui. Neste ponto de vista, sinto-me mais português que Belga. Gosto de lá ir mas sinto-me mais deslocado. Já são 20 anos em Portugal e estar casado com uma portuguesa e com dois filhos, também ajuda. Obriga-me a adquirir outros vocabulários. Falo português e flamengo com os meus filhos, mas torna-se mais difícil à medida que eles vão expandindo o vocabulário. Há um passado que é fundamental e que não se consegue recriar. No entanto, o meu passado é na Bélgica, todas as minhas referências de filmes, de televisão, contactos que se fazem em jovem adulto, nas aulas, nas vivências, são sempre marcantes.
E no modo de trabalhar, há diferenças?
Sim, é um pouco diferente, mas gosto mais de como se faz aqui. Há pequenas coisas que nunca vou aprender, como o hábito de chegar atrasado. Não consigo. Melhorou muito, mas no início era muito frequente. As pessoas chegavam com meia hora de atraso e nem achavam estranho, não viam a necessidade de pedir desculpa. Tive de aprender a ter paciência com isto.
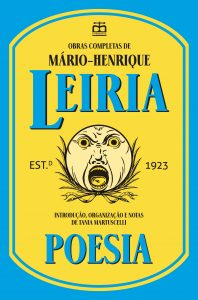
Mário-Henrique Leiria
Poesia
E-Primatur
Mário-Henrique Leiria (1923-1980), escritor experimentalista, distinguiu-se nos géneros de vanguarda da sua época como a ficção cientifica ou o policial psicológico que incorporou no surrealismo, movimento ao qual sempre se manteve próximo. Espírito inconformista de ironia contundente, escolheu como alvos principais da sua obra o capitalismo, a guerra, o estilo de vida da burguesia e todas as formas de violência e autoridade. A edição da sua poesia completa, segundo o prefácio de Tania Martuscelli, organizadora do presente volume, “desnuda o Mário-Henrique Leiria revolucionário, deixando à mostra seu crescimento como artista, homem e ser político”. Documentando toda a sua obra poética que até hoje se pôde encontrar, os inéditos e os dispersos, desde os fins dos anos 30 até aos anos de 1970, revela que no conjunto dos poemas, conquanto de diversos estilos e épocas, se encontra a tão apreciada verve do autor dos famosos Contos do Gin Tonic, que o haveria de tornar num dos nomes de culto da literatura portuguesa do século XX.

António Borges Coelho
Raízes da Expansão Portuguesa
Editorial Caminho
Este livrinho, retirado do mercado duas semanas após a sua primeira edição, valeu ao autor uma longa tarde de interrogatório com a ameaça de revogação da liberdade condicional. Lê-se no auto de declarações de 1 de agosto de 1964, existente na Torre do Tombo: “o declarante desvirtua algumas das páginas mais brilhantes da nossa História, adulterando sacrilegamente os factos e classificando de ‘abutres’ homens que foram heróis e foram santos”. O autor declarou nos autos que a sua intenção ao escrever o livro “foi fazer história”. Nesta obra fundamental, reeditada em 6ª edição, Borges Coelho, entre outras importantes contribuições para a historiografia contemporânea, apresenta como razões do sucesso da expansão marroquina, levada a cabo pelos portugueses no século XV, a vida nómada e tribal que dificultava o avanço da estrutura social marroquina, a superioridade portuguesa nos mares e a vantagem da burguesia lusitana no capitulo da arte militar, que incluía já armas de fogo. O ilustre historiador atribui à alta burguesia marítima agrícola a determinação da expansão dos portugueses.
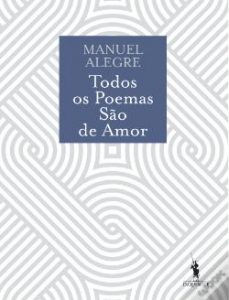
Manuel Alegre
Todos os poemas São de Amor
Dom Quixote
Parafraseando o título deste livro pode dizer-se que todos os poemas de Manuel Alegre são de amor. De facto, o presente volume reúne poemas de amor escritos entre 1960 e 2015. Entre eles, textos tão célebres como A Rapariga do País de Abril, Nós Voltaremos Sempre em Maio, ou Nambuangongo meu Amor, que Eduardo Lourenço classificou de “Hiroxima moral”. Ainda, Trova do Amor Lusíada (Meu Amor é Marinheiro), dedicado ao grande músico Alain Oulman, e o magnífico soneto As Facas, que conheceram ampla divulgação na voz magistral de Amália Rodrigues. Poemas que refetem, segundo Vasco Graça Moura, “as inflexões épicas e líricas que permitem a recuperação de tantos acentos genuinamente camonianos”, e “constituem alguns dos mais belos poemas de amor do nosso tempo”. A edição completa-se com nove poemas inéditos do Prémio Camões 2017. Poemas de amor que são: “(…) Palavras que te digo sem dizê-las / palavras onde pulsam várias vidas / e são a escrita mesmo se escondidas / e são o canto mesmo sem escrevê-las”.

James Baldwin
Se esta Rua Falasse
Alfaguara
James Baldwin (1924-1987) nasceu no Harlem, onde cresceu e estudou. Em 1948, partiu para França, fugindo ao racismo e homofobia dos EUA: “Acabei nas ruas de Paris, com quarenta dólares no bolso, mas com a convicção de que nada de pior me podia acontecer do que já me tinha acontecido no meu país”. Romancista, ensaísta, poeta e ativista dos direitos civis, foi, com Gore Vidal, um dos mais lúcidos espíritos críticos que a América produziu no século XX e um dos seus maiores intérpretes. Este romance narra a relação entre Tish uma jovem de 19 anos e Fonny, de 22, ambos negros. Fonny é preso, injustamente acusado do crime de violação, e os amantes ficam separados por uma fria parede de vidro. Na completa adversidade, a paixão destes jovens confere-lhes uma coragem inesperada e até uma esperança que a realidade não parece justificar. Ao ler esta obra comovente, sobre a dificuldade de ser negro e viver nos EUA, ironicamente apelidados pelo autor de “inferno democrático”, apetece repetir com ele: “The story of the negro in America is the story of America. It is not a pretty story”.

bell hooks
Não Serei Eu Mulher? As mulheres Negras e o Feminismo
Orfeu Negro
Gloria Jean Watkins, conhecida pelo pseudónimo de bell hooks, é uma autora norte-americana, feminista e activista social. A sua extensa obra conta com mais de trinta títulos publicados e incide essencialmente sobre a interseccionalidade da raça, da classe social e do género, e nos modos comos estas categorias produzem sistemas de opressão e dominação reforçando a estrutura capitalista patriarcal. “Nenhum outro grupo na América teve a sua identidade tão rasurada da sociedade quanto as negras. Raramente nos reconhecem como grupo autónomo e distinto dos negros, ou como parte integrante, nesta cultura, do grupo alargado de mulheres”, escreve a autora neste clássico obrigatório da teoria feminista. Por isso, bell hooks, para se compreender como negra, precisou de ir para além “dos muitos livros que as minhas camaradas brancas escreviam para explicar a emancipação feminina, e conseguir novos modos alternativos e radicais, de pensar o género e o lugar das mulheres”.
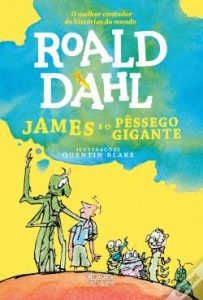
Roald Dahl
James e o Pêssego Gigante
Oficina do Livro
A Oficina do Livro reedita este clássico da literatura infanto-juvenil, ilustrado com os deliciosos desenhos originais de Quentin Blake. James, um rapazinho de sete anos, resolve fugir das duas tias medonhas com quem é forçado a viver. Não parte a pé, nem de bicicleta. Lança-se numa extraordinária aventura espacial, a bordo de um pêssego gigante, com um surpreendente grupo de amigos. Roald Dahl (1916/1990) nascido no País de Gales, de origem norueguesa, aventureiro e viajante incansável, tornou-se famoso como escritor para adultos (Contos do Imprevisto) e para crianças. Dotado de um estilo literário elegante e fluido, com relevo para o engenho dos enredos e para as descrições e diálogos pautados pela comicidade, manifesta clara apetência pelo humor negro ao qual não é alheia uma certa perversidade. O seu imaginário decorre das fábulas e contos tradicionais, cujo conteúdo e moral lhe apraz subverter. Na sua obra os pequenos protagonistas encaram as situações difíceis muito melhor do que os adultos, constituindo este facto uma das razões prováveis para o seu imenso sucesso junto do público jovem. Nunca subestima a inteligência do leitor, suscitando a imaginação e espírito crítico da criança para além dos limites a que foi habituada, sobre as noções convencionais do Bem e do Mal e o respeito reverencial teoricamente devido aos mais velhos. James e o Pêssego Gigante é um livro fundamental que ajuda a crescer. Porque as crianças merecem o melhor.

David Walliams
As Piores Crianças do Mundo
Porto Editora
Quem são as piores crianças do mundo? A Sofia Sofá – viciada em televisão, tão colada ao sofá que quase se confunde com ele. Ou o João Babão – um rapaz cuja baba o mete em sarilhos tremendos numa simples visita de estudo. E não esqueçamos a Fiona, a Chorona – uma irmã mais velha do pior que só sabe berrar! Em Portugal, as obras de David Walliams Avozinha Gângster, A Doutora Tiradentes, A terrível tia Alberta e A Incrível Fuga do meu Avô estão incluídas no Plano Nacional de Leitura como sugestão de leitura autónoma para o 5.º ano. Os seus livros, tão divertidos, herdaram do grande escritor Roald Dahl o impertinente e delicioso sentido de humor e a relação criativa entre o texto e as sugestivas ilustrações de Tony Ross que, pela rapidez certeira do traço, lembram Quentin Blake, eterno colaborador de Dahl.
A Ala dos Namorados surgiu em 1993. Que recordações têm dessa altura?
Manuel Paulo: Um dia o João Gil veio falar comigo, disse que tinha umas letras interessantes do João Monge e desafiou-me a trabalhar sobre elas. Gostei imediatamente, e começámos a trabalhar sobre as letras. De repente tínhamos material com valor suficiente para lhe dar vida. Começámos então a pensar em quem é que podia dar voz ao material que tínhamos. Eu tinha conhecido o Nuno no ano anterior num espetáculo do Carlos Paredes. Na altura ele era contratenor, e lembrei-me que a voz dele talvez se pudesse adequar a algumas das nossas músicas. Falámos com o Nuno, ele ouviu as canções, cantou-as e percebemos que fazia sentido e que o projeto ia funcionar com a voz dele, embora a princípio houvesse alguma estranheza, pelo lado exótico da voz dele.
O Nuno começou por ser bailarino. Como é que a música surge na sua vida?
Nuno Guerreiro: Sempre existiu paralelamente à dança, sempre cantei. De início não dava tanta atenção a esse lado, porque estava mais focado na dança, mas a voz cá andava, e sempre adorei cantar. Apercebia-me que tinha voz porque me pediam frequentemente para cantar em jantares ou festas da escola. Adorava cantar Madredeus, Amália, Vitorino, Zeca Afonso que eram as minhas referências maiores na altura. Depois, numa vertente mais pop e soul, ouvia muito Aretha Franklin e George Michael, que é um dos meus grandes ídolos.
Quando começaram o projeto imaginavam que viriam a ser uma das bandas mais marcantes dessa época?
NG: O primeiro disco teve o seu impacto, mas acho que a Ala dos Namorados foi crescendo gradualmente, e diria que só chegámos ao grande público em 1999 com o Solta-se o Beijo.
MP: Com o primeiro disco criámos uma identidade, mas não foi logo um êxito estrondoso. A Ala dos Namorados passou a existir, e depois foi crescendo. Fizemos muitos concertos, cá dentro e lá fora. Fomos a Marrocos, Canadá, Brasil, Japão… Tivemos sempre trabalho regular, mas com o Solta-se o Beijo (que é uma canção um bocadinho atípica na Ala) chegámos a mais pessoas, o que foi ótimo, porque isso levou-as a quererem ouvir as nossas canções mais antigas.
Qual é a história por trás desta música?
MP: Foi uma canção feita pelo João Gil com letra da Catarina Furtado. Estávamos no Brasil, num camarim, e ele disse que tinha uma canção para nos mostrar, mas não sabia se se adequava muito ao que estávamos habituados a fazer. Só de a ouvir com voz e guitarra achámos logo que funcionava, mas pensámos em dar a volta a canção e dar-lhe o nosso cunho, a nossa sonoridade. Depois a Catarina sugeriu que convidássemos a Sara Tavares para cantar connosco, e funcionou lindamente. É uma das canções que as pessoas mais associam à Ala dos Namorados, a par com o Zé Passarinho, os Loucos de Lisboa, O Fim do Mundo ou o Caçador de Sóis.
Têm conseguido manter-se ao longo de 25 anos. Acham que isso se deve ao facto de misturarem uma série de estilos musicais como o jazz, a pop ou o fado, por ex?
MP: Sim, juntamos todos esses estilos mas sem perder uma identidade muito própria, se não os concertos iam parecer quase uma manta de retalhos. Isso nota-se, por exemplo, no Razão de Ser, um disco que conta com artistas como o Carlos do Carmo ou o Carlão, ou seja, músicos muito diferentes, de áreas distintas da música, com estilos muito diferentes, mas há uma unidade que faz sentido em tudo aquilo.
Nesse disco gravaram novas versões, com colaboração de outros músicos como António Zambujo, Rui Pregal da Cunha ou Raquel Tavares. Foi necessário algum altruísmo para “emprestar” temas vossos a outras vozes?
NG: Acho que até é uma experiência bastante rica, porque as pessoas trazem bastante delas para as canções, o que resulta numa coisa mágica.
MP: A ideia é precisamente essa. Pensámos nas pessoas que se adequavam àquelas canções, porque de facto traziam uma grande mais-valia para o disco.
Em 2008, depois de 15 anos de carreira, decidiram fazer uma pausa. Isso reforçou ainda mais o projeto?
MP: Tínhamos que parar, já estávamos juntos há muitos anos. Foi uma fase de viragem e foi espontâneo, não foi algo pensado. Quisemos fazer outras coisas, arejar, ter novas experiências. Um dia reunimo-nos para um concerto de homenagem ao João Monge e ensaiámos como se tivéssemos estado sempre juntos. Estava tudo debaixo dos dedos, foi incrível. Foi algo natural e é isso que nos mantém juntos. Os concertos são a melhor parte disto, é a justificação de todo o trabalho. A parte de estúdio também gosto muito, de construir, de aperfeiçoar… As músicas que cantamos há 25 anos até reproduzimos a fazer o pino, se for preciso, mas quando as tocamos em frente a um público é como se fossem novas outra vez, e isso é uma sensação muito agradável. A grande prova é tocar ao vivo, e é isso que nos mantém.
Para o álbum Vintage (2016), foram buscar temas intemporais do cancioneiro português. Tiveram receio de “remexer” nestes clássicos, de os desvirtuar de alguma forma?
NG: É sempre arriscado pegar em temas com um valor histórico tão grande, e que foram grandes êxitos no passado.
MP: Para pegar numa canção como As Noites da Madeira, do Max, por ex., tivemos que a tratar com pinças, com extremo respeito, para não a desvirtuar. Ficámos contentes com o resultado, se não também não teríamos deixado o disco sair. Fomos buscar o essencial das canções e tentámos dar-lhes a nossa sonoridade, sem grandes ornamentos.
Em março lançaram o single Culpada, uma homenagem ao universo feminino…
MP: Todos os universos sobre os quais o João Monge escreve, escreve muito bem. O das mulheres é um deles. Um dos grandes motivos que faz rodar este planeta é a mulher, como é evidente. Também não é uma canção muito típica da Ala, é mais para o universo pop, chamemos-lhe assim.
A 13 de outubro festejam 25 anos de carreira no Coliseu, com convidados especiais. Como vai ser esta celebração?
MP: Teremos naturalmente convidados especiais (e algumas surpresas), que fazem parte da história da Ala: o João Gil e o Moz Carrapa, que fazem parte da formação inicial. Teremos também connosco os Shout!, o Rui Veloso, o António Zambujo, o Carlão… Podiam ser muitos mais, mas depois em vez de um concerto teríamos um espetáculo de variedades…[risos]
Qual é o futuro próximo da Ala dos Namorados?
MG: Estamos a pensar fazer um disco ao vivo e, durante o ano que vem, continuaremos em tournée.
Durante uma ida ao IKEA, Ele (Luís Araújo) fala-lhe da hipótese de terem um bebé. Ela (Maria Leite) fica sem ar, vive um ataque de pânico e, entre a neurose e o desespero, equaciona os muitos contras de tomarem a decisão de… “fazer uma pessoa”. Afinal, eles já não têm 20 anos e até se consideram “pessoas boas”, instruídas e esclarecidas… Mas o mundo que os rodeia é tão incerto, e a pegada de carbono que implica um novo ser humano equivale ao peso da Torre Eiffel. “Eu daria à luz a Torre Eiffel!”, lamenta Ela.
“À superfície, Pulmões é um drama doméstico, porém a tensão dentro de casa, entre o casal, é um espelho de toda a tensão que existe no mundo”. É deste modo que o encenador e ator Luís Araújo caracteriza este texto rápido e frenético agora representado (em três récitas únicas) no São Luiz.
Embora Pulmões seja, afinal, uma peça sobre um grande amor nestes tempos que vivemos, a encenação privilegia sempre o pronúncio de apocalipse que paira sobre os dois protagonistas – ao longo de hora e meia de espetáculo, eles nunca se tocam, ou como diz o encenador, “tudo é dito pela passividade do que é feito” – num ambiente gélido (brilhantemente proporcionado pelo espaço cénico desenhado por António MV) onde Ele e Ela circulam como cativos. Não havendo forma de fugir, é preciso respirar.
O espetáculo está em cena, de 28 a 30 de setembro, na Sala Mário Viegas do Teatro Municipal São Luiz.
Bem na zona central de Lisboa, na plataforma da estação Roma/Areeiro, dá entrada o comboio suburbano proveniente de Alcântara-Mar com destino a Castanheira do Ribatejo. Sem atrasos dignos de registo, entramos na composição, sabendo que, em pouco menos de um quarto de hora, estaremos sentados no confortável lobby da Biblioteca de Marvila a falar com alguns dos Visionários locais.
Deslizando suavemente pelos carris, o comboio parece transportar-nos para fora da cidade por terrenos baldios, emaranhados de vias rápidas e viadutos que cruzam a linha e estreitas azinhagas que desembocam em pequenas hortas. Como era previsto, em seis meros minutos desembarcávamos no apeadeiro de Marvila. A poucos metros, a norte, sem particular ostentação, mas bem visível, o nosso primeiro destino: a Biblioteca de Marvila.
Vivendo a insónia do programador
Dadas as disponibilidades pessoais, apenas quatro dos 12 Visionários de Marvila responderam à nossa chamada. E é com entusiasmo que partilham a experiência de desempenharem, nesta edição de Os Dias de Marvila, o papel de programadores de dois dos espetáculos a serem exibidos no festival – 1.5º Ponto de Equilíbrio, da Companhia Erva Daninha, e o concerto do quarteto DG4.

Ser visionário resume-se, precisamente, a desempenhar o papel de programador. O projeto Visionários, promovido em vários municípios pela ArtemRede, proporciona o visionamento de diferentes espetáculos e criações artísticas a um grupo de pessoas que os avaliam e tenderão a escolhê-los para uma futura exibição pública. Porém, não basta gostar – é preciso aferir da disponibilidade dos artistas, do orçamento disponível e de outros tantos aspetos que, por norma, dão muitas noites de insónia a um programador profissional. A Cila, a Dina, o Rui e a Eunice, visionários marvilenses, que o digam! Após terem visto in loco e em vídeo um rol de projetos, o grupo, “muito heterogéneo em termos de idades e percursos de vida”, decidiu e cabe agora ao público em geral avaliar as suas escolhas.

“Todos os socos que levei foram à pala do rap”
O reencontro de velhos amigos que o amor pela música, nomeadamente o rap, uniu. Sentados à nossa frente, depois da sessão de fotografias debaixo de um sol abrasador, Viruz, Myslo e Rato Chinês juntam-se a nós e depressa começam a partilhar histórias que parecem saídas dos temas que entoam. Dos três, Rato Chinês é o único marvilense (Viruz e o seu produtor e DJ, Myslo, são oriundos de Campolide) e o modo como se denomina enquanto artista é bem sintomático daquilo que é, mas também foi, o bairro onde hoje está instalada a Biblioteca. “Rato é a minha alcunha desde criança. É assim que, aqui em Chelas [denominação já removida da toponímia de Lisboa, mas ainda muito usada pelos locais], toda a gente me conhece. O Chinês vem do tempo em que este sítio eram quase só barracas e a estrada era de terra batida: o Bairro Chinês.”
Viruz e Rato conhecerem-se na década de 90, no Bairro Alto, e juntos faziam freestyle rap na rua, dando eco à admiração que tinham “pelos poemas e pelo beat que ouviam dos mais velhos à porta da escola”. Falam de um período dourado, entre 2001 e 2004, em que a dupla fazia furor no animado bairro da capital. Entretanto, a vida levou-os por caminhos diferentes: Viruz tem uma carreira consolidada no rap nacional e Rato está de volta à arte que o fez levar todos os socos de que se lembra. E, de certo modo, é um regresso que a Biblioteca patrocinou: “entrei aqui, uns meses depois da abertura, e perguntei por um estúdio. Não havia, mas abriram-me as portas de um auditório”. Aliás, esta experiência leva o trio a sublinhar a importância de se acabar com a desconfiança e o preconceito mútuos entre os residentes na zona e aqueles que vêm de fora: “e a nós, enquanto artistas, cabe-nos ser mediadores dessas realidades”, sublinham.
Cultivar a autoestima em quem tanto precisa
Cruzamos agora a linha de comboio em direção à Estrada de Marvila, virando costas a Chelas. Na Azinhaga das Veigas, um velho palácio alberga a Casa de São Vicente, uma associação atualmente dedicada à reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, fundada em 1940 pela Condessa de Mafra, Maria Antónia de Mello Breyner. Aqui, Suzana Rodrigues trabalha com alguns dos utentes desta IPSS na exposição A nossa cara não é estranha, que estará patente na Biblioteca de Marvila durante o festival.

A exposição consiste em registar, através de fotografia, imagens que são particularmente familiares a todos os públicos, usando como modelos os jovens, e não tão jovens, utentes da Casa. Suzana dá-nos um exemplo, mostrando no computador o famoso quadro de Johannes Vermeer A Rapariga com Brinco de Pérola. De seguida, exibe uma fotografia com a modelo, uma aluna, utente da instituição, reproduzindo a bela pintura, e questiona-nos: “Não é bonita? Consegue perceber que se trata de uma mulher com deficiência cognitiva?”
O objetivo desta exposição será, precisamente, mostrar a todos como “estas pessoas são especiais, que esta é a sua outra cara” e ao mesmo tempo mexer com a confiança dessas mesmas “pessoas com p grande” que, ao se verem expostas nestas fotografias, “vão ver subir a autoestima”. Por outro lado, um momento público desta dimensão proporcionará uma motivação suplementar para que muitas das famílias venham de novo ao encontro dos seus. Muitos dos alunos da Casa estão em internato (são 25 utentes do sexo feminino em Lar) e pouco ou nenhum contacto têm com a família.
Na despedida, a diretora técnica da Casa de São Vicente, Cristina Gomes, deixa-nos um desejo: “Queremos estar cada vez mais incluídos na cidade, mas a cidade tem de nos incluir a nós. Temos muitas ideias para partilhar”. Esta exposição é, seguramente, uma delas.
“Sítio dividido em zonas com letras do alfabeto”
Seguimos agora para oriente, para a zona de apogeu da Marvila Velha, onde tudo parece estar a mudar a um ritmo alucinante. Com o rio bem à vista, entramos no complexo One Your First Stop, um antigo entreposto ferroviário, hoje ocupado por indústrias criativas e projetos de coworking. Ali encontramos o encenador e performer Tiago Vieira, um marvilense de gema, e a encenadora e membro da Companhia Cepa Torta, Patrícia Carreira, acompanhada por jovens do seu projeto de teatro comunitário com alunos das escolas da freguesia e com a comunidade dos bairros de Marvila Velha, Lóios e PRODAC. Ambos vão apresentar duas criações n’ Os Dias de Marvila.

Nome já firmado no teatro português, Tiago é cofundador da Latoaria, na Mouraria. “Não enceno e crio da maneira como o faço se não tivesse nascido e crescido em Chelas”, esclarece, antes de nos explicar o conceito de A Pátria é a minha Revolução, espetáculo que prepara com um elenco de atores e bailarinos profissionais, e que será apresentado num dos armazéns do complexo onde estamos. Para aquilo que designa como “concerto apocalíptico”, Tiago vai buscar autores que muito o marcaram, como Ortega Y Gasset, Nietzsche, Genet, Rimbaud, mas também Sam The Kid, o rapper que, tal como ele, nasceu e cresceu no bairro e cantou Chelas, “sítio dividido em zonas com letras do alfabeto”. “É uma homenagem às pessoas que me marcaram em Chelas, uma interpretação poética das memórias que guardo, daquele tédio quase tchekhoviano dos dias quentes trazendo aromas das terras distantes de África. Porque em Chelas, sobretudo na Zona J ainda se respiram ambientes profundamente africanos. E não concebo as minhas memórias de bairro sem eles.”
Uma das jovens que participa no projeto da Cepa Torta O Mapa do Mundo Reinventado, Lara, intervém: “Mas, não são só africanos! A minha família veio do norte para cá. Viveu numa barraca, tinha uma horta. Depois houve o realojamento. E quem não é daqui continua a ver-nos com suspeição. É claro que há pobreza, mas acho que Chelas tem mais fama que proveito quando se fala em coisas más.”
E hoje? O que é que mudou? Nenhum dos jovens presentes está bem certo, mas Tiago remata: “Haver uma biblioteca em Chelas é qualquer coisa de incrível…“

O último slow em Marvila
O nosso próximo destino é o Salão de Festas do Vale Fundão ao encontro de Rui Catalão, que ensaia O Último Slow, espetáculo que terá duas apresentações n’Os Dias de Marvila (embora uma delas no Torreão Poente do Terreiro do Paço). Este é um regresso a este território, depois de há cerca de dois anos, a convite do Teatro Municipal Maria Matos, ter criado Assembleia, um espetáculo protagonizado por marvilenses oriundos de dois bairros distintos: Alfinetes e Armador.
“Para este projeto comecei por fazer uma audição na Biblioteca de Marvila em que aparecerem perto de 70 pessoas. Infelizmente, nenhuma, à exceção do David, que está connosco, se comprometeu.”
Será o David, um jovem do bairro com algumas limitações cognitivas, que funcionará como pedra de toque nesta nova criação. “É um espetáculo de teatro dançado, feito de movimento dramático sem palavra”, a partir de slows, “essa moda em perda”, essas canções que fazem parte do crescimento de cada um de nós.
Em cena, Rui junta performers profissionais e amadores (alguns provenientes de projetos criativos que desenvolveu no Vale da Amoreira), e lamenta que em Marvila “ainda seja difícil convocar a comunidade”. Em causa, o encenador aponta o muito que há ainda a fazer no terreno para que as pessoas se mobilizem. Aspeto que é, aliás, referido por muitas das pessoas com quem conversámos, desde habitantes na zona a outros agentes, e que percebem que só a persistência dos projetos de âmbito social e cultural podem acabar definitivamente com “a cidade oculta” que um dia se chamou Chelas.
O futuro radioso são as crianças
Poderia ser uma espécie de epílogo desta viagem mas, acreditamos, tratar-se do princípio de tudo.
Com o dia a acabar, regressamos à Biblioteca para descobrir mais um projeto que tem, naquele espaço, uma casa. Trata-se do Coro Infantil da Biblioteca de Marvila, e agora que o dia de aulas acabou, algumas das jovens estrelas podem posar para a fotografia.
Conduzido pela maestrina Catarina Braga, o Coro, também ele apadrinhado na sua génese pelo Teatro Municipal Maria Matos, prepara-se para mais um ano de trabalho, ainda sem certezas quanto ao número de crianças que o vão integrar. “No ano passado tivemos 11, 12 crianças a vir regularmente aos ensaios”, precisa Catarina. E, curiosamente, são provenientes de toda a freguesia, pelo que constituem um grupo bastante heterogéneo em termos de estrato social. Apesar de muito desafiante, é uma pequena conquista, e como comenta uma mãe, trata-se de “um projeto que está a expor muito positivamente o bairro, demonstrando que por aqui estão coisas a acontecer.”
Um exemplo concreto de inclusão foi a participação de algumas crianças de etnia cigana. “Não sendo regulares, conseguimos que elas viessem, e esperamos que não desistam. Seria muito importante para elas”, destaca a maestrina.

Agora é tempo de colocar vozes ao alto e começar a preparar a apresentação prevista para Os Dias de Marvila. E tivemos uma pequena amostra: do Cancioneiro da Bicharada de Carlos Gomes, as crianças presentes interpretaram O Grilo, a partir de poema de Alexandre O’Neill, com direito a coreografia.
No futuro, Catarina quer colocar o Coro a cantar Marvila e, para tal, encetou já uma busca pelo repertório da freguesia, rico sobretudo em marchas.
O sol já se põe e é tempo de deixar este lado da cidade. Rumo ao apeadeiro, ainda se ouvem a vozes eternamente esperançosas das crianças. Afinal, é com elas que se começa a construir o futuro da cidade. E não deixa de nos ocorrer as palavras que ouvimos do rapper Rato Chinês há algumas horas – “No meu tempo, acreditávamos que só havia dois caminhos para sair do bairro: pelo futebol ou pela luta!”
Talvez, agora ou num tempo muito próximo, se abram outros caminhos.
paginations here