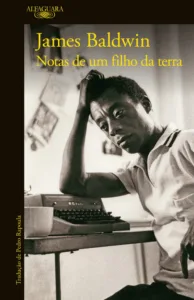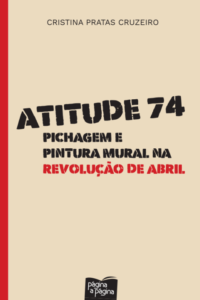Algures entre o final da escola de cinema e a primeira curta-metragem que realizou (Entretanto, 1999), fez uma viagem a Macau de que resultou o projeto Macau Farm, levado a cabo por outra pessoa. Essa viagem está na origem do seu interesse pelo continente asiático, explorado agora abundantemente em Grand Tour?
Quando saí da escola de cinema não tinha grandes perspetivas sobre o que havia de fazer à vida, porque tinha tirado o curso de produção e era péssimo a organizar tarefas de produção em cinema, inclusive servir cafés. Ninguém me queria para trabalhar. Naquele momento, um colega da escola de cinema tinha um projeto para filmar em Macau e chamou-me para ser uma espécie de assistente de realização. Passei em Macau entre um e dois meses, e foi o primeiro contacto que tive com a Ásia. Lá, descobri que como em todos os lugares, não haver uma Macau, mas muitas Macaus diferentes, com circuitos distintos. Se elevarmos isto ao território asiático (e não filmei por toda a Ásia; filmei sete países), as diferenças são gigantescas. Dou sempre o exemplo da maneira como filmámos no Japão e como filmámos nas Filipinas. Nas Filipinas, o produtor local perguntou-me se conhecia o conceito de “shoot and run”, porque não se obtinham autorizações nenhumas, e é assim que muitos realizadores fazem filmes nas Filipinas, o que tem a ver com a cultura do país. No Japão, lembro-me da vez em que ia filmar num templo e cheguei ao parque de estacionamento, estava a nevar, vi qualquer coisa que me interessava e pedi para colocarem ali a câmara para filmar. O chefe de produção que nos acompanhava disse que não podia filmar o parque de estacionamento, porque não tinha sido isso o combinado. Por aqui se podem ver as diferenças culturais que existem na Ásia.
Em que circunstâncias descobriu o livro de viagens de Somerset Maugham The Gentleman in the Parlour, e o que resta dele no seu filme?
O livro está editado em português pela Tinta da China e tem por título Um Gentleman na Ásia. Relatos de viagens e de viajantes interessam-me enquanto género literário. Comprei o livro para lazer, numa altura em que estava prestes a casar-me com a Maureen. O livro é constituído por descrições de locais, de rituais, em alguns dos países onde estive, e inclui relatos do que o Somerset Maugham viu, mas também de encontros. O autor encontra alguém e descreve o que aconteceu ou uma história que lhe contaram. Às tantas há duas páginas em que diz que conheceu um britânico que estava em Mandalai, na Birmânia, que lhe contou a história do seu casamento, que é basicamente o ponto de partida deste filme. Ele tinha uma noiva inglesa em Londres com quem, por uma série de contratempos, nunca tinha casado. Então, ela apanha um barco e chega à Birmânia e ele entra em pânico e foge. E ela vai enviando telegramas para os locais por onde ele passa fugindo. Basicamente trata-se de uma anedota de duas páginas sobre homens e mulheres, e duvido mesmo da existência real desse indivíduo.

Quando anunciaram em Cannes a distinção que lhe coube de melhor realizador, chegou a pensar que poderia obter ainda o Grand Prix ou a Palma de Ouro, ou ficou inteiramente preenchido com a alegria do momento?
Fiquei mesmo muito contente com o prémio. É um prémio incrível ser reconhecido como melhor realizador no maior festival do mundo. Para além disso, sabia que não poderia receber mais nenhum prémio, porque segundo os regulamentos alguns prémios não são acumuláveis.
Quando se está num festival a promover um filme, que espaço há para ver outros filmes?
Depende do período em que fico no festival. Eu e a Filipa Reis, produtora deste filme e do próximo, decidimos ir o tempo todo e dedicar a primeira parte do festival a fazer encontros relativos ao filme seguinte [Selvajaria, adaptação do livro Os Sertões, do autor brasileiro Euclides da Cunha], o que me deixou algum espaço para ver filmes. Mas, a partir da véspera da estreia do Grand Tour não consegui ver absolutamente mais nada, porque estive a lidar com as entrevistas e tudo o que diz respeito à receção ao filme.
Edward, o diplomata protagonista em Grand Tour, escuta de um monge japonês a seguinte frase: “Abandone-se ao mundo Mr. Abbot, verá que será por ele recompensado.” A frase traduz de algum modo a sua prática do cinema?
O cinema faz-se com o imaginário e faz-se com o mundo. Uma coisa não exclui a outra. Por isso tanto me aborrecem os filmes da Marvel ou do Senhor dos Anéis, porque criam uma bolha onde não existe realidade, uma bolha de fantasia, como também me aborreço quando o cinema rejeita de forma férrea e dogmática qualquer janela para o mundo da imaginação. No caso do Grand Tour isso é levado a um extremo: existe nele um constante vai vem entre o real e o imaginário, sendo que o real por vezes parece mais fantasioso que a ficção.
Procurou jogar com o conceito de found footage no sentido de criar a sensação de que as imagens documentais pudessem pertencer ao tempo histórico do filme (os anos 1910) e ao que as personagens observaram em viagem?
Na larga maioria das imagens filmadas na Ásia , estamos no mesmo sítio em que se passa a ação do filme. Mas, num outro tempo, o de agora. Quando se utilizam imagens de arquivo elas servem para dar um contexto extraficcional daquele tempo. São imagens do passado. Aqui era inverter essa lógica e trabalhar com imagens do presente. A ficção passa-se num tempo e o que vemos são imagens do futuro. O filme é, simultaneamente, feito de descontinuidade e continuidade. Depende muito de cada espectador valorizar mais a continuidade ou a descontinuidade. Há pessoas que integram completamente na ficção as imagens que fizemos na Ásia, e outras que sentem a natureza diferente das imagens de estúdio e das imagens captadas no mundo real. A escolha do preto-e-branco em 16mm, que dá esse lado com mais grão, era uma forma de lidar com materiais tão distintos e criar uma maior homogeneidade. Os choques seriam muito mais violentos utilizando a cor.
Grand Tour conta a história de um homem em fuga da mulher com quem deveria casar. De que é que foge na rodagem de um filme? Da segurança e da rotina do previsível, do pré-estabelecido?
Num certo sentido estou a fugir do meu quotidiano. Começo a perceber, filme após filme, que fazer um filme é partir para outro sítio. A ideia do realizador que faz um filme em casa, como o Alain Cavalier, pode dar grandes resultados, mas não me parece que seja para mim. Preciso de partir à aventura. Não tenho problemas em filmar num território pequeno – no Diários de Otsoga estávamos fechados numa quinta, mas isso também era partir para outro sítio. No caso de Grand Tour isso é bastante assumido e radical. Não fui para tão longe e para tantos locais num só filme, sendo que paradoxalmente também estive confinado num estúdio. O estúdio é um sítio onde se recria o mundo, um mundo que não existe, mas eu precisava de fazer a viagem e de estar presente naqueles lugares.

Os cineastas de que se sente mais próximo coincidem com os filmes de que mais gosta? Pode dar-nos exemplos desta convergência ou divergência?
Se gosto dos filmes é porque me sinto próximo do olhar do realizador. Para mim não há distinção. Aquilo que vejo num filme tem uma relação com o olhar de alguém, com o seu pensamento artístico, cinematográfico…
A última questão está reservada para o que quiser lembrar do crítico e programador Augusto M. Seabra recentemente desaparecido.
O Augusto foi uma figura central da crítica e da cinefilia em Portugal. Teve o grande mérito de se interessar por um cinema contemporâneo, numa altura em que as coisas não eram tão divulgadas por cá. Foi sempre um interlocutor contemporâneo desse cinema. O exemplo máximo será o cinema asiático dos anos 1980. Era alguém muito curioso. Chegámos a trabalhar juntos no [semanário] Já onde nos conhecemos um pouco melhor. Tinha um temperamento bem específico e havia períodos em que eu, e muita gente que conheço, ficávamos distantes. Os períodos de reaproximação eram um clássico nas relações do Augusto Seabra. Penso que se perdeu um dos melhores pensadores de cinema que viveram em Portugal.
O desafio de encenar Telhados de Vidro (Skylight, no original) partiu de Diogo Infante que, enquanto diretor artístico do Teatro da Trindade INATEL, “enviou vários textos” a Marco Medeiros no sentido de ambos avançarem com um novo projeto criativo, depois de colaborações bem sucedidas em Ricardo III e O diário de Anne Frank.
“Entre eles estava a peça de David Hare, na qual, quando a li, não me revi”, confessa o encenador. Contudo, numa segunda leitura, Medeiros percebeu haver ali “muita coisa” que lhe interessava, “muita matéria que importa debater na sociedade”, ou não fosse a peça “sobre a essência humana”, e não só sobre a relação amorosa tumultuosa entre um homem e uma mulher.
Embora escrita em 1995, ainda na ressaca da longa vigência de Margaret Thatcher enquanto primeira ministra britânica, Telhados de Vidro mantém-se uma peça extremamente atual, mesmo quando assume um traço mais politizado. Porque, para além de não corresponder às convenções do drama romântico ao qual o grande público está habituado, o texto de Hare transforma o reencontro entre os dois amantes numa batalha ideológica entre o pragmatismo e a frieza liberal do empresário bem-sucedido e a sensibilidade social de uma professora destacada numa escola dos arrabaldes da grande cidade.
Uma reflexão sobre a culpa
“Ao fugir a códigos, barreiras e regras estabelecidas”, a peça de Hare vai revelando camadas que subtilmente se vão destapando. E é nesta complexidade do relacionamento entre dois amantes que o autor acaba por propor uma grande reflexão sobre a expiação da culpa.
Telhados de Vidro passa-se ao longo de uma noite, no apartamento suburbano e mal aquecido de Clara (Benedita Pereira). Ali, a professora começa por receber a visita inesperada de Eduardo (Tomás Taborda), o filho adolescente de Tomás (Diogo Infante), um importante empresário da restauração para quem Clara trabalhou no passado e, ir-se-á revelar um pouco mais tarde, com quem manteve uma intensa relação amorosa.
A visita do jovem mostra, porém, uma forte cumplicidade entre ambos, uma vez que Clara foi, durante anos, aperfilhada pela família, uma cuidadora de Eduardo enquanto criança e uma amiga de Alice, a mulher de Tomás. Desvenda-se, portanto, a rutura com Tomás causada pelo sentimento insustentável de culpa que se abate, a dado momento, sobre Clara.
Depois de Eduardo a deixar e ter anunciado que a mãe falecera há mais de um ano com uma doença oncológica, a professora é de novo surpreendida, desta vez pela visita de Tomás. O reencontro do qual tanto fugiu está prestes a acontecer e a mostrar como nunca é fácil lidar com as pontas mal resolvidas do passado.

Entre o confronto e a inevitabilidade do amor e do desejo, este reencontro coloca-os perante o modo como cada um lidou com a culpa. O aparentemente intocável Tomás submerso na mais profunda das infelicidades e Clara entregue a uma vida quase sacrificial, onde se trocou o conforto do privilégio por uma existência quase ascetista.
Com tradução de Ana Sampaio e a participação em cena do pianista Jorge A. Silva, Telhados de Vidro estreia a 12 de setembro, e permanece em cena até 17 de novembro na Sala Carmen Dolores do Teatro da Trindade.
Evan Hansen está a terminar o secundário e não tem um único amigo. A sua existência resume-se ao quarto sombrio, onde passa as horas no computador ensaiando cartas para o próprio, conforme prescrição do psiquiatra que a mãe lhe arranjou.
Um dia, na escola, é abordado por Connor, um rapaz problemático, particularmente violento, que se apropria de uma dessas cartas iniciada por “querido Evan Hansen”. Para sua surpresa, poucos dias depois, o sempre ansioso Evan recebe a notícia de que Connor se suicidou, tendo o corpo sido encontrado com a carta, imediatamente atribuída ao próprio.
Enredado na sua timidez e incapacidade de esclarecer a situação, Evan passa a ser olhado pela família do rapaz que se suicidou e pelos colegas de escola como o melhor e único amigo de Connor. Perante um súbito e surpreendente protagonismo decorrente da tragédia, o rapaz acaba por se reinventar, encarnar o papel e passar a viver uma nova vida, juntando à popularidade jamais sonhada uma nova família e uma namorada.
Mais do que um musical adolescente, Querido Evan Hansen transformou-se num fenómeno teatral intergeracional que tem conquistado plateias por todo o mundo desde a estreia na Broadway, em meados da década passada. Escrito por Steven Levenson, com letras e canções da dupla Benj Pasek e Justin Paul, responsável por sucessos como La La Land e The Greatest Showman, a peça marca o regresso ao teatro musical do ator e encenador Rui Melo, depois do grande sucesso de Avenida Q, que dirigiu entre 2017 e 2020.
Conta Rui Melo que a vontade de adaptar e dirigir Querido Evan Hansen não surgiu propriamente por “ser um grande fã de musicais” – aliás, “não sou”, confessa –, mas sim pela panóplia de temas contidos na peça, como “a ansiedade e a depressão, o suicídio na adolescência, o isolamento e a solidão em que vivemos todos nós, e não só os jovens. E, enquanto pai, identifico-me muito com uma das primeiras canções”, em que as mães de Evan e de Connor lamentam não ter “um livro de instruções que as possa guiar” nesta “coisa tão difícil de se ser pai ou mãe.”
A vivência juvenil no ambiente escolar e nas redes sociais (que aqui vão ser determinantes no desenrolar da ação) aliada às questões adultas da paternidade são tratadas na peça com um justo equilíbrio entre a comédia e o drama, entre a luz e as sombras. Para isso, Rui Melo quis que a versão portuguesa se distanciasse daquele “brilho, cor e movimento” a que associamos, normalmente, o teatro musical, optando por um tom mais grave e sombrio, muito minimal, que sublinha as emoções e os conflitos e contradições das várias personagens.
“A versão que vi em Londres era absolutamente convencional”, conta o encenador. “Na minha perspetiva, este texto pedia outra coisa. Não quis que os artifícios se sobrepusessem ao texto e à sua urgência, nem ao trabalho dos atores.”
Protagonizado por João Sá Coelho, que estuda teatro musical em Barcelona, e que chegou ao espetáculo por via de uma audição “surpreendente e arrebatadora”, Querido Evan Hansen conta ainda com interpretações dos “veteranos” Sílvia Filipe, Gabriela Barros e Miguel Raposo, e dos jovens Brienne Keller, Dany Duarte, Inês Pires Tavares e João Maria Cardoso. A direção musical é de Artur Guimarães e, para além do próprio, nas teclas, a música ao vivo é interpretada por Tom Neiva (bateria), André Galvão (baixo), Marcelo Cantarinhas (guitarra), João Valpaços (violoncelo) e Inês Nunes (viola de arco).
Com estreia marcada para 11 de setembro no Teatro Maria Matos, esta é a última grande produção deste ano de 2024 com a assinatura da Força de Produção.
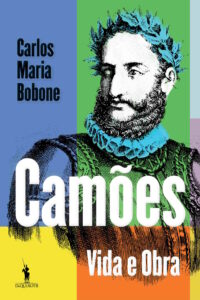
Carlos Maria Bobone
Camões – Vida e Obra
“Camões encheu de si próprio a História do seu tempo”, escreve Carlos Maria Bobone. Contudo, o autor depara-se com o facto de que “há (…) muito poucas fontes sobre Camões. As referências coevas de Camões são escassíssimas”. Por isso, este livro não será “certamente uma biografia e só num sentido muito lato poderá ser considerado um trabalho de critica literária. Haverá alturas em que se aproximará da História das mentalidades, outras em que se assemelhará a um estudo psicológico e outras em que o foco estará na beleza a que só com grande cinismo poderíamos retirar valor como ideia independente, de um verso ou de uma passagem”. A obra, exigente e de grande erudição, não pretende “acrescentar nada sobre Camões”. Pretende “purgá-lo, mostrar os acrescentos, as especulações que os entusiasmos naturalmente suscitam,” para que se possa fazer justiça quer à crítica capaz de “vislumbrar em Camões os esteios para mil e um desenvolvimentos do pensamento, da arte e da cultura, quer aos poemas de Camões, postos apenas como aquilo que são: não códigos biográficos, não intrigas palacianas, não manifestações políticas, apenas poemas, belíssimos poemas”. Porque, “ler Camões é ler o mundo, não só o que ele observou, mas o que nasceu depois dele, e por causa dele.” Dom Quixote

Luigi Pirandello
O Falecido Mattia Pascal
A obra dramática de Luigi Pirandello (1867/1936), Prémio Nobel de Literatura de 1934, questiona a identidade individual, dilui a distinção entre ator e personagem, teatro e realidade, forma e conteúdo, e antecipa o teatro do absurdo de Ionesco, Beckett e outros. Para além disso, expõe a ideia paradoxal de que o ser humano só se revela verdadeiramente quando usa uma máscara ou adota um papel. O seu terceiro romance, O Falecido Mattia Pascal, de 1904, marca uma rutura com o realismo dos seus trabalhos iniciais e traz-lhe a consagração crítica. Narra, com considerável dose de humor negro, a história de um homem que regressa a casa depois de, supostamente, se ter suicidado e que não consegue convencer a família de que está vivo. Mattia encontra-se, assim, nas suas próprias palavras, “Morto? Pior do que morto: (…) os mortos já não têm que morrer, mas eu sim, eu ainda estou vivo para a morte e morto para a vida”. A exploração do tema da identidade e a bizarria das suas premissas antecipam muitas das ideias posteriormente desenvolvidas no seu teatro. Relógio D’Água
Francisco Valente
Espelho Mágico – uma história do cinema
Todo o cinéfilo tem a sua história do/com o cinema, mas poucos são os que mostram disciplina, método e persistência necessários para discorrer sobre ela ao longo de 628 páginas. Há uns anos a residir em Nova Iorque, onde integra o departamento de cinema do Museu de Arte Moderna (MoMA), Francisco Valente lançou-se nesta viagem introspetiva, que visita todos os continentes e décadas aonde o cinema deixou obra, e organizou o itinerário ao sabor de uma cronologia interrompida sempre que lhe parecesse oportuno aproximar filmes de épocas diferentes, também porque o livro obedece a uma organização de certo modo temática. O espaço que Valente dedica a cada filme não excede o curto número de parágrafos, lançando-nos ideias, leituras, interpretações que na simbologia da viagem de comboio que o autor propõe, são como paragens breves numa estação em que por instantes nos é permitido fixarmo-nos sobre o cenário enquadrado por uma janela, conduzidos pelo olhar que o autor dirige a cada filme em particular, e são centenas de apeadeiros aqueles em que nos fixa a leitura. Não é propriamente uma história para iniciados, mas até para esses a curiosidade será recompensada. E, pretexto para que sozinhos façam a sua própria viagem. [Ricardo Gross] Orfeu Negro
James Baldwin
Notas de um Filho da Terra
James Baldwin (1924-1987) nasceu no Harlem, onde cresceu e estudou. Em 1948, partiu para França, fugindo ao racismo e homofobia dos Estado Unidos da América: “Acabei nas ruas de Paris, com quarenta dólares no bolso, mas com a convicção de que nada de pior me podia acontecer do que já me tinha acontecido no meu país”. Romancista, ensaísta, poeta e ativista dos direitos civis, foi, com Gore Vidal, um dos mais lúcidos espíritos críticos que a América produziu no século XX e um dos seus maiores intérpretes. Em 1954, Baldwin regressa inesperadamente ao seu país natal (“Não encontro nenhuma razão objetiva para o meu regresso à América naquele momento – e não estou seguro de conseguir encontrar também uma subjetiva.”). Aí, o editor Sol Stein propõe-lhe a edição de um livro, que viria a intitular-se Notas de um Filho da Terra, composto por dez ensaios de teor memorialístico. Estes textos, produzidos no alvor do movimento dos direitos civis, promovem uma profunda reflexão sobre a negritude e antecipam, de forma quase profética, as intensas transformações sociais que ocorreriam nos EUA, na segunda metade do século XX. Simultaneamente, formam um retrato genuíno e intenso de um autor em busca da sua identidade e liberdade enquanto artista, negro, homossexual e americano. Alfaguara
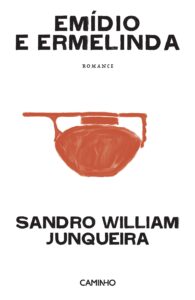
Sandro William Junqueira
Emídio e Ermelinda
Escreve Sandro William Junqueira, no romance A Sangrada Família: “A família é um lugar perigoso. Uma ode à carnificina. Uma matilha que se come a si mesma”. Emídio e Ermelinda narra a história da sua própria família, centrada na relação dos seus avós. Apesar de configurar “uma história que partiu vidas em pedaços”, não reproduz o mesmo olhar impiedoso sobre a instituição familiar, situando-se algures entre a ternura e a mágoa. Emídio foi um D. Juan, um artista, um demónio, um intrujão em fuga permanente. Ermelinda “amou aquele homem de tal maneira que não poderia amar mais”. Esta obra tocante é também uma reflexão sobre a memória: “A memória é um lugar estranho. Muitas vezes dá ares de que está organizada, de que se sabe organizar, como uma competente bibliotecária. (…) Só que não. A minha memória trabalha a galope. Tem vontade própria. Não obedece a rédeas nem a toques no lombo”. E uma interrogação constante sobre a relação entre realidade e ficção: “Talvez seja escritor por causa do meu avô. E insisto neste pouco credível trabalho de tentar contar a grande mentira da melhor maneira possível até que esta se torna na mais bela das verdades.” Caminho

Samuel Johnson
Ensaios sobre a Virtude e a Felicidade
Samuel Johnson (1709-1784) é considerado uma das figuras mais relevantes da literatura inglesa do século XVIII. A sua reputação ficou a dever-se aos ensaios morais e filosóficos publicados no The Rambler, a que se seguiram as sátiras constantes no The Idler que parodiavam tudo e todos, da política ao casamento, até à obsessão dos ingleses com o estado do tempo. A Dictionary of English Language, publicado em 1755, o seu feito literário mais importante e exigente, levou nove anos a completar. A ideia de compilar uma coleção de todas as palavras da língua inglesa não era novidade, porém a obra de Johnson não tem paralelo na profundidade e rigor da pesquisa, na abrangência e no uso de citações de outros autores para ilustrar o sentido dos diferentes vocábulos. Nesta obra monumental, o autor fez jus ao seu próprio aforismo: “O que é escrito sem esforço, em geral é lido sem prazer”. A maior parte dos textos reunidos na presente antologia tem origem nos periódicos The Rambler (1750-52), The Adventurer (1753–54) e The Idler (1758-60), selecionados segundo um critério temático: de um modo ou de outro, todos eles dizem respeito à virtude ou à felicidade. No seu conjunto, atestam um poder de observação da vida humana raras vezes igualado. E-Primatur
Cristina Pratas Cruzeiro
Atitude 74 – Pichagem e Pintura Mural na Revolução de Abril
Investigadora auxiliar no Instituto de História de Arte/NOVA FCSH, Cristina Pratas Cruzeiro começou a desenvolver o trabalho agora editado na sequência do projeto de pós-doutoramento que desenvolveu entre 2017 e 2022. Durante a investigação, a autora percebeu “que o período revolucionário português, em matéria de dinâmicas artísticas, permanecia com territórios extensos por aprofundar”, nomeadamente quanto à “massiva intervenção visual no espaço público”, ou seja, as pichagens e os murais que pontuaram cidades e lugares durante o período revolucionário. Nesta obra, propõe-se um enquadramento que indague sobre “especificidades, modos de produção e objetivos, que identifique características, performatividades e aspetos respeitantes à sua inscrição na memória coletiva do país”, indo além da perspetiva limitativa que encara a pichagem e o muralismo como “um reduto de uma visualidade de uma comunicação política”. Ao longo do livro, a investigadora procura, isso sim, enquadrar esta forma de ativismo – “um ativismo artístico”, como o nomeia – como expressão criativa de centenas de artistas, “cidadãos militantes”, que enquadrados em organizações partidárias, cívicas ou até de forma independente, decidiram “inserir-se no tecido social e ajudar a construir o país novo”, como escreveu Rui Mário Gonçalves. [Frederico Bernardino] Página A Página
Stênio Gardel
A Palavra que Resta
Nascido e criado na roça, Raimundo Gaudêncio de Freitas cedo começou a ajudar o progenitor, cujas pegadas devia ter seguido: ser pai de família e dono de um pedaço de terra. Porém, Raimundo gostava de homens e, ainda jovem, teve um caso amoroso com Cícero, seu amigo de infância. Este envolvimento será a “paisagem que desperta num pássaro preso o desejo de voar”. Depois de dois anos dum relacionamento às escondidas de todos, o pai de Cícero encontra-os. Uma descoberta marcada pela vergonha, pela violência e pela intolerância, que leva ao afastamento dos dois. A pedido da sua mãe que, entretanto, o culpa pelo mal que trouxe à família, Raimundo parte, levando consigo uma carta que Cícero lhe escreveu. Mas Raimundo não sabe ler e não quer que ninguém leia a sua carta. Mais de 50 anos se passam, Raimundo torna-se costureiro e partilha a casa com Suzzanný, um travesti que em tempos agrediu, tal como o pai tinha feito consigo, com medo do que as pessoas poderiam falar sobre ele. É só aos 71 anos que Raimundo decide aprender a ler para descobrir o teor da carta que separava e ligava a vida dos dois. Vencedor do National Book Award para a melhor obra traduzida de literatura, A Palavra que Resta é o romance de estreia do escritor brasileiro Stênio Gardel. [Sara Simões] D. Quixote
A reposição de Blackface deve-se ao êxito das anteriores apresentações. Introduziu alterações ou respeitou a máxima de em espetáculo de sucesso não se mexe?
Fiquei surpreendido com o bom feedback que o espetáculo teve, o que me fez deixar de lado todas as possíveis inseguranças sobre se estaria ou não finalizado. As pequenas alterações que introduzo decorrem do sítio aonde eu estiver a fazer o espetáculo. Em Guimarães houve imagens que alterei para que se adequasse mais ao contexto da cidade (no caso, associado a uma claque de futebol).
Quem são os substitutos na atualidade da prática do “blackface” e do que esta representa?
Qualquer representação caricatural de uma cultura, ou de uma etnia, corre o risco de ser ofensiva. Às vezes não é por existir “blackface” (a pessoa pintar o rosto de preto) que passa a ser mais ofensivo. É ofensivo quando alguém veste uma roupa e faz um sotaque. Ou veste uma peruca e diz ser uma mãe africana que se dirige à escola para bater nos filhos. Estes estereótipos existem na cabeça de muitas pessoas. Mesmo que nessas representações não se note nada de muito grave, é possível perceber na intenção das pessoas que existe o gozo da caricatura.
As fotos de promoção, em que surge pintado de azul e coberto de purpurinas, que significado têm para si?
Se essas imagens podem lembrar a algumas pessoas os seres do filme Avatar (2009), de James Cameron, a mim remetem-me para o génio da lâmpada interpretado pelo Will Smith no Alladin, que tem quatro ou cinco anos. Mas sobretudo para aquela mítica frase que as pessoas usam para se defenderem no seu antirracismo, dizendo que têm amigos de várias cores: amigos brancos, negros, amarelos, azuis… Na mesma frase elencam tons de pele que existem e não existem. São amigas de pessoas reais e imaginárias. A ideia original era estar pintado de várias cores, mas optei somente pelo azul pelo poder de gerar curiosidade. Isto serve igualmente um momento de redenção no espetáculo, em que se assiste em vídeo a essa tinta ser removida da pele com água.

Existe um estereótipo promovido pelo cinema de Hollywood que é a figura do “negro mágico”, o coadjuvante que vem em auxílio do protagonista branco. Este tema interessa-o ao ponto de poder pegar nele numa futura criação?
Uma coisa em que reparo muito quando estou a ver filmes, não só americanos, mas também portugueses, é a forma como aparecem as pessoas negras. Tenho sempre esta espécie de radar ligado e embora atualmente seja maior a probabilidade de vermos atores negros em papéis de relevo ou mesmo papéis principais, isto acontece mais fora de Portugal do que cá. Nós nem tivemos sequer abertura para que surgisse a figura do “negro mágico” ou mesmo não mágico, não havendo espaço para a crítica, dado que personagens negras no audiovisual português são inexistentes. Existem atores cheios de talento e vontade de trabalhar, mas não os vemos surgir.
As ferramentas a usar no combate ao humor alarve podem ser igualmente eficazes contra os discursos de ódio?
Acho que é mais ou menos isso que tento fazer neste espetáculo, servindo-me da questão do humor étnico ou humor racial e do quão perigoso pode ser no perpetuar de estereótipos, de ideias únicas sobre uma determinada comunidade, cultura ou etnia. Tento inverter o objeto dessas piadas. Colocando as pessoas brancas nesse lugar. Tento brincar com isso e explorar os níveis de perigo que existem, o mais longe que posso ir, ao colocar pessoas brancas numa gaveta única. Como se todas elas fossem iguais, algo que é bastante comum no humor de pessoas brancas sobre pessoas negras, asiáticas, etc. Acredito que o humor pode servir para combater os lugares-comuns que se formam numa sociedade tendencialmente racista, conservadora e luso-tropicalista. Mas o humor não resolve. Os problemas estruturais continuam.
A questão da discriminação positiva também está presente neste espetáculo? Nomeadamente a hipocrisia de quem se cola à representação de causas e minorias com o intuito de obter subsídios ou outros apoios?
Essa nova alínea nos concursos da DGArtes, um convite a que as pessoas contemplassem ou considerassem ter afrodescendentes nas equipas, preocupou muitas pessoas. E não de uma forma preconceituosa. Era mais numa lógica de “espera aí, eu não conheço ninguém”, e o meu pensamento nessa altura foi que a iniciativa da DGArtes funcionava para que se procurassem estas pessoas que estão dispostas e prontas a trabalhar. Muitas pessoas não conhecendo profissionais negros da área, procuraram obter referências ou recomendações apenas e só para o efeito da candidatura; não para que estas pessoas entrassem nos projetos ou que estes fossem sobre questões raciais ou de discriminação. Isto levanta algumas questões.
Já teve espectadores a saírem a meio do espetáculo? Lida bem com a situação?
Este espetáculo teve cinco apresentações, contando com a antestreia. Não me lembro de que alguém tenha saído. Caso venha a acontecer lido bastante bem com isso porque não parto do princípio de que a pessoa possa sair por não estar a gostar. Os espectadores são livres de sair, sejam essas saídas mais discretas ou notórias. Respeito muito a liberdade dos espectadores. Tenho tido a oportunidade de fazer outros espetáculos fora de Portugal, em França, Bélgica, Itália, onde não existe qualquer pudor em sair da sala quando aquilo a que assistimos não nos enche as medidas.
É importante terminar cada atuação com uma nota mais positiva, ou prefere que o público saia a processar os estímulos a que esteve sujeito?
Interessa-me que as pessoas saiam estimuladas e com a sensação de que assistiram a um objeto que também pretende ser entretenimento. Acredito muito na qualidade do teatro enquanto puro entretenimento, embora as coisas que eu faço, que escrevo e penso para a cena nunca sirvam exclusivamente esse propósito. Não sou ninguém para ter a pretensão de que vou ensinar às pessoas o que é o “blackface”, onde começou e tudo mais, e a última coisa que quero é que elas saiam do espetáculo sentindo-se culpadas. Eu próprio aprendi muito no processo de pesquisa do espetáculo; sou de certa forma eu ali a rir-me da minha ignorância sobre o tema, enquanto estou a abrir espaço a que as pessoas se riam de uma falta de conhecimento que é coletiva.

Com que tipo de manifestações de racismo mais se confronta no quotidiano?
Pensa-se muitas vezes que os episódios de racismo que as pessoas sofrem passam por frases como “ó preto vai para a tua terra”. Nunca testemunhei esta frase a ser dita. Sei que existe e que aparece quando a discussão já escalou do sítio que conheço melhor que é o das micro-agressões. As que provêm de um sítio benevolente, até carinhoso, de uma ingenuidade que as pessoas manifestam quando falam, acerca do tom de pele ou do cabelo de alguém, ou do sotaque. Perguntam-me muitas vezes de onde sou, e respondo por que sentem necessidade de saber de onde sou. Ou de onde virá a necessidade de alguém de tocar no meu cabelo. É fácil sentir-me observado nessas situações. É este o racismo mais importante de desconstruir no nosso território, o racismo sem maldade.
No filme Não Dês Bronca (1989), de Spike Lee, durante uma discussão entre afro e italo-americanos, um dos irmãos brancos reconhece que entre os seus ídolos estão Prince e Michael Jordan. O Marco tem ídolos de raça branca?
Tenho muitos ídolos de raça branca. Uma das grandes referências para a criação deste espetáculo foi o Bo Burnham, um humorista de stand-up da minha idade que começou como youtuber aos 16 anos, que mostra um pensamento progressista e autocrítico relativamente às questões de estereotipar as pessoas de etnia diferente; e que a partir de um lugar de privilégio, assume e desconstrói essa condição com humor. Na música tenho o Eminem, um dos meus ídolos na adolescência. E atores, como o Daniel Day-Lewis e o Joaquin Phoenix.
Os seus primeiros trabalhos como profissional aconteceram ainda durante a licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema ou depois? Que circunstâncias levaram a essa passagem?
Tive a sorte de conhecer pessoas na Escola com quem me dei muito bem; com quem criei antes de uma relação profissional uma relação de amizade, alunos que estavam mais avançados na licenciatura e que já trabalhavam. Casos do João Pedro Mamede e do Nuno Gonçalo Rodrigues, que na altura estavam a formar a companhia Os Possessos, e que me convidaram para o primeiro grande espetáculo deles, a Rapsódia Batman. O espetáculo fez-me pensar que era realmente aquilo o que queria fazer o resto da vida; e marcou também a minha entrada no meio profissional, tendo sido apresentado no Teatro da Politécnica, que neste momento passará a ser somente um teatro na memória das pessoas. Infelizmente.
O Queer celebra 28 anos e muito mudou desde então, nomeadamente as questões queer estarem presentes em quase todos os festivais de cinema. Qual o impacto desta nova realidade na produção e programação do festival?
Acima de tudo, limita as opções. Há muitos distribuidores que não querem que um filme, mesmo sendo queer, seja exibido num festival queer. Acham que isso marca o filme e acreditam que de alguma forma pode prejudicar o seu percurso. A importância de haver um festival queer prende-se com a forma como nós olhamos para este cinema, o único a que estamos totalmente dedicados. Há por isso, obviamente, uma componente política e social, um olhar que é completamente diferente. É verdade que a questão queer e os objetos culturais que a ela estão ligados e que são disseminados, não só noutros festivais mas também na televisão, têm uma qualidade e um cuidado cada vez maior, mas isso, para mim, reforça ainda mais a nossa importância enquanto festival. Porque, muitas vezes, o que acontece nos outros festivais e nas plataformas que programam também estes objetos culturais é que o fazem mais por uma questão de moda, para não ficarem de fora das questões de que se fala atualmente. No festival Queer há um pensamento mais profundo e um engajamento diferente.
Considera que faz sentido dizer-se que existe cinema/género queer?
O que o cinema queer tem de particular é o facto de se cruzar com todos os géneros cinematográficos, e isso é uma enorme riqueza. Quando olhamos para a história do cinema, desde a sua origem, conseguimos apontar estas questões. Nessa altura, não podemos falar num cinema queer em termos políticos, porque a motivação e também a liberdade que existiam eram muito diferentes. Mas faz sentido perceber a intenção com que se parte para fazer um filme e essa intenção, quando lá está, faz desse filme, um filme queer. Aí podemos falar do cinema queer enquanto género. Depois há também, obviamente, todo um trabalho de leitura, principalmente quando olhamos para a história do cinema e para os grandes clássicos, que é um trabalho que também temos vindo a fazer ao longo destes quase 30 anos: olhar e ver como é que estas questões estavam ali representadas. Questões que, muitas vezes, para o público da altura não eram óbvias, ou só o eram para um público queer que compreendia aqueles sinais. Esse cinema acabou por ser uma forma de resistência.
A temática deste ano é, precisamente, a Resistência Queer, com a apresentação de filmes e produções de partes do globo em conflito ou onde os direitos LGBTQI+ são ameaçados. Podemos afirmar que o Festival de Cinema Queer tem sido, ao longo de todos estes anos, uma forma de resistência?
Arrisco dizer que qualquer evento cultural deste país é sempre um ato de resistência. E, quando ligado às questões queer ainda mais. Há uma coisa muito curiosa no nosso festival, é que somos o primeiro festival de cinema em Lisboa. E isto é muito raro acontecer, uma capital ter como primeiro festival de cinema, um de cinema Gay e Lésbico. No início houve um acolhimento grande das instituições porque havia uma enorme curiosidade. Que festival é este? Que cinema é este? Quem são estas pessoas? Havia essa curiosidade, até mediática, de descobrir quem é vai ao festival. Depois obviamente atravessámos também uma série de questões políticas, de cortes de subsídios, quer da parte de governos ou da Câmara de Lisboa, e nesse aspeto há sempre um trabalho de resistência. Atravessámos também uma série de lutas políticas da comunidade LGBTQI+, vivemos isso tudo e foram sempre momentos de luta que tentámos incorporar no festival. Quisemos que o festival fosse uma voz para essas lutas, refletindo isso no próprio cinema que escolhíamos exibir.

Dentro deste eixo temático é exibido o programa Foggy: Palestine Solidarity, Cinema & The Archive, uma iniciativa das plataformas Cinema Política e Queer Cinema for Palestine. De que forma a solidariedade para com a situação dramática na Palestina se relaciona com a temática queer?
Há pouco falava da questão do olhar queer. O olhar queer tem uma componente comunitária e uma componente, muito forte, ligada aos direitos humanos. Nesse aspeto, o programa Resistência Queer que apresentamos é muito importante porque oferece uma visão não só sobre a questão da Palestina, mas também sobre outros países e zonas de conflito. Procuramos perceber como é que é possível viver e criar neste ambiente. Vamos falar, obviamente, sobre a Ucrânia e sobre a extrema-direita, mais precisamente no caso da Hungria. Também sobre outros casos de países divididos, como o Kosovo e a questão com a Sérvia. O objetivo é tentar compreender, em primeiro lugar, como é que os artistas, preferencialmente destes países, olham para os conflitos e como é que isso se reflete na sua vivência pessoal e também na criação artística.
Há ainda um programa de curtas dedicadas à realidade queer na Ucrânia e a exibição de longas-metragens de Chipre e Hungria. Quais os desafios de trazer ao festival obras que têm origem em países onde há conflito e discriminação de pessoas LGBTQI+?
Na Ucrânia, é relativamente fácil chegar aos filmes, a comunicação é fácil, são realizadores e realizadoras que circulam e que vão aos festivais, que apesar de tudo, conseguem ter essa visibilidade. Os filmes que vamos apresentar são, na maioria, feitos debaixo do conflito, focam o que se está a passar lá neste momento. Se falarmos de países como a Hungria, também se fazem filmes queer, o problema muitas vezes é a visibilidade. São filmes que precisam dos outros países, que precisam de circular para terem visibilidade. Porque, obviamente, há uma enorme censura no país e há um problema de financiamento que impede a produção. Este programa que o festival apresenta é muito engraçado, porque é um programa de um cinema que podemos definir como “faça você mesmo”, ou seja, de filmes que se conseguem fazer com meios muito escassos.
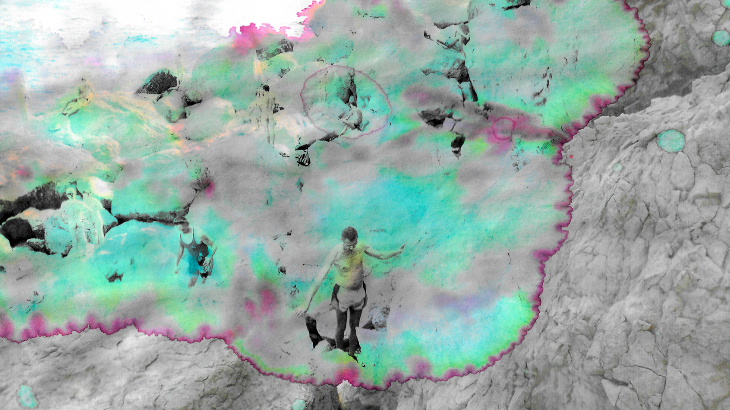
Para além deste lado político, que novidades ou momentos destaca da programação?
Esta vai ser uma das maiores edições destes últimos anos. Vamos ter, para além deste programa da Resistência Queer, uma retrospetiva muito extensa do William E. Jones, que é um realizador e artista plástico norte-americano, de Los Angeles. É um realizador muito interessante que vai buscar uma série de estéticas, que nos são até bastante familiares, do leste europeu. Trabalha essencialmente com arquivo e utiliza arquivos de vigilância policial dos anos 1950, de propaganda norte-americana, mas também de propaganda do bloco soviético europeu. Outros dos seus focos é a pornografia, a pornografia pré-SIDA nos Estados Unidos e a pornografia depois da queda do muro de Berlim. Mistura todos estes elementos e dá-lhes uma leitura queer. É um cineasta absolutamente fascinante.
Vamos ter uma programação paralela que vai dar também lugar a alguns debates sobre as questões de género, que estiveram tão em voga ultimamente por causa da publicação de um livro, de pessoas ligadas à direita e à extrema-direita. Vamos falar sobre questões muito específicas ligadas à gentrificação, problema que neste momento se vive em Lisboa e nas nossas cidades, e perceber como isso afeta e como está a destruir as próprias comunidades. Vamos ter, na abertura, um filme de Cannes [Baby, do cineasta brasileiro Marcelo Caetano]… Aliás, temos vários títulos que conseguimos do último festival de Cannes, e vamos ter um filme que vai ser uma surpresa para muita gente, um filme incrível, chamado Call Me Agnes, uma produção holandesa, cuja protagonista é uma mulher trans de origem timorense e que será um excelente fecho de programação.

O público do festival é um público heterogéneo? Tem mudado ao longo dos anos?
Desde o início que o festival sempre teve um lado muito heterogéneo. Quando nasceu estava integrado na associação ILGA e, obviamente, havia uma componente comunitária grande e uma participação da comunidade, mas estamos a falar de 1997, uma realidade completamente diferente da que vivemos hoje, mesmo em termos associativos. Agora há dezenas de associações ligadas a diferentes expressões e que lutam pelos seus direitos, pelas suas expressões individuais e do grupo. Claro que o público foi mudando ao longo dos anos, porque o cinema também foi mudando. Neste momento temos acesso e temos um tipo de programação completamente diferente da que tínhamos há três anos. Temos muito pouca programação comercial, porque o que se faz em termos de cinema queer mais comercial são filmes que vão sobretudo para as plataformas, ou seja, que não chegam sequer ou fazem muito pouco circuito de festival. Mas temos um leque de escolha enorme e o festival, progressivamente, foi-se voltando muito mais para o cinema independente, para um cinema mais marginal, embora também trabalhemos esse outro cinema, porque há coisas de muita qualidade e pertinência. Tentamos que o festival abarque tudo isso. Mas sim, diria que o público sempre foi um público muito heterogéneo. A certa altura, talvez há uns 10 anos, começa a haver um público muito jovem. Isto tem a ver um bocadinho com a sociedade e com o público universitário, um público que começa a formar as tais associações e que começa a ter outro tipo de vida política e de ação cívica.
Não é fácil a uma mulher de origem modesta, sem lastro familiar na profissão, vingar no mundo da advocacia e destacar-se entre pares que ostentam apelidos com notoriedade na praça. Teresa Correia conseguiu-o a pulso, com uma invulgar capacidade de trabalho e especial mérito. E até com uma polémica dose de amoralidade, uma vez que, segundo ela, não cabe ao advogado lutar pela verdade, mas proporcionar a melhor defesa, mesmo que o cliente esteja a ser levado à justiça pelos piores motivos.
Imbatível nas barras de tribunal, interpretando o sistema judicial como um jogo onde só os mais astutos podem vingar, Teresa age em nome do direito universal à defesa, ostentando que a regra de ouro da sua profissão é a mesma que a de um motorista de táxi: aceitar seja qual for a “corrida” e não escolher o cliente.
Assim, nunca se deixa envolver emocionalmente e tem sempre presente a máxima de que o “bom advogado se limita a contar a melhor versão da história do seu cliente. Nem mais, nem menos”. Mesmo quando uma testemunha, mulher como ela, a olha nos olhos e lhe transmite a possibilidade de algum dia poder ser ela mesma a vítima, a mais do que promissora advogada não vacila.
Até ao dia em que um acontecimento terrível põe em causa todas as crenças e o modo como, até aí, Teresa encara o sistema. Agora, o jogo que tantas vezes jogou corre contra si.
Multipremiada, grande sucesso de público e de crítica, À primeira vista é a peça-sensação que consagrou a dramaturga (e advogada) australiana Suzie Miller. Da estreia em Sidney, em 2019, ao triunfo no West End e na Broadway nos últimos anos (que valeu à atriz Jodie Comer, da série Killing Eve, o Tony Award para melhor atriz em 2023), Margarida Vila-Nova descobriu a peça através de uma amiga, psicóloga, e, “em conversas”, achou-a tão pertinente que acabaram por ir a Londres ver o espetáculo.
Muito mais do que um thriller jurídico
“Era um texto não só desafiante, como inquietante pelo tema: o abuso sexual e a violência sobre as mulheres, a justiça que reflete a sociedade patriarcal, com uma visão machista e misógina”, sublinha a atriz após o notável tour de force que é vestir a pele de Teresa, ou Tessa Ensler, no original. “Penso sempre numa atleta de alta competição. É um papel muito intenso, que exige uma total disponibilidade e entrega física e emocional”. Para o ensaio a que assistimos, conta a atriz, “foram precisas mais de três horas de preparação”.
Embora a vontade de fazer a peça tenha ficado “em banho maria” depois da ida a Londres, por coincidência, Sandra Faria, da Força de Produção, já havia sinalizado o texto, pelo que, quando Margarida Vila-Nova lhe falou nele, conjugou-se com alguma celeridade a vontade de o estrear em palcos portugueses. Imediatamente a atriz pensou em Tiago Guedes, encenador e realizador, para o dirigir, seguindo-se a conciliação de agendas para levar avante a versão portuguesa de Prima Facie – título original em latim, que significa, literalmente, “à primeira vista”.
“Antes de aceitar o convite, pedi à Margarida para me deixar ler o texto, de modo a perceber se encontrava pontos que me interessassem. E encontrei, precisamente, um assunto que me interessa bastante, demasiadas vezes tratado de forma muito leviana, que é esta questão das linhas ténues do abuso dentro das relações”, lembra Tiago Guedes. “À questão do consentimento, e da falta dele”, a peça junta pistas para debater como a mulher continua a perder, “no confronto com os homens, no que diz respeito à lei e à justiça.”
Enquanto encenador, À primeira vista teve para Guedes dois particulares atrativos: “foi a primeira vez que encenei um monólogo”, logo, “quando estamos habituados a distribuir o jogo por mais do que uma pessoa, é aliciante perceber como fazê-lo só com uma”; e “depois, há o desafio de fazer um monólogo numa sala como o Teatro Maria Matos, com 400 lugares, sem grande proximidade ao ator. Foi necessário construir todo um dispositivo que ocupasse o espaço e que ajudasse à possibilidade do jogo” entre a atriz e a audiência.
Outra inquietação imediata que o encenador teve com o texto foi sentir que, muito provavelmente, seria mais interessante ter uma mulher a encená-lo. “Mas, logo percebi que isso não era importante”, por ser fundamental “convocar os homens para assuntos que geralmente se diz serem lutas das mulheres. Não, não são. São lutas da sociedade, lutas por uma noção de humanidade, e eu quero viver num mundo em que todas as pessoas, independentemente do sexo, sejam iguais.”
Entre o drama social e o thriller jurídico, é fácil perceber o sucesso de À primeira vista que, para além dos países anglo-saxónicos, tem marcado temporadas teatrais por toda a Europa e Brasil. A peça é um convite ao debate sobre assuntos que nos interessam a todos enquanto cidadãos. Sem estabelecer veredictos, mas abrindo caminhos para o debate, a versão portuguesa do texto de Suzie Miller convida a uma reflexão profunda a propósito da violência sobre as mulheres (e Portugal, como se sabe, é um país com números muito pouco abonatórios nesta matéria), sobre o abuso sexual e, claro, sobre a justiça. Como lembra Tiago Guedes, “sabemos que é impossível haver uma justiça imaculada, mas estamos todos de acordo que devemos ter uma justiça melhor.”
À primeira vista estreia a 24 de julho, no Teatro Maria Matos, mantendo-se em cena até 10 de agosto. A partir de 18 de setembro, e até novembro, o espetáculo terá récitas semanais todas as quartas-feiras.
[artigo atualizado, em 30 de julho, quanto às datas da temporada]
Todas as “folhas” expostas contam com fotografias instantâneas, quase sempre acompanhadas de frases manuscritas nas línguas em que se sente mais confortável, como o inglês, o alemão, o português ou o francês; recortes de jornais e revistas; panfletos publicitários; ou carimbos. Para Daniel Blaufuks, a elaboração do diário passou a ser “o trabalho de uma vida”.
O artista tem dúvidas sobre se estes volumes deveriam ser chamados de diários. Prefere a denominação “não-diários”, já que “não é íntimo”, não se fica a saber muito sobre si ou sobre a sua vida naquelas páginas.
“No diário clássico, escreve-se ‘acordei às 10 da manhã’, ‘fui tomar o pequeno-almoço’ ou ‘fui ao cinema’. Ali não há disso. De vez em quando destapo um bocadinho a tampa da minha vida, mas volto a fechá-la imediatamente”, diz. É, antes, um trabalho diarístico, “porque é um exercício diário, que me ajuda a pensar a fotografia. Faço uma folha por dia”, acrescenta, lembrando que tudo começou no dia em que Philip Roth, o autor de Pastoral Americana ou A Mancha Humana, morreu.

“Um acaso, feliz para mim, não para ele”, explica, recusando que tivesse sido um acontecimento catalisador. No entanto, foi nesse dia que tudo começou, e a primeira “folha” da exposição é, precisamente, aquela onde se pode ler “philip roth is now forever dead”. “Acho até que talvez ele até tivesse gostado!”
Pela galeria
As paredes de uma das salas do MAAT Gallery estão preenchidas com molduras. Se lá está exposto todo o diário de 2023, há, também, algumas páginas de 2018 a 2022 e outras tantas do corrente ano. Todas, sem exceção, apresentam fragmentos: fragmentos da sua vida pessoal, fragmentos de coisas que lê, de coisas que ouve. Há, ainda, fragmentos de conversas e de sentimentos. “Essa é a palavra certa: fragmentos. Cada página deste diário é um fragmento do meu dia”, sublinha.
Neste trabalho que se mostra “instintivo e instantâneo”, os apontamentos textuais não são meras legendas das fotografias. “Por vezes, imagem e texto podem colidir; outras vezes podem acompanhar-se. E há ainda outras vezes que o texto levanta mais questões do que àquelas que responde. Isto para dizer que, quando tiro a fotografia, não estou a pensar no que vou escrever. Também acontece saber o que vou escrever ainda antes de tirar a fotografia. Mas, na verdade, penso que o ambiente é sempre o mesmo, isto é, num dia mais triste, eu estou mais triste e sente-se isso na fotografia, como se sente, provavelmente, no texto que a acompanha. E o mesmo acontece num dia mais alegre, como num dia de praia no verão, onde tudo talvez seja mais luminoso.”

João Pinharanda, curador da exposição, diz que o trabalho de Blaufuks se baseou sempre “em torno do tempo e da memória, seja ela familiar, histórica ou pessoal. Expondo a sua memória, cruzam-se os seus dias e os dias do mundo”. O fotógrafo que, segundo o curador, “reage ao que o rodeia lutando contra a voraz corrida do tempo sobre as coisas”, admite que “um diário é também um ato de resistência”. “O dia faz sentido porque eu tenho uma folha para fazer, o que me permite ter sempre este momento de alineação de tudo o que se passa em volta”, conclui.
A exposição Os Dias Estão Numerados, de Daniel Blaufuks, pode ser visitada no MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de quarta a segunda, até 7 de outubro. Dia 5 de setembro, entre as 15 e as 18h30, tem lugar uma masterclass com o fotógrafo, seguida de uma conversa com João Pinharanda. Por ocasião da exposição, é publicado o livro Os Dias Estão Numerados (ed. Tinta-da-China), à venda na loja do museu.
Lenda viva do teatro contemporâneo, o mestre norte-americano Robert Wilson volta a Lisboa, no próximo ano, com PESSOA – Since I’ve Been Me, uma evocação das diversas atmosferas das obras e das heteronímias do poeta português Fernando Pessoa, precisamente nascido a dois passos do Teatro São Luiz, no Largo de São Carlos.
Coprodução entre o teatro municipal lisboeta, o florentino Teatro della Pergola e o parisiense Théâtre de la Ville, esta “última rêverie” de Bob Wilson, como lhe chama o diretor artístico Miguel Loureiro, tem dramaturgia de Darryl Pinckney – colaborador habitual de Wilson, autor do magnífico Mary said what she said, espetáculo que marcou a edição de 2019 do Festival de Almada – e conta com um elenco internacional onde se destaca a atriz Maria de Medeiros. Estes ingredientes fazem de PESSOA – Since I’ve Been Me um dos espetáculos mais aguardados da próxima temporada e, uma vez que são apenas três récitas (de 6 a 8 de março), a julgar pelas anteriores passagens do teatro de Wilson por Portugal os bilhetes tendem a esgotar depressa.

Mas, a temporada do São Luiz está longe de se resumir a este “acontecimento”. Muitas são as propostas de teatro que a temporada 2024/2025 elenca, a começar já em setembro, quando Ivo Alexandre apresentar a sua visão de Amedée ou Como Desembaraçar-se (de 20 a 29), marco no teatro do absurdo da autoria do dramaturgo franco-romeno Eugène Ionesco.
Os grandes autores estão, aliás, em destaque, com Arthur Miller e As Bruxas de Salém, encenado por Nuno Cardoso (13 a 15 de dezembro); Shakespeare por Miguel Moreira e Útero, com Hamlet – L’ Ange du Bizarre (19 a 22 de dezembro); Nathalie Sarraute e as peças Por tudo e por nada e Aqui está ela encenadas por Carla Bolito, num espetáculo intitulado Tudo A Que Se Chama Nada (11 a 26 de janeiro); Heiner Müller e Macbeth, segundo Paulo Castro, encenador português residente na Austrália de regresso a Lisboa (14 a 23 de fevereiro); ou Heinrich Von Kleist por Maria Duarte, numa criação ainda sem título definitivo (22 a 30 de março). A fechar a temporada, Jean Paul Bucchieri leva ao palco o Livro XI das Confissões de Santo Agostinho, com Bárbara Branco, Cláudio da Silva, Maria Arriaga e Pedro Lacerda no elenco (28 de junho a 5 de julho); e Renata Portas encena a versão de Séneca de As Troianas (10 a 13 de julho).
Ainda no teatro, Teresa Sobral dirige Class Enemy, peça do final da década de 1970 do britânico Nigel Williams (12 a 27 de outubro); Cucha Carvalheiro celebra os 30 anos da Escola de Mulheres com a encenação de um inédito de Ana Lázaro intitulado Deseja-se Fernanda!, dedicado, precisamente, à fundadora daquela companhia, Fernanda Lapa (15 a 23 de março); e a Assédio, companhia do Porto, apresenta uma reflexão sobre a guerra colonial, com A Tragédia de Aristides Inhassoro, de Pedro Galiza (24 a 27 de abril). A programação inclui ainda criações de Hotel Europa (Urgência Climática), Raquel André (Belonging / E di / Pertenencia / Zugehörigkeit / Pertença / 絆), Os Possessos (Last Call), Lígia Soares (Romance), Marco Paiva (A Tempo) e Miguel Graça (Killer Joe). Pelos palcos do São Luiz passam ainda, como é habitual, os festivais Alkantara e FIMFA Lx.

Num rápido virar de página, a dança e a performance estão também em grande destaque. Para a temporada, Miguel Loureiro começa logo, em setembro, por apostar num programa duplo com dois espetáculos do coletivo Dançando com a Diferença – Blasons, de François Chaignaud, estreado em 2022, e Doesdicon, criado por Tânia Carvalho em 2017 (de 19 a 21); e, de novo Tânia Carvalho, mas desta vez ao lado de Matthieu Ehrlacher, no projeto que a dupla vem desenvolvendo desde 2021, Papillons d’éternité, com a peça Nymphalis Antiopa, criada e interpretada por ambos.
Nos próximos meses, a marcar a agenda cultural da cidade estão Rui Horta (o coreógrafo assina Glimmer com os Micro Audio Waves, um espetáculo musical, performático e multimédia, com a participação de Gaya de Medeiros), Catarina Miranda (Atsumori), Vânia Rovisco (No Corpo: Assim se Conhece o Mundo), Filipa Francisco e Bruno Cochat (NU MEIO e NU MEIO Comvida, com participações de Félix Lozano, Sónia Batista, Margarida Mestre, Miguel Pereira e Carlota Lagido), Circolando (OU) e Olga Roriz (O Salvado). Na performance, destacam-se Ritó Natálio, com Spillovers, a partir de Lesbian peoples: material for a dictionary, de Monique Wittig e Sande Zeig; o regresso de Romain Beltrão Teule, com Dobra; e e(u)co(m)lógica de José Laginha, uma criação para jovens que cruza a crise climática com o funcionamento do cérebro humano.
O lugar da música
Desde o primeiro minuto enquanto diretor artístico do Teatro São Luiz, Miguel Loureiro assumiu uma forte aposta na programação de música. A temporada que se avizinha coloca o teatro municipal no epicentro da oferta, e a música em paridade com as artes performativas. Sinal evidente é a temporada abrir “com dois concertos em formato diverso” de Júlio Resende. O talentoso pianista apresenta, a 13 de setembro, Fado Jazz – Filhos da Revolução, e na noite seguinte, ao lado dos ALMO (o tenor Paulo Lapa e o barítono Tiago Matos), uma viagem surpreendente pelo fado e pelo cancioneiro português. Nesse fim de semana, na noite de sexta-feira 13, o músico, coreógrafo, bailarino e DJ Faizal Mostrixx, pioneiro da eletrónica tribal, é “mestre de cerimónias” da festa de abertura da temporada.

Até final do ano, entre outros, estão agendados concertos de MirAnda (24 de setembro), Samuel Úria (8 de outubro), Rafael Riqueni (11 de outubro), Maria João & André Mehmari (8 de novembro), Tony Ann (9 de novembro), Rocío Márquez & Bronquio (10 de novembro), Lena d’Água (12 de novembro), Sara Correia (25 de novembro), LINA_ (27 de novembro), Cara de Espelho (29 de novembro), Cristina Branco (5 de dezembro) e Kavita Shah (20 de dezembro). Para além de um grande concerto comemorativo do centenário de Amílcar Cabral (6 de novembro) e dos últimos dois momentos do ciclo Foco Maestro com Martim Sousa Tavares (em dezembro), o Dia Mundial da Música (1 de outubro) é celebrado com o espetáculo Cantexto, dedicado ao cante alentejano, que conta com a presença de oito grupos de cantadores.
Com o fecho do Teatro Nacional de São Carlos para obras de beneficiação, o São Luiz acolhe alguns dos espetáculos integrados na programação do teatro vizinho, nomeadamente na área da música de câmara e na ópera.
Em 2025, pelas três salas do São Luiz passam também Pedro Jóia, Orquestra Metropolitana de Lisboa (destaque para o concerto celebrativo do centenário de Carlos Paredes), Kolme, Nuno Vieira de Almeida (com Rita Blanco), Orquestra do Hot Clube Portugal ou Nuno Côrte-Real.
A temporada tem ainda uma alargada oferta no campo do pensamento e da ciência, salientando-se mais uma edição do ciclo O Nosso Futuro Ainda Humano, que abre a 17 de setembro com o filósofo e ensaísta basco Daniel Innerarity.
No campo da literatura, de notar a leitura encenada de O Mundo Começou às 5 e 47 para assinalar os 100 anos de Luiz Francisco Rebello. A 15 de setembro, a partir das 16 horas, com Marques d’ Arede, Ivo Alexandre, Marco Mendonça, Álvaro Correia, Cátia Nunes, Diogo Fernandes e Márcia Cardoso, sob direção de Miguel Sopas.
A concluir, em novembro, uma instalação sonora assinala o 30.º aniversário da Galeria Zé dos Bois e, já em 2025, o coletivo Filho Único propõe uma programação especial para três dias. Isto, ao pormenor, e tudo o resto, pode ser consultado no site oficial do São Luiz Teatro Municipal.
Quando, a 25 deste mês, os Artistas Unidos estrearem, numa antiga fábrica de mármores de Montemor-O-Velho, Búfalos de Pau Miró, quase todo o espólio da companhia estará empacotado num armazém nos arrabaldes de Lisboa à espera de destino certo. No final de julho termina, em definitivo, o contrato de arrendamento mantido, há já 13 anos, com a Reitoria da Universidade de Lisboa para a exploração do Teatro da Politécnica.
Enquanto se aguardam novidades sobre a solução a que a Câmara Municipal de Lisboa se comprometeu para que a companhia continue o seu trabalho enquanto estrutura sediada na capital, parte dos artistas e técnicos ultima a derradeira peça da Trilogia das fábulas, que os Artistas Unidos ainda acalentaram, até há pouco tempo, ser apresentada na sala da rua da Escola Politécnica, em conjunto com a reposição dos dois anteriores espetáculos: Girafas e Leões.
Pedro Carraca, que assumiu a encenação de Búfalos, parece relativamente calmo na tarde em que recebe a imprensa para aquela que será, certamente, a última vez que visitamos o Teatro da Politécnica para assistir a um ensaio. “Infelizmente, não é a primeira vez que estamos a passar por isto. Depois de sairmos d’A Capital andámos anos com a casa às costas”, lembra. Embora lamente que se tivesse chegado a este ponto, e que “quem de direito só tenha acordado verdadeiramente para o problema no último mês e meio”, Carraca acredita que tanto “a Câmara como a companhia vão encontrar muito em breve uma solução viável, o que até aqui não se verificou.”
Para já, os Artistas Unidos esperam, no próximo dia 16 a partir de meio da tarde, receber público e amigos para uma simbólica desmontagem do Teatro da Politécnica. Nessa despedida, será certamente prematuro anunciar a nova morada da companhia que Jorge Silva Melo fundou há 28 anos. No entanto, Carraca está otimista quanto ao anúncio da sala onde se estreará, em Lisboa, Búfalos, a primeira peça escrita por Miró para a Trilogia, mas aquela que se decidiu estrear por último.

“A questão de começarmos a Trilogia por Girafas foi colocada ao autor, que não se opôs. A única exigência feita passou por colocar Leões entre as outras duas”, conta o encenador. Miró terá mesmo reconhecido que “a linha temporal [escolhida pela companhia lisboeta] era até mais lógica”, já que Girafas se desenrola em plena Espanha franquista, Leões algures entre as décadas de 80 e 90 do século passado, e este Búfalos, muito provavelmente, nos dias de hoje, “com os filhos, os descendentes das Girafas e dos Leões.”
Só os fortes sobrevivem
Assumindo mais literalmente a fábula, Búfalos tem como protagonistas cinco irmãos marcados pela misteriosa morte de um sexto irmão, ainda criança. Perante a tragédia, e todo um conjunto de respostas que ficaram por dar, estes três rapazes e duas raparigas (interpretados por Joana Calado, Rita Rocha Silva, Gonçalo Norton, João Estima e Nuno Gonçalo Rodrigues) são obrigados a sobreviver na selva, unidos como uma manada, ante uma mãe que vai desaparecendo, até sucumbir de vez, e um pai quase sempre fechado numa oficina inacessível, ao fundo da decadente lavandaria (outra vez as máquinas de lavar roupa e a lavandaria, tal como nas peças anteriores) explorada pela família.
“Provavelmente, das três, Girafas até é a minha preferida, mas esta é aquela que me parece mais interessante trabalhar”, confessa Pedro Carraca que já havia dirigido Búfalos para a rádio e “em exercícios com alunos”. Esse interesse parte do desafio de Miró ter situado “estas personagens num não-tempo, ou num tempo em que já sabem tudo”. Objetivamente, eles não dialogam entre si, mas narram a ação, de tal modo que o texto original “nem sequer tem a distribuição das personagens. Esse foi um trabalho que nos competiu fazer.”

E Búfalos é toda ela uma peça de ação, embora pudesse ter sido feita “com os cinco atores sentados, como numa leitura encenada”. Ao invés, apelando ao vigor da juventude, Carraca optou por um registo bem enérgico, quase no limite do teatro físico, que, descobriu recentemente, foi também a opção que o próprio Pau Miró adotou quando estreou a peça em 2008.
Como curiosidade, conta o encenador, “quando, há uns anos, propus ao Jorge Silva Melo fazer esta peça, ele disse-me que só faria sentido encenando toda a trilogia. E, ao mesmo tempo, confessou que não sabia encenar Búfalos porque, em seu entender, era peça já com uma linguagem de outra geração.”
O certo é que, anos depois, os Artistas Unidos levam a cena a Trilogia das fábulas e Pedro Carraca encontrou a linguagem certa para encenar Búfalos, a peça que desencadeou a vontade desta incursão na obra do tão singular dramaturgo catalão. Falta agora vermos respondida a interrogação que, à porta do quase encerrado Teatro da Politécnica, cruzando um cartaz anunciando as três peças, salta à vista da cidade: “Onde?”
[A 30 de julho, os Artistas Unidos anunciaram que o espetáculo faz carreira em Lisboa, de 18 a 29 de setembro, no Centro Cultural de Belém]
paginations here