Bem na zona central de Lisboa, na plataforma da estação Roma/Areeiro, dá entrada o comboio suburbano proveniente de Alcântara-Mar com destino a Castanheira do Ribatejo. Sem atrasos dignos de registo, entramos na composição, sabendo que, em pouco menos de um quarto de hora, estaremos sentados no confortável lobby da Biblioteca de Marvila a falar com alguns dos Visionários locais.
Deslizando suavemente pelos carris, o comboio parece transportar-nos para fora da cidade por terrenos baldios, emaranhados de vias rápidas e viadutos que cruzam a linha e estreitas azinhagas que desembocam em pequenas hortas. Como era previsto, em seis meros minutos desembarcávamos no apeadeiro de Marvila. A poucos metros, a norte, sem particular ostentação, mas bem visível, o nosso primeiro destino: a Biblioteca de Marvila.
Vivendo a insónia do programador
Dadas as disponibilidades pessoais, apenas quatro dos 12 Visionários de Marvila responderam à nossa chamada. E é com entusiasmo que partilham a experiência de desempenharem, nesta edição de Os Dias de Marvila, o papel de programadores de dois dos espetáculos a serem exibidos no festival – 1.5º Ponto de Equilíbrio, da Companhia Erva Daninha, e o concerto do quarteto DG4.

Ser visionário resume-se, precisamente, a desempenhar o papel de programador. O projeto Visionários, promovido em vários municípios pela ArtemRede, proporciona o visionamento de diferentes espetáculos e criações artísticas a um grupo de pessoas que os avaliam e tenderão a escolhê-los para uma futura exibição pública. Porém, não basta gostar – é preciso aferir da disponibilidade dos artistas, do orçamento disponível e de outros tantos aspetos que, por norma, dão muitas noites de insónia a um programador profissional. A Cila, a Dina, o Rui e a Eunice, visionários marvilenses, que o digam! Após terem visto in loco e em vídeo um rol de projetos, o grupo, “muito heterogéneo em termos de idades e percursos de vida”, decidiu e cabe agora ao público em geral avaliar as suas escolhas.

“Todos os socos que levei foram à pala do rap”
O reencontro de velhos amigos que o amor pela música, nomeadamente o rap, uniu. Sentados à nossa frente, depois da sessão de fotografias debaixo de um sol abrasador, Viruz, Myslo e Rato Chinês juntam-se a nós e depressa começam a partilhar histórias que parecem saídas dos temas que entoam. Dos três, Rato Chinês é o único marvilense (Viruz e o seu produtor e DJ, Myslo, são oriundos de Campolide) e o modo como se denomina enquanto artista é bem sintomático daquilo que é, mas também foi, o bairro onde hoje está instalada a Biblioteca. “Rato é a minha alcunha desde criança. É assim que, aqui em Chelas [denominação já removida da toponímia de Lisboa, mas ainda muito usada pelos locais], toda a gente me conhece. O Chinês vem do tempo em que este sítio eram quase só barracas e a estrada era de terra batida: o Bairro Chinês.”
Viruz e Rato conhecerem-se na década de 90, no Bairro Alto, e juntos faziam freestyle rap na rua, dando eco à admiração que tinham “pelos poemas e pelo beat que ouviam dos mais velhos à porta da escola”. Falam de um período dourado, entre 2001 e 2004, em que a dupla fazia furor no animado bairro da capital. Entretanto, a vida levou-os por caminhos diferentes: Viruz tem uma carreira consolidada no rap nacional e Rato está de volta à arte que o fez levar todos os socos de que se lembra. E, de certo modo, é um regresso que a Biblioteca patrocinou: “entrei aqui, uns meses depois da abertura, e perguntei por um estúdio. Não havia, mas abriram-me as portas de um auditório”. Aliás, esta experiência leva o trio a sublinhar a importância de se acabar com a desconfiança e o preconceito mútuos entre os residentes na zona e aqueles que vêm de fora: “e a nós, enquanto artistas, cabe-nos ser mediadores dessas realidades”, sublinham.
Cultivar a autoestima em quem tanto precisa
Cruzamos agora a linha de comboio em direção à Estrada de Marvila, virando costas a Chelas. Na Azinhaga das Veigas, um velho palácio alberga a Casa de São Vicente, uma associação atualmente dedicada à reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, fundada em 1940 pela Condessa de Mafra, Maria Antónia de Mello Breyner. Aqui, Suzana Rodrigues trabalha com alguns dos utentes desta IPSS na exposição A nossa cara não é estranha, que estará patente na Biblioteca de Marvila durante o festival.

A exposição consiste em registar, através de fotografia, imagens que são particularmente familiares a todos os públicos, usando como modelos os jovens, e não tão jovens, utentes da Casa. Suzana dá-nos um exemplo, mostrando no computador o famoso quadro de Johannes Vermeer A Rapariga com Brinco de Pérola. De seguida, exibe uma fotografia com a modelo, uma aluna, utente da instituição, reproduzindo a bela pintura, e questiona-nos: “Não é bonita? Consegue perceber que se trata de uma mulher com deficiência cognitiva?”
O objetivo desta exposição será, precisamente, mostrar a todos como “estas pessoas são especiais, que esta é a sua outra cara” e ao mesmo tempo mexer com a confiança dessas mesmas “pessoas com p grande” que, ao se verem expostas nestas fotografias, “vão ver subir a autoestima”. Por outro lado, um momento público desta dimensão proporcionará uma motivação suplementar para que muitas das famílias venham de novo ao encontro dos seus. Muitos dos alunos da Casa estão em internato (são 25 utentes do sexo feminino em Lar) e pouco ou nenhum contacto têm com a família.
Na despedida, a diretora técnica da Casa de São Vicente, Cristina Gomes, deixa-nos um desejo: “Queremos estar cada vez mais incluídos na cidade, mas a cidade tem de nos incluir a nós. Temos muitas ideias para partilhar”. Esta exposição é, seguramente, uma delas.
“Sítio dividido em zonas com letras do alfabeto”
Seguimos agora para oriente, para a zona de apogeu da Marvila Velha, onde tudo parece estar a mudar a um ritmo alucinante. Com o rio bem à vista, entramos no complexo One Your First Stop, um antigo entreposto ferroviário, hoje ocupado por indústrias criativas e projetos de coworking. Ali encontramos o encenador e performer Tiago Vieira, um marvilense de gema, e a encenadora e membro da Companhia Cepa Torta, Patrícia Carreira, acompanhada por jovens do seu projeto de teatro comunitário com alunos das escolas da freguesia e com a comunidade dos bairros de Marvila Velha, Lóios e PRODAC. Ambos vão apresentar duas criações n’ Os Dias de Marvila.

Nome já firmado no teatro português, Tiago é cofundador da Latoaria, na Mouraria. “Não enceno e crio da maneira como o faço se não tivesse nascido e crescido em Chelas”, esclarece, antes de nos explicar o conceito de A Pátria é a minha Revolução, espetáculo que prepara com um elenco de atores e bailarinos profissionais, e que será apresentado num dos armazéns do complexo onde estamos. Para aquilo que designa como “concerto apocalíptico”, Tiago vai buscar autores que muito o marcaram, como Ortega Y Gasset, Nietzsche, Genet, Rimbaud, mas também Sam The Kid, o rapper que, tal como ele, nasceu e cresceu no bairro e cantou Chelas, “sítio dividido em zonas com letras do alfabeto”. “É uma homenagem às pessoas que me marcaram em Chelas, uma interpretação poética das memórias que guardo, daquele tédio quase tchekhoviano dos dias quentes trazendo aromas das terras distantes de África. Porque em Chelas, sobretudo na Zona J ainda se respiram ambientes profundamente africanos. E não concebo as minhas memórias de bairro sem eles.”
Uma das jovens que participa no projeto da Cepa Torta O Mapa do Mundo Reinventado, Lara, intervém: “Mas, não são só africanos! A minha família veio do norte para cá. Viveu numa barraca, tinha uma horta. Depois houve o realojamento. E quem não é daqui continua a ver-nos com suspeição. É claro que há pobreza, mas acho que Chelas tem mais fama que proveito quando se fala em coisas más.”
E hoje? O que é que mudou? Nenhum dos jovens presentes está bem certo, mas Tiago remata: “Haver uma biblioteca em Chelas é qualquer coisa de incrível…“

O último slow em Marvila
O nosso próximo destino é o Salão de Festas do Vale Fundão ao encontro de Rui Catalão, que ensaia O Último Slow, espetáculo que terá duas apresentações n’Os Dias de Marvila (embora uma delas no Torreão Poente do Terreiro do Paço). Este é um regresso a este território, depois de há cerca de dois anos, a convite do Teatro Municipal Maria Matos, ter criado Assembleia, um espetáculo protagonizado por marvilenses oriundos de dois bairros distintos: Alfinetes e Armador.
“Para este projeto comecei por fazer uma audição na Biblioteca de Marvila em que aparecerem perto de 70 pessoas. Infelizmente, nenhuma, à exceção do David, que está connosco, se comprometeu.”
Será o David, um jovem do bairro com algumas limitações cognitivas, que funcionará como pedra de toque nesta nova criação. “É um espetáculo de teatro dançado, feito de movimento dramático sem palavra”, a partir de slows, “essa moda em perda”, essas canções que fazem parte do crescimento de cada um de nós.
Em cena, Rui junta performers profissionais e amadores (alguns provenientes de projetos criativos que desenvolveu no Vale da Amoreira), e lamenta que em Marvila “ainda seja difícil convocar a comunidade”. Em causa, o encenador aponta o muito que há ainda a fazer no terreno para que as pessoas se mobilizem. Aspeto que é, aliás, referido por muitas das pessoas com quem conversámos, desde habitantes na zona a outros agentes, e que percebem que só a persistência dos projetos de âmbito social e cultural podem acabar definitivamente com “a cidade oculta” que um dia se chamou Chelas.
O futuro radioso são as crianças
Poderia ser uma espécie de epílogo desta viagem mas, acreditamos, tratar-se do princípio de tudo.
Com o dia a acabar, regressamos à Biblioteca para descobrir mais um projeto que tem, naquele espaço, uma casa. Trata-se do Coro Infantil da Biblioteca de Marvila, e agora que o dia de aulas acabou, algumas das jovens estrelas podem posar para a fotografia.
Conduzido pela maestrina Catarina Braga, o Coro, também ele apadrinhado na sua génese pelo Teatro Municipal Maria Matos, prepara-se para mais um ano de trabalho, ainda sem certezas quanto ao número de crianças que o vão integrar. “No ano passado tivemos 11, 12 crianças a vir regularmente aos ensaios”, precisa Catarina. E, curiosamente, são provenientes de toda a freguesia, pelo que constituem um grupo bastante heterogéneo em termos de estrato social. Apesar de muito desafiante, é uma pequena conquista, e como comenta uma mãe, trata-se de “um projeto que está a expor muito positivamente o bairro, demonstrando que por aqui estão coisas a acontecer.”
Um exemplo concreto de inclusão foi a participação de algumas crianças de etnia cigana. “Não sendo regulares, conseguimos que elas viessem, e esperamos que não desistam. Seria muito importante para elas”, destaca a maestrina.

Agora é tempo de colocar vozes ao alto e começar a preparar a apresentação prevista para Os Dias de Marvila. E tivemos uma pequena amostra: do Cancioneiro da Bicharada de Carlos Gomes, as crianças presentes interpretaram O Grilo, a partir de poema de Alexandre O’Neill, com direito a coreografia.
No futuro, Catarina quer colocar o Coro a cantar Marvila e, para tal, encetou já uma busca pelo repertório da freguesia, rico sobretudo em marchas.
O sol já se põe e é tempo de deixar este lado da cidade. Rumo ao apeadeiro, ainda se ouvem a vozes eternamente esperançosas das crianças. Afinal, é com elas que se começa a construir o futuro da cidade. E não deixa de nos ocorrer as palavras que ouvimos do rapper Rato Chinês há algumas horas – “No meu tempo, acreditávamos que só havia dois caminhos para sair do bairro: pelo futebol ou pela luta!”
Talvez, agora ou num tempo muito próximo, se abram outros caminhos.
A génese da sua escrita começa no ato de escutar. Depois, com toda a disciplina do praticante de ioga que admite ser, Pascal Rambert escreve. “E gosto particularmente de o fazer para atrizes – atingem, geralmente, um nível de comprometimento inigualável”, sublinha, lembrando-nos Isabelle Hupert, Emanuelle Béart ou Marina Hands, atrizes para quem escreveu e que dirigiu (esta última passou por esta mesma sala, há cerca de dois meses, em Actrice, um dos melhores espetáculos da última edição do Festival de Almada).
Mas, comecemos pela importância de escutar. Quando Tiago Rodrigues o desafiou a escrever uma peça para o Teatro Nacional D. Maria II, Rambert quis estar perante “um ator com uma idade mais avançada”. Surgiu então Rui Mendes, quase a chegar aos 80 à altura em que tiveram o primeiro encontro e o ator lhe contou histórias e partilhou memórias, matéria de que o texto se viria a apropriar. Porque TEATRO está impregnado de histórias e memórias. As de Rui, mas também as do restante elenco: Beatriz Batarda, Lúcia Maria, João Grosso e Cirila Bossuet. Porém, Rambert garante: “não pretendo saber nada sobre a vida privada dos atores; quero, isso sim, olhá-los atentamente, ouvi-los e depois deixar-me levar pela intuição. Afinal, é para eles que vou escrever!”
A intuição incita a ficção de Rambert mas, ao dar às personagens os nomes próprios do atores que os interpretam, inicia-se um jogo em que a ficção se espelha na realidade, e vice-versa. Porque, de facto, não são apenas os nomes…

Vejamos. O palco despojado e sob uma luz fria como numa sala de ensaios, um linóleo que se coloca no chão, a mesa de trabalho, o encenador (Rui) e a atriz (Beatriz). Tudo começa com dois monólogos: o de Rui, a falar do avô que foi ator no D. Maria II, e a seguir o de Beatriz, da peça dentro da peça – a atriz nos limites, fazendo acreditar o público que a sua representação já ultrapassou o teatro e com a vida se fundiu. Mas, trata-se apenas um ensaio.
Entram mais dois atores (João e Lúcia) e, antes do início do trabalho, comemora-se o aniversário de Rui. Então, eles presenteiam-no com uma cena de Romeu e Julieta, precisamente a peça em que o Rui de TEATRO e o Rui Mendes da vida real os dirigiu pela primeira vez. Depois, há ainda Cirila, a empregada de limpeza que estuda Ciência Política, mas tem no sangue genes de artista (na vida real, os pais de Cirila Bossuet foram bailarinos) e até ambiciona ser encenadora.

E Beatriz, a atriz e a personagem? “Ela tem uma energia apaixonada. É irresistível”, considera o encenador. “Parece andar sempre a mil com os ensaios, os filhos, o estacionamento do carro… mas chega sempre a horas, e faz aquele monólogo violentíssimo assim, a frio, logo a começar”. Esta é Beatriz Batarda, mas é também a Beatriz de TEATRO, reflexo num espelho onde a ficção está permanentemente a tropeçar na vida.
A partir de um lugar na plateia, com o olhar a percorrer toda a Sala Garrett, Rambert conclui: “escrevo sempre histórias sobre o teatro porque, seja em cena, seja nos bastidores, aqui se reúne tudo o que nela existe: a paixão, a tristeza, a alegria, a perda, o amor, a esperança e até mesmo a morte…”
Perante a intimidade e cumplicidade do diálogo, depressa se percebe que Gustavo (Paulo Pinto) conquistou a confiança de Adolfo (Ivo Canelas). Este último, um pintor destroçado pela virulência do seu amor à mulher, entrega-se a este estranho que o visita num quarto de hotel como se fosse um velho e bom amigo. Tekla (Sofia Marques), a mulher que parece ensombrar a sanidade de Adolfo, saiu para passear e ele encontra-se absolutamente vulnerável ao plano oculto de Gustavo. Essa vulnerabilidade mudará, irremediavelmente, a vida destes personagens.

Íntimo, psicanalítico antes do tempo, Credores, peça escrita por Strindberg imediatamente a seguir a Menina Júlia é um notável exemplar do génio do autor sueco. Segundo o encenador e ator Paulo Pinto “o texto é como um puzzle onde as peças vão encaixando lentamente, com minúcia e uma precisão notável”, o que o torna também “de uma enorme exigência para os atores”. Ao mesmo tempo, destaca-se um ensaio da “metateatralidade” através “da manipulação que os personagens exercem uns sobre os outros e tudo aquilo que vai acontecendo fora de cena.”
Considerada pelo próprio autor uma “tragédia naturalista para três atores, uma mesa e duas cadeiras, e nenhum nascer do sol!”, a encenação de Paulo Pinto, muito fiel à austeridade recomendada por Strindberg, é um belíssimo convite ao reencontro do público com o teatro de texto. Sobretudo quando servido por um magnífico trio de atores.
O nome Mariphasa sugere mariposa, borboleta, transformação. Como é que este título se liga à natureza do filme?
Mariphasa é o nome de uma flor que existe apenas num filme muito mau, Werewolf of London [O Lobo Humano, 1935, de Stuart Walker], que se tornou um clássico por duas ou três cenas, e essa flor no filme existe no Tibete e funciona com antídoto à transformação dos lobisomens. Dessa maneira, o título dá uma espécie de mote ao meu filme que, em hora e meia, sugere a possibilidade de um acontecimento que nunca chegamos a ver e que vai gerindo pequenas informações de coisas que se terão passado antes do filme começar.
Será então um antídoto a uma estrutura narrativa mais convencional…
Certamente, certamente. Não me é natural lidar com as personagens na perspectiva clássica. Sei o que é, sei trabalhá-la, sei falar sobre ela, muitas vezes parto para os projectos pensando que desta vez será um pouco mais narrativo, mas perco o interesse. Enquanto realizador e enquanto espectador passa-se o mesmo.

Quando apresentou Mariphasa no IndieLisboa disse que aquilo a que o público iria assistir era como que “um pesadelo”. De onde lhe vieram as ideias para o filme?
Quem me conhece sabe que a minha natureza não é tão sombria como os filmes que faço. Tento pôr em suspenso o meu lado racional o mais possível quando estou a trabalhar, porque a minha racionalidade impediria de dar consequência às primeiras ideias, teria de as pensar demasiado, testar demasiado, articular demasiado. E, quando as coisas se tornam claras, desinteresso-me. Os filmes vêm de um lado completamente subterrâneo em mim, uma mistura de memórias, medos, inquietações, que tento traduzir em imagens e sons o melhor que consigo. Vem de um lado totalmente inconsciente, dai aproximarem-se desse lado dos sonhos e dos pesadelos.
Este filme dá-nos a ideia de ter sido feito sem qualquer tipo de concessões. Fez exactamente o filme que quis, ou teve de fazer cedências?
Os filmes são sempre resultado das circunstâncias particulares em que são feitos. Uma das principais concessões que tive de fazer foi com o tempo da rodagem. Trabalho com uma equipa muito pequena e pensei que com isso ganharia margem de manobra para ter tempo para falhar antes de acertar. Trabalho muito de improviso e preciso da tranquilidade de poder não acertar exatamente à primeira. Criativamente nunca tive essa possibilidade de me sentir tranquilo numa rodagem para falhar. O filme foi feito com base em intuições, estou sempre a trabalhar no vazio. Gostava de ter tido mais tempo para esse vazio.
A criança em Mariphasa é interpretada pelo seu filho. Escolheu-o porque seria mais fácil dirigi-lo ou porque quis trazer com isso maiores implicações autobiográficas para o filme?
Já trabalhei com o meu filho várias vezes e gosto muito de trabalhar com ele. No geral não gosto de ver crianças nos filmes, porque fazem de crianças. Sei que sou capaz de falar com ele e ele perceber-me. Sei como ele é verdadeiramente, e sei como travar esse impulso que as crianças têm de representar como crianças. Desde muito pequenino que é muito maleável, muito inteligente. Não tenho de o apanhar desprevenido. Faz uma coisa extraordinária que é eu falar com ele para dentro de cena e não mostra em nenhum momento que estou a falar com ele, toma o seu tempo e faz o que lhe digo.
Fez ainda na Escola de Cinema um filme chamado O Cadáver Esquisito. Este título parece anunciar todo o cinema que fez depois. Residia ali algum tipo de programa que se estende até Mariphasa?
Paulo Rocha referia-se a esse filme como um magnífico sketchbook. Estavam ali várias possibilidades de filmes que eu poderia vir a fazer. De facto, várias coisas foram revisitadas ao longo dos meus filmes seguintes. Formalmente é, no entanto, muito diferente. Para esse filme, escrevi seis monólogos, vinte páginas, o contrário do que faço hoje em dia. O que fica de estrutural é a minha vontade de não afirmar muito as coisas. Foi algo que sempre segui, não permitir que as coisas façam um sentido literal para que outro tipo de sentidos pudesse emergir. A linguagem do cinema está tão codificada que, hoje, temos que negar muitas coisas, fazer muitas coisas ao contrário para que aquilo que estamos a fazer não seja lido como tudo o que está à volta.
Os seus filmes, e este em concreto, não se parecem com nenhuns outros. Que afinidade intelectual ou estética sente relativamente a outros realizadores do presente?
Temos uma história do cinema inteira atrás de nós, com muitas coisas extraordinárias e inúmeras coisas admiráveis. Nunca pus o meu trabalho em diálogo com coisas que admire. Filmes de que gosto, dos recentes, são os de Apichatpong [Weerasethakul], sendo que o que ele faz não tem muito a ver com o que eu faço; é mais caloroso, mas há um lado subterrâneo também ali que eu gosto de ver. Há nele um extraordinário compromisso entre um cinema que não deixa de ser afetivo, mas bastante abstrato também. Para mim a realidade não basta, a realidade social, política, tudo isso. Preciso de expandir o meu imaginário, tornar expressionistas os elementos da realidade.
David Cronenberg disse em Veneza que não vai ao cinema há anos, que o cinema acabou, tal como os discos de vinil ou as máquinas de escrever, e que ir hoje ao cinema é uma retroatividade. O que pensa disto?
A minha experiência da sala tem ainda um lado mágico que não gostaria de perder. Socialmente, economicamente, a ideia de cinema como nós a conhecemos, numa sala, com muita gente a ver ao mesmo tempo é uma coisa que está a perder sentido. De facto parece uma coisa do passado que não dirá muito às gerações mais novas. Saber se vê numa sala, saber se vê numa televisão grande, se vê num telemóvel, isso infelizmente muda a natureza dos objetos que se pode produzir. Percebo o que ele quer dizer mas, afetivamente, não estou próximo disso.
Os juncos acumulados junto à foz do Rio Seco, que aqui desaguava e que corre ainda no subsolo, estão na origem do nome Junqueira. Usado pela primeira vez num documento oficial do reinado de D. Dinis, no qual o monarca doa os terrenos deste sítio à Abadessa do Mosteiro de Odivelas, D. Urraca Pais, viria a fixar-se na toponímia da cidade no século XVIII. Durante este século assiste-se a uma corrida à zona por parte de famílias nobres que aqui ergueram quintas de veraneio com sumptuosos palácios onde o rio chegava.

O percurso pela memória aristocrática da Junqueira começa no Palácio dos Condes da Ribeira Grande, cujo brasão ornamenta a fachada. Mais conhecido por aqui ter funcionado o Liceu Rainha D. Amélia, foi construído no início do século XVIII por Francisco Baltasar da Gama, marquês de Nisa e descendente de Vasco da Gama. Comprado mais tarde pelo conde da Ribeira Grande foi pouco afectado pelo Terramoto de 1755. Nele viveu o único filho do conde, D. Gonçalves Zarco da Câmara, o primeiro nomeado português ao Prémio Nobel da Literatura. Apesar de bastante alterado depois da adaptação a estabelecimento de ensino na década de 1920, conservou os traços originais na fachada, nos jardins e na capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Aguarda o início das obras que o transformarão num hotel e museu.

Passando a travessa dos Condes da Ribeira, encontra-se o Palácio Burnay, um dos mais imponentes edifícios desta rua. Classificado como Imóvel de Interesse Público é, na sua feição actual, uma construção do século XIX, mas a sua origem remonta ao início do século XVIII quando o irmão do conde de Sabugosa aqui ergueu uma casa. A seguir ao terramoto de 1755 foi comprado pelo Patriarca de Lisboa, D. Francisco de Saldanha, para residência de verão, sendo conhecido a partir de então, e durante quase um século, por Palácio dos Patriarcas. Na primeira metade do século XIX, muda novamente de mãos, sendo adquirido pelo financeiro brasileiro Manuel António da Fonseca, alcunhado de Monte Cristo, que o remodela ao gosto burguês oitocentista. Poucos anos depois, este homem excêntrico de quem se dizia que bebia chá por taças de ouro, vende o Palácio a D. Sebastião de Bourbon, infante de Espanha e neto do rei de Portugal, D. João VI. Alienado pelos seus herdeiros, foi comprado num leilão em 1879 pelo conde de Burnay que realizou obras profundas, nas quais participaram artistas como Rodrigues Pita, Ordoñes, Malhoa e os italianos Carlo Grossi e Paolo Sozzi. Depois da morte do conde, o Palácio foi comprado pelo Estado à sua viúva, tendo sido aí instalados diversos serviços . Nos anos mais recentes acolheu o Instituto de Investigação Científica Tropical.

Ao lado ergue-se o Palácio dos Condes da Ponte que aqui habitaram até finais do segundo quartel do século XVIII. Os registos dizem que depois disso pertenceu a um membro da família Posser de Andrade e que aqui terá ficado hospedado o núncio apostólico Acciaioli, expulso de Portugal no tempo do Marquês de Pombal. Em 1945 foi adquirido pela Administração do Porto de Lisboa e sofreu várias alterações. No exterior, o seu jardim e cerca foram parcialmente ocupados aquando da construção do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e de alguns pavilhões do Hospital Egas Moniz.

O Palácio Pessanha Valada, o próximo da correnteza, deve o nome a dois dos seus proprietários: D. João da Silva Pessanha, responsável pela sua construção depois do terramoto de 1755, e o 2º marquês de Valada, D. José de Meneses da Silveira e Castro, Par do Reino do Conselho de D. Luís e oficial-mor da Casa Real, homem conhecido pela sua inteligência e erudição. Em frente a esta casa existiu um antigo forte convertido em prisão no reinado de D. José, onde estiveram presos o Marquês de Alorna e o padre Malagrida. Foi demolida em 1939 aquando das obras da Exposição do Mundo Português.

Passando o Hospital Egas Moniz, o caminho é interrompido pelo início da Calçada da Boa Hora onde se situa o Palácio da Ega, cuja história se encontra ligada ao apogeu e decadência da família Saldanha. O primitivo edifício, datado do século XVI, foi alvo de uma profunda campanha de obras no século XVIII, era então proprietário o 2º conde da Ega, Aires José Maria de Saldanha. É desta época o faustoso Salão Pompeia, revestido com painéis de azulejos holandeses representando vistas de portos europeus, que se encontra classificado como Imóvel de Interesse Público. Na época das Invasões Francesas, esta casa conheceu dias de glória pelas festas promovidas pelo conde, nas quais era convidado assíduo o general Junot. A amizade com os invasores levou a família ao exílio e o Palácio serviu primeiro como hospital e depois como quartel-general do marechal Beresford a quem acabou por ser doado por D. João VI, em 1820. Três anos depois a família Saldanha é reabilitada e requer a propriedade que, contudo, não consegue manter. É vendida e passa por vários proprietários até ser adquirida pelo Estado em 1919 que aqui instalou o Arquivo Histórico Colonial (hoje Arquivo Histórico Ultramarino).

Um extenso muro bordejado por árvores acompanha o regresso à Rua da Junqueira. O muro delimita a Quinta das Águias, o magnífico conjunto do século XVIII hoje votado ao abandono, apesar de classificado como Imóvel de Interesse Público. A origem desta quinta remonta a 1713 quando um advogado da Casa da Suplicação aqui construiu um palácio. A propriedade foi vendida em 1731 a Diogo de Mendonça Corte-Real, Secretário de Estado no reinado de João V, que nela empreendeu grandes obras, julga-se que sob a responsabilidade de Carlos Mardel, de quem era próximo. Diogo Corte-Real viria a ser condenado ao degredo pelo Marquês de Pombal e nunca mais regressou à Junqueira. Após a sua morte, em 1771, uma longa disputa entre os seus herdeiros e a Santa Casa da Misericórdia, a quem o ex-secretário legara seus bens, conduz ao abandono e ruína da quinta. Em 1841 foi comprada em hasta pública pelo empresário José Dias Leite Sampaio que a recupera, presume-se que com projecto do italiano Fortunato Lodi. Depois da sua morte a Quinta das Águias, que deve o seu nome às duas grandes águias de pedra que ladeavam o portão, passou por vários proprietários, entre os quais o Dr. Fausto Lopo Patrício de Carvalho, que entre 1933 e 1937 realiza obras profundas com a ajuda dos arquitectos Vasco Regaleira e Jorge Segurado. Atualmente, o Palácio que foi várias vezes roubado e vandalizado, encontra-se à venda.

Uns passos adiante, numa reentrância da rua, o colorido do Chafariz da Junqueira impõe uma paragem. Construído em 1821 sob o traçado do arquitecto Honorato Macedo e Sá, entrou em funcionamento no ano seguinte. Inicialmente alimentado por uma mina de água localizada no Alto de Santo Amaro, passou a ser servido, a partir de 1838, por uma nova fonte próxima do Rio Seco. O arranjo actual é da autoria de Raul Lino que mandou colocar reproduções de azulejos rococó. Em frente, erguem-se as traseiras da Cordoaria Nacional, edifício que se estende por cerca de 400 metros e que foi um dos primeiros pólos industriais da Junqueira. Criada no século XVIII por decreto do Marquês de Pombal, produzia cabos, velas, tecidos e bandeiras.

Algumas portas acima, surge um dos mais notáveis edifícios da Junqueira, a Casa de Lázaro Leitão Aranha onde hoje se encontra instalada a Universidade Lusíada. Edificada em 1734 por esta importante figura do reinado de D. João V, que entregou a obra a Carlos Mardel, esta casa acolheu inquilinos ilustres como o príncipe Carlos Mecklemburgo, cunhado do rei de Inglaterra. Foi também palco de escândalos como o rapto de D. Eugenia José de Meneses, levado a cabo em 1803 pelo médico da corte, João Francisco de Oliveira, com a suspeita de ter sido um serviço prestado ao príncipe D. João, o verdadeiro sedutor. O Palácio foi passando por vários proprietários que efectuaram obras a cargo de arquitectos como Korrodi, Bigaglia, Francisco Vilaça e Raul Lino. Numa dessas campanhas, a capela de 1740 dedicada a Nossa Senhora da Conceição foi convertida em cocheira, tendo os azulejos originais sido tapados por paredes de alvenaria.

A caminho do último ponto do percurso podem observar-se, à esquerda, duas moradias Arte Nova com fachadas embelezadas com arcos decorativos e varandas de ferro forjado. Frente ao Palácio do Marquês de Angeja, no Largo com o mesmo nome, regressamos ao século XVIII. Depois de ver a sua casa destruída no Terramoto de 1755, o marquês, D. Pedro António de Noronha e Albuquerque, recebeu da coroa os terrenos na Junqueira onde antes existira um forte, para construção de nova habitação. Diz-se que aqui se terá refugiado D. José I depois do atentado de que foi alvo em 1758. O Palácio manteve-se na posse da família Angeja até 1910, data em que foi comprado pelo comerciante José Alves Diniz que o transformou em prédio de rendimento, tendo tido como inquilinos figuras ilustres como Bernardino Machado e Almeida Garrett. Na ala poente do Palácio, onde funcionou uma escola, encontra-se instalada desde 1965 a Biblioteca Municipal de Belém.
Germano Almeida
O Fiel Defunto
Editorial Caminho
Quando soube que lhe tinham atribuído o Premio Camões 2018, o cabo-verdiano Germano Almeida estava prestes a lançar o novo romance, O Fiel Defunto, em que brinca com a literatura por interposto autor (Miguel Lopes Macieira) e expõe toda a sociedade no seu traço de vaidade que pode ter consequências passageiras ou decisivas. Um amor louco que conduz a um crime ou a produção literária obsessiva que leva ao fim de uma relação são situações marcadas pela autocomplacência que alimenta uma vaidade pessoal. Romance de extrema leveza de pluma, que vai desfiando estórias que divergem em mais estórias até convergirem num retrato de conjunto local mas também universal, O Fiel Defundo usa de grande coloquialidade nas variações entre discurso direto e indireto, no que pode dar a sensação de que se trata de um livro superficial. Nada mais errado. A impressão de espontaneidade decorre do talento genuíno e da maestria de quem faz uso das faculdades da escuta e da escrita.

Maria José Fazenda
Da Vida da Obra Coreográfica
Imprensa Nacional
Este livro é parte das celebrações dos 40 anos de actividade da Companhia Nacional de Bailado (CNB). Maria José Fazenda, cujas páginas de crítica de dança no Público ainda estão na memória dos leitores, apresentou à então directora artística da CNB, Luísa Taveira, a proposta da travessia pela história da obra coreográfica, contextualizando cada exemplo no seu período, no meio artístico e sociocultural em que surgiu, e no âmbito do seu ressurgimento, retrabalhado pela CNB. A obra chama ainda a atenção para a responsabilidade da companhia na preservação e transmissão de um património da dança, mas também na criação contemporânea. A seleção das peças coreografadas leva em conta a cronologia que percorre os seis capítulos, a relevância artística e cultural das obras, o facto de terem vindo a ser reencenadas ao longo do tempo, e as alterações que motivaram na representação do corpo, do tempo histórico até ao presente. Entre capítulos surgem páginas a negro, recheadas com fotos do Arquivo CNB.

Reinaldo Ferreira
Punhais Misteriosos
PIM! Ediçoes
Escrita em Espanha, foi publicada em Portugal entre agosto e novembro de 1924, nas páginas do matutino Correio da Manhã, com o título Punhais Misteriosos e a assinatura de Edgar Duque, outro dos pseudónimos de Reinaldo Ferreira, antes de adotar o definitivo Repórter X. A história, protagonizada por um jovem oficial do exército espanhol que se perde de amores por uma “mourita encantada” no icónico Palace Hotel do Buçaco, desencadeando várias peripécias que levam o leitor até Madrid, Barcelona e aos confins de Marrocos, foi adaptada ao cinema pelo próprio Reinaldo. O filme foi um fracasso e, após uma única projecção em Lisboa, desapareceu quase sem deixar rasto. Esta grande narrativa do pioneiro português do romance policial, na qual, segundo o autor, “vibra a sentimentalidade portuguesa, capaz dos maiores sacrifícios e o orgulho inato do castelhano, que é mantido através de todas as contrariedades”, é agora reeditada com uma introdução de Joel Lima, capa de Nuno Saraiva e múltiplos recortes de imprensa.
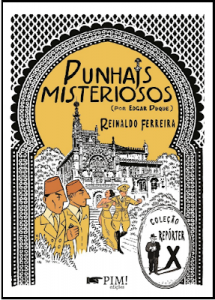
Byung-Chul Han
Filosofia do Budismo Zen
Relógio D’Água
Filosofia do Budismo Zen é o décimo livro do filósofo coreano radicado na Alemanha que a Relógio D’Água publica a um ritmo assinalável. As obras deste autor são invariavelmente livros curtos que atraem igualmente pelos títulos que apontam sintomas ou preocupações das sociedades contemporâneas. Exemplos: A Sociedade do Cansaço, A Agonia de Eros ou A Expulsão do Outro. O budismo zen caracteriza-se por um cepticismo face à linguagem e uma desconfiança relativa ao pensamento conceptual. Em vez de palavras, escolhe silêncios. E coloca enigmas onde esperaríamos encontrar respostas. Byung-Chul Han compara os pontos de vista filosóficos do budismo zen com exemplos dos trabalhos de Platão, Leibniz, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger. Dizer o que este livro é vai contra a natureza do seu tema. A leitura, pontuada pelos haikus citados, visa criar no leitor uma predisposição para se desapegar de si mesmo, dissolvida a rigidez substancial de tudo.
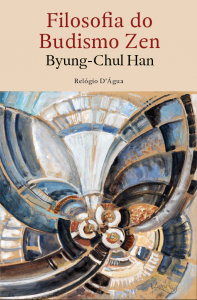
Francesco Petrarca
Rimas
Quetzal
Francesco Petrarca (1304-1374), humanista e filósofo, uma das referências fundamentais da literatura ocidental, foi o pai do soneto, cuja estrutura aperfeiçoou de forma inovadora e definitiva, e que não deixou de inspirar muitos outros poetas até aos dias de hoje. Petrarca dedica a maior parte dos poemas reunidos em Rimas ao amor (à frustração amorosa) e a Laura, uma “musa impossível”. Subsistindo embora dúvidas quanto à identidade da destinatária destes versos (“aquela entre as mulheres que é sol”), Vasco Graça Moura, tradutor da presente obra, refere, na introdução, “a existência de documentos importantes da autoria do próprio Petrarca que apoiam a tese da existência de Laura na vida real”, não se tratando, pois, de uma mera “ficção alegorizante”. Esta tradução venceu o Prémio Internacional Diego Valeri (2004) que, desde 1971, distingue traduções de obras de Petrarca. “Uma aposta impossível” que Vasco Graça Moura tentou apenas quando se sentiu preparado para o fazer, depois de ter lido Camões e outros petrarquistas europeus.

Ray Bradbury
Fahrenheit 451
Saída de Emergência
Fahrenheit 451 é um o único grande romance distópico do século XX escrito por um autor de ficção científica. Admirável Mundo Novo, 1984 e A História de uma Serva saíram todos da pena de escritores “mainstream”: Aldous Huxley, George Orwell e Margaret Atwood. Numa sociedade do futuro alicerçada no prazer, no entretenimento, na excitação e no esquecimento, os bombeiros ateiam fogos, não os apagam: destroem os livros proibidos e as casas onde estão escondidos. Montag, um desses bombeiros, cruza-se acidentalmente com uma jovem que lhe fala da memória de um passado diferente. Subitamente, apercebe-se que vive numa comunidade onde as pessoas se limitam “a dizer coisas” e os livros são proibidos porque “falam sobre o sentido das coisas”, decidindo trilhar os caminhos da dissensão. Esta obra profética, agora numa cuidada edição com um excelente posfácio de João Seixas, é também uma eloquente homenagem ao poder transformador da literatura e ao livro, “única peça feita da costura de vários bocados do universo”.
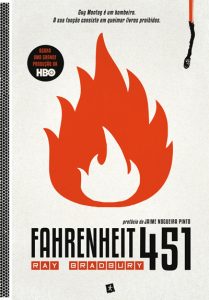
Ted Hughes
O Homem de Ferro
Ponto de Fuga
Os poetas Ted Hughes (1930-1998) e Sylvia Plath (1932-1963) formaram um dos mais famosos casais literários da segunda metade do século XX. Estes dois volumes infanto-juvenis, ilustrados com expressivas xilogravuras de Andrew Davidson, foram dedicados pelo escritor aos seus filhos, Frieda e Nicholas. O Homem de Ferro, originalmente publicado em 1968, narra a história de um gigante que, vindo não se sabe de onde, salva a terra num momento delicado de crise, a era da Guerra Fria e da ameaça nuclear. Um quarto de século depois, o poeta cria uma sequela que tem a Mulher de Ferro como protagonista. Estas duas belíssimas obras fazem eco das preocupações pacifistas e ambientais do poeta.

Ted Hughes
A Mulher de Ferro
Ponto de Fuga
Nesta sequela, a luta trava-se contra os excessos do capitalismo selvagem e a industrialização desenfreada que consome os recursos naturais e ameaça os ecossistemas do planeta. A Mulher e o Homem de Ferro, figuras herdadas do universo da ficção científica, aparentemente temíveis e ameaçadoras, mediadas por duas crianças, Hogarth, um rapaz desgrenhado, e Lucy, uma rapariga pálida, tornam-se nos melhores aliados da humanidade. No volume de poesia Cartas de Aniversário, obra de profundo pendor autobiográfico, o autor confessa: “Aos vinte cinco anos estava de novo pasmado / com a minha ignorância das coisas mais simples”. Quando concebeu estes dois livros, Ted Hughes já sabia tudo “das coisas mais simples”, única forma de chegar ao coração das crianças.
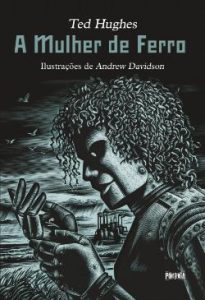
Último momento da trilogia de dramas sociais assinados pelo autor e encenador argentino Claudio Tolcachir (n. 1975), O vento num violino conta histórias paralelas que a dado momento se cruzam. Como o próprio as define, estas são “histórias de pessoas desamparadas, repletas de ausência e de perda, e que giram em torno do seu projeto de amor, o qual corre sempre mal”. De um lado, há uma mãe abastada a braços com o filho, um trintão sem rumo; do outro, de um estrato social mais baixo, outra mãe, a que convive com a urgência de a filha lésbica pretender ter, com a sua companheira, a experiência da maternidade. E será precisamente esse desejo que cruza estas vidas, através de uma solução extrema e imprevisível.

Para Andreia Bento, que interpreta a personagem de Dora, a mãe mais humilde, “a peça é um desenho exagerado dos erros que podemos cometer por amor. Consigo rever-me nessas duas mães que fazem tudo pelos filhos, pensando que estão a contribuir para a felicidade deles”. Porém, por muito disfuncionais que sejam as relações familiares entre as personagens da peça, estes jovens não procuram uma existência à margem da família, antes sentem o desejo de criar um núcleo familiar alternativo que fuja à normatividade dos modelos tradicionais. A criança que vai nascer representa, para eles, uma projecção da felicidade que procuram. “Amas o desejo de ter um bébé”, diz uma personagem a outra. E a resposta que encontram passa por uma nova formulação de família: duas mães, um pai e o filho dos três.

Nome consagrado do teatro argentino, e um dos seus autores mais aplaudidos internacionalmente, Tolcachir e a companhia Timbre 4 já haviam apresentado esta peça em 2013, no Festival de Almada. Relativamente ao estilo do autor, sublinha Pedro Carraca, que interpreta a personagem de Santiago, o psicólogo: “ Tolcachir afasta-se do naturalismo e cria um universo entre o aceitável e o exagero”. Para Jorge Silva Melo, fundador e diretor artístico da companhia, o escritor representa a nova geração de uma literatura dramática cheia de tradições e caracterizada pela “riqueza, diversidade, espontaneidade, irreverência e indisciplina”.
Esta encenação coletiva dos Artistas Unidos marca a estreia de uma companhia portuguesa no teatro transgressor e surpreendente do autor de A Omissão da Família Coleman e Terceiro Corpo.
[texto coescrito por Luís Almeida d’Eça]
Esta edição inicia-se, assim, com uma mudança naquele que tem sido o rumo normal do Jazz em Agosto. Para o diretor artístico do festival, Rui Neves, “as mudanças fazem parte da continuidade de qualquer festival de música, podendo ser entendidas antes como renovações, porque a música está sempre a evoluir”. A escolha recaiu no nova-iorquino John Zorn, “um músico com um percurso essencial que muito consideramos pela sua criatividade, originalidade e diversificação”.
No concerto de abertura (já esgotado), a 27 de julho, Zorn junta-se a Thurston Moore (fundador dos Sonic Youth). Este não será o seu primeiro encontro, mas será certamente um momento muito aguardado, uma vez que Zorn “é um músico que capta admiradores tanto no jazz como no rock, e provavelmente na música clássica, porque também se exprime nesta área”. Destaque para o espetáculo de dia 29 de julho, em que a soprano canadiana Barbara Hannigan se junta ao pianista Stephen Gosling para interpretarem Jumalattaret, um ciclo de canções para voz e piano de adoração aos deuses, com música de John Zorn.
A programação, que contou com a colaboração do próprio compositor, inclui dois grupos portugueses: The Rite of Trio e Slow is Possible. “É um músico muito admirado em Portugal. Poderemos, assim, verificá-lo no largo horizonte da sua atualidade”, acrescenta Neves.

A propósito de portugueses, André Silva, Filipe Louro e Pedro Melo Alves formam o trio portuense The Rite of Trio, que se caracteriza por uma sonoridade jazz jamba core. Nenhum dos músicos teve ainda oportunidade de assistir a um concerto da lenda americana, “será este ano a primeira”. Para o grupo, “Zorn pertence à geração inquieta de músicos que, à semelhança do Marc Ribot ou Frank Zappa, pegam na herança viva do jazz dos anos 60 e a associam sem fronteiras aos novos movimentos estéticos que se verificavam na segunda metade do século XX, nomeadamente o som e energia do rock, as incursões eletrónicas, o free jazz e a escrita vanguardista da música erudita”. O grupo foi escolhido para integrar a programação deste ano por ter, na sua origem, a ideia da música de Zorn. Como os próprios referem, ele abriu caminho para “o caldeirão de liberdade e criatividade no qual a nossa geração hoje em dia pega para criar sem estar limitado a um só cânone estético”, e consideram-no “sem dúvida, um dos embaixadores desta atitude de criação na qual nos revemos e que, mais do que um género musical, se define pela abertura ao risco, atenção às novas ideias e abrangência estética”.
Em relação à discografia de Zorn, “será provavelmente nos discos de Naked City que nos revemos de forma mais consensual, pelo espírito de reinvenção da composição em grupo. Seria de destacar sobretudo o Naked City, álbum de estreia do grupo de 1990, ou Grand Guignol, com abordagens a peças de compositores da música erudita”. Dentro da programação, os The Rite of Trio destacam “sobretudo o duo da Barbara Hannigan com o Stephen Gosling (29 de julho), e o trio do Craig Taborn com a Ikue Mori e o Jim Black (2 de agosto)”. A banda atua a 30 de julho, às 18h30.

Os Slow is Possible são a outra banda portuguesa escolhida para atuar nesta edição do Jazz em Agosto. Nascido em 2013, o grupo é composto por João Clemente, Ricardo Sousa, Bruno Figueira, André Pontífice, Duarte Fonseca e Nuno Santos Dias, e define o seu tipo de jazz como “instrumental, free, avant gard, rock, improviso e cinematográfico”. Para eles, Zorn “representa a liberdade total, o conhecimento e assimilação de todas as linguagens artísticas existentes, assente numa transversalidade de géneros e estilos que possibilita a criação de discursos musicais genuínos e complementares” sendo, por isso, “uma figura que nos influenciou de formas bastante diversas. O sentido de comunidade e a coragem artística talvez sejam as características mais inspiradoras”. No total, os seis membros da banda já viram o músico americano ao vivo oito vezes, três das quais na Gulbenkian. São vários os discos que destacam como inspiração, entre eles Masada, The Gift, Astronome ou School. Dentro da programação, destacam os concertos de Mary Halvorson Quartet + Masada (28 de julho), The Hermetic Organ (29 de julho) e Nova Quartet + Asmodeus (30 de julho). Os Slow is Possible atuam a 2 de agosto, às 18h30.
O festival encerra dia 5 de agosto com Secret Chiefs 3 plays Masada, às 21h30. São muitas as razões para não perder a 35ª edição do Jazz em Agosto, festival que, nas palavras do seu programador, “sempre se caracterizou por não ter plano fixo”. Em boa verdade, este é um festival que se tem vindo a reinventar de ano para ano, como o provam as “mudanças quer no número de concertos, quer nos locais, quer nas propostas musicais”.
E, de futuro, o que podemos esperar do Jazz em Agosto? A resposta de Rui Neves é clara: “continuaremos por certo o nosso caminho habitual de mudança.”
O DESCOLA é uma provocação para todos os que concebem a educação como um ato de liberdade. Resultado do trabalho conjunto e da aposta continuada da Câmara Municipal de Lisboa na dimensão educativa do património cultural e artístico da cidade, este programa de atividades reflete a vontade de o fazer chegar a todos, e ao longo da vida, como fonte de inspiração e sentido de pertença. Dirigido especificamente ao público escolar, o DESCOLA representa um desafio assumido pelas equipas educativas municipais, da EGEAC e Direcção Municipal da Cultura, no sentido de desenvolver um programa de actividades criativas sustentado em colaboração estreita com mediadores, artistas e professores.
As actividades propostas pelo DESCOLA – alinhadas, repensadas e criadas de raiz –, tiveram sempre o Perfil do Aluno do séc. XXI como referência, e o património cultural e artístico de Lisboa como campo de pesquisa, de questionamento e de criatividade.
No DESCOLA estão mais de vinte agentes culturais municipais – museus, teatros, arquivos e bibliotecas – que acreditam na força educativa das artes e da cultura e querem participar, com professores e alunos, na construção de escolas que se afirmem como comunidades de aprendizagem, abertas e interventivas.
DESCOLA
Programa completo
por ciclo e por tipologia de atividades:
Introdução
Professores
Pré-escolar
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Secundário
Atividades Acessíveis
Projetos Especiais
Serviços e equipamentos informações e contactos para marcação

Orhan Pamuk
A Mulher de Cabelo Ruivo
Editorial Presença
Romance edipiano, narra a história de Cem Çelik, um jovem abandonado pelo pai. Cem aceita um trabalho como aprendiz de um escavador de poços, criando com o mestre uma ligação filial. Um dia, sente uma atração irresistível por uma mulher de cabelo ruivo e abandona o mestre no momento em que este sofre um grave acidente. O sentimento de culpa é incomensurável. Ao longo da vida tenta agir “como se nada tivesse acontecido”, mas tudo lhe recorda o seu crime. Lê os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, em Teerão depara-se com imagens de Rostam, o héroi do poema épico Shahnameh, nos museus de Paris com os quadros Édipo e a Esfinge de Ingres e de Gustave Moreau, em Moscovo com Ivan, O Terrível, com seu Filho, de Ilya Repin. Em Istambul assiste à projecção de Oedipus Rex de Pasolini, com Silvana Mangano, ruiva magnífica. Pamuk escreve sobre um dos temas mais antigos da história da literatura, “o enigma de pais e filhos”, e promove uma reflexão fascinante sobre a relação entre mito e realidade, passado e presente, memória e esquecimento.

Lídia Jorge
Estuário
Dom Quixote
Após Os Memoráveis, lúcida e corajosa revisitação dos mitos da Revolução de Abril de 19174, Lídia Jorge narra, neste seu novo romance, a história de um jovem sonhador que tem uma terrível premonição do futuro. Edmundo Galeano esteve em missão humanitária nos campos de Dadaab no Quénia onde, na sequência de um acidente, perdeu três dedos da mão direita. Foi junto dos refugiados, nessa imensa cidade de poeira, que teve um vislumbre do fim da humanidade. De regresso a Lisboa, à casa de família no Largo do Corpo Santo, treina incansavelmente a sua mão, copiando trechos da Ode Marítima e da Ilíada, a fim de se preparar para escrever um livro destinado a tentar evitar o fim do mundo. A falência do negócio de família, leva os seus quatro irmãos a venderem o património e a refugiarem-se na casa paterna, desencadeando uma verdadeira luta territorial. É de volta ao seio da família que vai vivenciar uma tragédia e perceber que antes de escrever o livro sobre o fim do mundo é preciso tentar salvar aqueles que melhor conhece e mais ama.

Mark Harris
Os Cinco Magníficos: Hollywood e a Segunda Guerra Mundial
Edições 70
Os primeiros anos da II Grande Guerra constituíram um período crítico para o cinema americano que perdeu quase por completo o mercado europeu. Hollywood, com uma comunidade em grande parte composta por emigrantes do velho continente, incluindo alguns dos seus principais cineastas, não pôde passar ao lado da guerra. A partir de 1938, com Confissões de um Espião Nazi de Anatol Litvak, muito antes do ataque a Pearl Harbour e da entrada dos Estados Unidos no conflito, a indústria associava-se ao esforço de guerra produzindo filmes de propaganda antinazi. Este livro, rigoroso mas de leitura compulsiva, narra a história de cinco grandes realizadores de Hollywood – John Ford, George Stevens, John Huston, William Wyler e Frank Capra – que foram para os campos de batalha armados com câmaras de filmar, moldando a percepção do público sobre os grandes momentos da guerra. Demonstra como Hollywood contribuiu para alterar o rumo da Segunda Guerra Mundial e revela, consequentemente, a forma como a guerra mudou a indústria do cinema americano.

William Wordsworth
Poemas Escolhidos
Assírio & Alvim
A infância do grande poeta romântico William Wordsworth (1770/1850) vivida na paisagem natural de Lake District foi uma experiência intensamente feliz cuja memória moldaria a sua obra literária. Contudo, a sua poesia não é apenas uma mera evocação da natureza, mas o produto de alguém que, através do “coração e da mente”, procura o elo profundo entre as paixões humanas e a beleza das formas permanentes da natureza. O poeta pretende entender melhor a humanidade mediante uma “apreensão visionária” daquilo a que chama “a forma das coisas”. No poema As Mesas Voltadas escreve: “Um ímpeto de bosque vernal / Pode ensinar-te mais / do Homem, do bem, da moral / Do que sábios e tais.” A Ode: Sugestões de Imortalidade termina com os seguintes versos: “Pra mim a flor mais simples tem em si / Meditações profundas mais que as lágrimas”. A presente antologia, com selecção, tradução e introdução do poeta português Daniel Jonas resulta“ não apenas do gosto pessoal do seu tradutor, mas idealmente de uma leitura desejadamente informada e ampla do seu autor”.
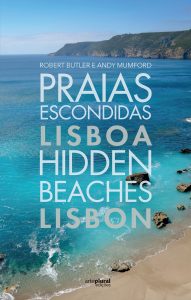
Robert Butler e Andy Mumford
Praias Escondidas: Lisboa
Arte Plural
Quantos lisboetas já ouviram falar ou já se banharam na Praia da Ursa, na Praia do Giribeto ou na Praia dos Lagosteiros? No entanto, todas elas se situam a menos de uma hora de carro da capital. Este livro ilustrado com belíssimas imagens de Andy Mumford, fotógrafo profissional de paisagens e viagens, apresenta-nos 32 praias, verdadeiras jóias escondidas a oeste e a sul de Lisboa (Sintra Norte, Sintra Oeste, Costa de Lisboa, Cabo espichel e Arrábida), e lança o mote para as protegermos e conservarmos. Robert Butler, autor do texto, professor de inglês no British Council Lisboa e guia de percursos pedestres, não se limitou, neste roteiro, a sugerir óbvias praias com belos areais, excelentes para aproveitar o sol e tomar banhos de mar. Incluiu também enseadas rochosas que se alcançam com caminhadas deslumbrantes, baías isoladas ideais para snorkeling e praias perfeitas para piqueniques em família, a prática de canoagem ou de campismo livre. Este verão leve consigo este guia essencial e parta à descoberta do nosso belíssimo litoral.
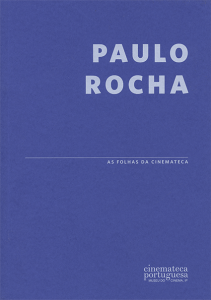
As Folhas da Cinemateca
Paulo Rocha
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
Em 2018 teve início a segunda vida da colecção As Folhas da Cinemateca, que em período anterior, até 2011, deu origem à publicação de 28 volumes. A segunda série arranca com edições dedicadas a Fernando Lopes e a Paulo Rocha, duas figuras principais do cinema feito no nosso país na segunda metade do século XX, que partilham os mesmos anos de nascimento e morte: 1935 e 2012. Maria João Madeira organiza a edição dedicada ao cineasta de Os Verdes Anos (1963), Mudar de Vida (1966) ou O Rio do Ouro (1998), que conheceu recentemente a honra póstuma de ver um dos seus outros filmes, A Ilha dos Amores (1982), ser exibido em cópia recentemente restaurada, numa secção dedicada a clássicos do cinema do Festival de Cannes. O volume abarca como é habitual toda a obra de Paulo Rocha, com textos da autoria de João Bénard da Costa e Jorge Silva Melo, Luís Miguel Oliveira e Inês N. Lourenço, entre outros. É muito agradável a sensação que se tem ao folhear esta nova série da colecção. O prazer táctil é superior, e os olhos também ganham com a maior qualidade do papel que serve na perfeição as muitas imagens que ilustram ou separam os textos. Algumas muito belas, como os filmes de Paulo Rocha.

Ernesto Matos
Calçada Portuguesa – Scriptum in Petris
Sessenta e Nove Manuscritos
“Nenhum povo do mundo se pode gabar de possuir tão rica e vasta colecção de hinos patrióticos (…).” Assim se referiu, Almeida Garrett, à arte de pavimentar as calçadas do Passeio Público de Lisboa, no seu livro O Arco de Sant’Ana. Ernesto Matos, incansável divulgador desta arte tão tipicamente portuguesa, espalhada pelos sete cantos do mundo, oferece-nos agora um dos seus livros mais singulares e originais sobre o tema. Um projeto que aborda a calçada portuguesa através das suas pedras, das suas mensagens gráficas e literárias como formas de arte. Cada interveniente teve aqui a oportunidade de se manifestar livremente, dando à pedra algo de si. Foram convidados vários artistas plásticos de renome nacional e internacional, bem como algumas escolas do país e gente, muita gente que aceitou o desafio de se “confessar”, afinal, numa simples pedra da calçada. Revele-se também numa das páginas deste livro que está guardada para si.
paginations here