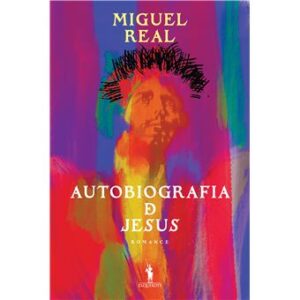
Miguel Real
Autobiografia de Jesus
“Todos os homens são um enigma, (…) mas tu és um mistério”, afirma José a seu filho em Autobiografia de Jesus. Parte desse mistério pretende este livro desvendar. Tomando a voz de Jesus, revela a sua vida familiar, a sua aprendizagem, as suas revelações, a sua solidão (“São os meus traços essenciais, sentir-me só e estar triste.”) O autor separa a ética de Jesus, “a ética das Bem-Aventuranças”, da ética de Cristo, “a da dor, do sacrifício, do tormento e da resignação”, e recorre a esta narrativa como forma resolver as inquietações que o tema da Ressurreição lhe suscita desde a infância. Afirmando uma visão profana da vida de Jesus (“um Jesus humano, não transcendente nem sobrenatural”), defende que este foi o homem mais fracassado da civilização ocidental: morreu abandonado pelo “Pai” e “tudo o que profetizou não só se cumpriu como deu origem à religião mais violenta do mundo”. Com um final engenhoso, este romance singular reabilita, de forma corajosa e bela, um pouco à semelhança de A Última Tentação de Nikos Kazantzakis, a figura de Judas Iscariote e assume o remorso de Jesus por ter tratado Maria Madalena de forma condescende e por não a ter convidado para a mesa da ceia pascal, entre os seus mais chegados companheiros. LAE Dom Quixote
Ovídio
Remédios Contra o Amor
Nos Remédios Contra o Amor, Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.), o poeta que celebrou os prazeres do amor e que ensinou a explorar os seus segredos nos Amores e na Arte de Amar, parece que vem agora ajudar a fazer frente à suas contrariedades. Contudo, só aparentemente. Como afirma o próprio autor no início do poema “(…) eu sempre me entreguei ao amor / e se me perguntarem o que faço agora… pois bem entrego-me ao amor”. Carlos Ascenso André, tradutor e prefaciador da presente edição, sublinha, por isso, que Ovídio “continua a assumir a sua condição de porta-estandarte do mesmo amor que sempre apregoou e que de há muito lhe vem a nortear a vida e o fazer poético”. Sem renunciar ao carácter licencioso e erótico da sua poesia, enuncia uma série de preceitos uteis para evitar os males de amor. E, ao fazê-lo, subverte os códigos do protocolo amoroso e sexual de Roma: só a mulher é identificada com o amor e seus malefícios; o homem é sempre vítima. A mulher surge representada como detentora absoluta das regras de condução do processo amoroso. Os Remédios reafirmam, deste modo, “o direito da mulher à livre fruição do seu corpo, o seu direito ao prazer, o seu direito à escolha do parceiro de relação (…) semelhante ao do homem, em quem a sociedade contemporânea do poeta via o exclusivo na liderança do protocolo amoroso.” LAE Quetzal
James Baldwin
Um Outro País
Romancista, ensaísta, poeta e ativista dos direitos civis, foi, com Gore Vidal, um dos mais lúcidos espíritos críticos que a América produziu no século XX e um dos seus maiores intérpretes. O romance Um Outro País, publicado em Portugal no ano em que se celebra o centenário do seu nascimento, centra-se numa teia complexa de relações entre quatro casais, dos quais dois inter-raciais e um homossexual. Cada uma das personagens procura, à sua maneira, encontrar o verdadeiro amor para além dos conflitos de raça, sexo e género enraizados na sociedade norte-americana. Preconceitos que, através da persistência no tempo, se interiorizaram, inscrevendo-se no corpo e na mente de todas elas. Face a tão poderosos obstáculos, o fracasso do amor (o tema principal da obra) torna-se inevitável. À beira do desespero, os protagonistas entregam-se a uma espiral de desejo, agressão, sexo e traição que apenas contribui para reforçar o seu trágico sentimento de solidão e de angústia. Em pano de fundo, o peso hostil de Nova Iorque com as suas “torres orgulhosas e ávidas antenas”, sem “noção das exigências da vida humana”, “cidade sem oásis, virada inteiramente (…) para o lucro.” LAE Alfaguara

Anne Carson
Eros – Amargo e Doce
“Foi Safo quem primeiro chamou a Eros ‘amargo e doce’. Ninguém que se tenha apaixonado a contesta. Que significam essas palavras?” Neste seu primeiro livro, a poetisa, ensaísta, tradutora e classicista Anne Carson procura uma resposta para a questão paradoxal da divindade do prazer se apresentar como “um ser ambivalente, ao mesmo tempo amigo e inimigo”, de se traduzir numa experiência que causa uma simultaneidade de dor e prazer. Eros -Amargo e Doce foi imediatamente considerado um ensaio lírico comparável aos de Séneca, Montaigne ou Emerson. A obra diluiu as fronteiras entre antigo e contemporâneo, entre ensaio e poesia, e moldou a produção futura da autora, definindo as teorias sobre o desejo que inspiram a sua poesia, estabelecendo o processo de conceber os seus escritos a partir de textos clássicos gregos. O ensaio produz uma investigação sobre a natureza paradoxal do amor a partir da Grécia antiga, evocando referências da poesia, filosofia, literatura, história e psicanálise ao longo dos séculos, e apurando que “todo o desejo humano se equilibra num eixo de paradoxo, ausência e presença são os seus polos, amor e ódio as suas energias motrizes.” LAE Edições 70
Fábio da Silva
As 100 Maiores Curiosidades Sobre o Cosmos
Eis um livro de divulgação científica escrito por um autor que não é cientista nem astrónomo, mas prefere intitular-se como um astronauta da curiosidade. Fábio da Silva é um curioso insaciável, apaixonado pelo Universo e pela divulgação dos seus segredos. É um jovem de 33 anos formado em Jornalismo e Ciências da Comunicação, que exerceu funções de Direção Criativa. O seu gosto por comunicar materializou-se no Projeto Universo Perpendicular que usa as redes sociais para apontamentos de divulgação científica e só no Instagram conta com cerca de 90 mil seguidores. O seu livro, como o título indica, não pretende ter um fio condutor ou defender uma visão da evolução do conhecimento científico, mas através dos exemplos e histórias selecionadas dá uma boa contribuição para explicar, numa linguagem acessível e quase sempre com uma dose de humor, alguns dos princípios fundamentais e descobertas atuais do conhecimento científico sobre o universo de que fazemos parte. Espaço-tempo, teoria das cordas, ou coisas aparentemente simples como a razão do universo ser escuro ou das estrelas cintilarem, tudo é tema para a sua curiosidade. TCP Oficina do Livro
Conceição Evaristo
Olhos d’água
Um livro de contos pode ser uma boa porta de entrada para o universo de uma escritora. De uma assentada, a Orfeu Negro editou Olhos d’água e Canção para ninar menino grande, de Conceição Evaristo, afro-brasileira de 77 anos, mulher negra e ativista. O primeiro reúne 15 pequenas histórias com um denominador comum: não existem finais felizes, mesmo que, por vezes, até se vislumbrem laivos de esperança. Estas vidas – que são sobretudo de mulheres negras, cheias de mazelas, mas ainda assim, mulheres fortes – estão carregadas de dor e de pobreza, de violência e de morte, de sonhos desfeitos e de injustiças. No entanto, em cada uma delas, há também uma resistência até ao fim… mesmo que esse fim seja logo ali. Conceição Evaristo, que nasceu numa favela, se tornou intelectual e publicou o primeiro livro aos 44 anos, alinha palavras e frases de forma tão solta que estas parecem mesmo ter som, numa escrita-oralidade carregada de sotaque brasileiro. Depois de Olhos d’água, escrito há já 10 anos, vale a pena seguir para o romance, a sua obra mais recente, de 2022, onde narra a história de um homem e das muitas mulheres conquistadas por ele ao longo da vida. GL Orfeu Negro

Gonçalo Salvado
Luminea
“Quando a Luz do Meu Corpo me Cega, verdadeira gramática, quase uma enciclopédia do amor, obra simultaneamente complexa e de uma simplicidade mágica, junta num mesmo sortilégio palavra e imagem”, escreve a crítica de arte e poeta Maria João Fernandes que prefacia a obra. Luminea reúne uma seleção de poemas de Gonçalo Salvado e de desenhos de Siza Vieira, retirados do livro Quando a Luz do Teu Corpo me Cega, em versão bilingue português/braille. Compõem este livro poemas com o tema da luz no contexto amoroso, recorrente na obra do autor. A sua poesia, “ritual do amor, nas infinitas variações amorosas da palavra”, alimenta-se, recorrendo de novo a Maria João Fernandes, “dos diversos afluentes, temas dos outros livros do autor, a poesia e os textos de amor ancestrais e da grande tradição do lirismo, do Cântico dos Cânticos, de Safo, Ovídio e Omar Khayyam a Camões, Bocage, Leonardo Coimbra, Florbela Espanca, Pablo Neruda, Octavio Paz, Paul Éluard, Herberto Hélder, António Ramos Rosa e David Mourão-Ferreira, entre muitos outros”. Poesia valorizada ainda pela eloquente depuração das linhas de Siza Vieira. Duas serigrafias, numeradas e assinadas pelo arquiteto/artista, acompanham esta edição, impressas pelo Centro Português de Serigrafia (CPS), de Lisboa. LAE RVJ Editores
Teolinda Gersão
Autobiografia não escrita de Martha Freud
“Sou apenas figurante numa narrativa alheia, já escrita e considerada perfeita, vigiada dia e noite com uma devoção quase religiosa por uma multidão de pessoas que a assumem, propagam e defendem, sem permitir qualquer alteração (…)”. Neste romance, Teolinda Gersão resgata a figura de Martha Freud, casada com o célebre psicanalista Sigmund Freud, “silenciada e reduzida ao estereótipo de esposa, mãe e dona de casa” até 2011, data de publicação das suas cartas de noivado (“As cartas que trocávamos pareciam-me ‘um romance em episódios’, com os seus altos e baixos, peripécias e reviravoltas”). Através da interpretação desses documentos, a autora procura descobrir e dar voz à personalidade real de Martha. A protagonista tenta compreender quem foi, “na verdade, nas suas qualidades, mas também nos seus erros e falhas”, o homem por quem se apaixonou, na medida em que “saber quem é o outro é também saber quem fomos sendo, na relação com ele. Saber quem amei, e como, é também descobrir a minha própria face”. O livro, belíssima afirmação e revelação de uma identidade (“Além de Martha Freud, sempre tinha sido, e continuava a ser, Martha Bernays”), é também uma ampla e profunda reflexão sobre as múltiplas conexões entre memória, palavra e pensamento. LAE Porto Editora
Miguel Szymanski
A Viagem do Oligarca
Naquele que é o terceiro livro que Miguel Szymanski dedica a Marcelo Silva, jornalista especializado na investigação de crimes de colarinho branco, acompanhamos a vinda a Portugal de Oleg Porovich, um oligarca detentor de uma das maiores fortunas do mundo. A sua missão: derrubar o governo português com a ajuda, entre outros, do Ministro da Defesa. A acompanhar a mulher Jemima na promoção do seu livro, é durante a viagem inaugural dum comboio comprado por Oleg que Marcelo Silva vê a sua vida sofrer novo contratempo, depois de Oleg o ter “envenenado” e convencido a sua mulher a deixá-lo. Sem entender o que aconteceu, Marcelo resolve procurar Jemima, envolvendo-se numa densa trama que envolve alguns dos seus antigos colegas do curso de Direito, nomeadamente um antigo administrador da TAP, entretanto assassinado, e alguns traficantes e pescadores ilegais do bairro da Trafaria. Considerado “o grande representante do romance de natureza política”, pelo escritor Miguel Real a propósito do segundo thriller da série Marcelo Silva, O grande pagode (2020), Miguel Szymanski volta a criar um romance que transcende a natureza dos policiais. SS Bertrand Editora

Maria Filomena Mónica
Viagem de Inverno
Existem pelo menos três invernos para onde somos reenviados ao longo destes artigos, acompanhados de introdução, ensaio e epílogo, quase todos publicados nas revistas Atlântico e Sábado, e nos jornais Correio da Manhã, Expresso, Meia-Hora e Público. Aquele que inspira o título do livro diz respeito aos poemas musicados por Schubert, da autoria de Wilhelm Müller (Winterreise, a Viagem de Inverno original). Mais significativo é talvez pensarmos na estação como correspondendo à idade de Maria Filomena Mónica, que de alguma forma se despede dos leitores no final, refletindo sobre as possíveis últimas palavras que proferiria. As citações escolhidas, denotando igualmente forte sentido de humor, vão de “Nascer entre brutos, viver entre brutos e morrer entre brutos é triste”, de Rodrigo da Fonseca; “Vou fazer falta” de Fontes Pereira de Melo; ou “Isto dá vontade de a gente morrer”, de Alexandre Herculano. E chegamos ao Inverno mais significativo, e que preenche o maior número de páginas do livro, aquele que corresponde ao descontentamento da autora em relação ao nosso país, que afetuosamente critica com o rigor dos exemplos provenientes da investigação na área da sociologia, que desde cedo a alertaram para as grandes desigualdades da nossa sociedade. RG Relógio D’Água
Uma nuvem negra lança raios sobre uma mesa de escritório e ali, quase na penumbra, tudo é preto: a secretária, o módulo de gavetas, o candeeiro aceso, a cadeira giratória. Alguns objetos aparentam respirar, num movimento suave de ondulação que os torna quase vivos. O cenário parece agreste e, ao mesmo tempo, fofo e confortável – mas, para se ver a instalação de Ângela Rocha, instalada no palco do Pequeno Auditório da Culturgest, não basta olhar, é preciso sentir, tatear, apalpar, mexer e remexer.
Metade dos Minutos, que abre ao público a 30 de novembro, ficando patente até 5 de janeiro, descreve-se como um labirinto sensorial. A instalação foi criada pela cenógrafa para a Representação Oficial Portuguesa, comissariada pela Direção Geral das Artes, na Quadrienal de Praga 2023, uma das maiores mostras internacionais de artes plásticas do espetáculo. Concebida no pós-covid, procura recordar-nos o valor do toque, contrariando a ideia de perigo a ele associada durante a pandemia e combatendo também a sua ausência causada por relações cada vez mais digitais.
“Quis valorizar o conceito de estarmos presentes, aqui e agora. Nesta peça, temos de estar presentes para a sentir, não chega ver fotografias ou vídeos. É uma ideia de reconexão com o corpo, de tomada de consciência do corpo no espaço. Costumo evocar a imagem do jogo da mímica para dizer que qualquer dia todos os nossos gestos estão resumidos a um dedo a ligar e desligar, que isso será o código para tudo. E não pode ser. Quis enaltecer as mãos, a manualidade e o seu poder transformador”, afirma Ângela Rocha. Vem daí exatamente o nome com que batizou este trabalho, Metade dos Minutos, título do primeiro diário gráfico que fez na Escola António Arroio, usando recortes de jornais. “Foi a primeira vez que prestei mais atenção ao que faziam as minhas mãos e achei que fazia sentido voltar a essa ideia, reivindicando, pelo menos, metade dos minutos para estarmos presentes e ligados uns aos outros e à terra, e não ao wifi.”

“Visões raras de futuro” era o mote para as obras nessa 15.ª edição da Quadrienal de Praga e pedia-se, ainda, que se apresentassem ideias positivas. A cenógrafa de 36 anos, mais habituada a espetáculos de teatro, estreou-se na criação de uma instalação artística com a ideia de pôr de pé um labirinto que fosse imperativo de movimento e colocasse o visitante no centro da ação. “O espectador aqui tem de ser o protagonista”, sublinha. “Hoje, o público está num lugar de conforto e de distância e, nesta peça, queria que estivesse mais implicado, que se aproximasse e que se conduzisse a si próprio através de estímulos, mas decidindo por si. O lugar é potenciador e explorativo, para cada pessoa o ir descobrindo, conduzindo-se a si própria e escolhendo o caminho e a interação que quer fazer”.
Trabalhar para o deslumbre
Entremos, então, neste labirinto coberto de pelúcia cor de rosa. Lá dentro, esperam-nos caminhos apertados, como se estivéssemos numa espécie de lavagem automática forrada de fogo de artifício luminoso e chão espelhado. Imersos num ambiente sonoro criado por Miguel Raposa Lima, há caminhos que nos levam a portas, há um que nos leva a um beco sem saída onde nos espera um coração (quase) capaz de explodir. A ideia é tocarmos sem medos, encostarmo-nos por onde passamos, interagirmos com o que vamos encontrando, experimentarmos as diferentes texturas e ir descobrindo que nem sempre o que parece se confirma ser. “Gostaria de trabalhar para aqueles segundos de deslumbre, em que ainda não nos pomos a pensar sobre o que são as coisas nem a catalogar. Para mim, esses momentos são bolsas de oxigénio e acredito que estamos mesmo a precisar disso”, diz Ângela Rocha, que, numa lógica colaborativa, convidou os artistas plásticos Diogo Costa e Telma Pais de Faria para pensarem, cada um, numa das saídas do labirinto, concebendo obras para ali.

A instalação, que na Quadrienal de Praga ganhou o prémio do público, o PQ Kids, e já esteve em Évora, na Fundação Eugénio de Almeida, está agora no ambiente de trabalho da cenógrafa: um palco. No entanto, concebê-la foi um desafio, confessa. “Mas gosto de desafios e gostei deste formato em que o público tem acesso ao que faço sem a intermediação dos atores. É uma relação direta com o objeto. Sempre me atraiu a verdade dos materiais, que têm todos a sua força específica. O que me fascina é conseguir escolher o material certo para cada coisa”, acrescenta Ângela, que começou como assistente de cenografia e figurinos nos Artistas Unidos e trabalhou, como cenógrafa e figurinista, para encenadores como Cláudia Gaiolas, Guilherme Gomes, Gonçalo Waddington, João Pedro Mamede, Maria João Luís, Raquel Castro, Ricardo Neves-Neves, Tiago Guedes e Tiago Rodrigues, entre muitos outros. Em 2025, voltará a fazer uma instalação, encomenda de um teatro fora de Lisboa, mas não revela ainda mais pormenores.

Na Culturgest, Metade dos Minutos começa ainda antes de descermos ao Pequeno Auditório. À entrada, encontramos um objeto que nos lembra a bola de cristal de uma cartomante, mas que é uma daquelas máquinas de onde podemos tirar uma surpresa a troco de uma moeda de 50 cêntimos. Inspirada pelo tema da Quadrienal de Praga e querendo tornar a Representação de Portugal num gesto coletivo, a artista plástica convidou quem quisesse a deixar a sua “visão rara de futuro” numa biblioteca perto de si, de norte a sul do país.
Os contributos foram recolhidos e fazem parte desta segunda instalação dentro da instalação. Mirabolante, assim se chama, leva “a voz dessas pessoas” a quem queira tentar a sorte e comprar uma bola de plástico com recheio. Do seu interior, saem as mensagens deixadas para o futuro, que podem assumir várias feitios: confetis em forma de estrela, uma música que se ouve através de um qrcode (como The Future’s So Bright, dos Timbuk 3), um desenho, uma chave-surpresa de uma fechadura que não sabemos o que abrirá, sementes que alguém pode ou não plantar (partilhando a responsabilidade de um futuro comum), flores como o amor-perfeito, uma frase escrita num papel (“É preciso que todos deem as mãos o mais rapidamente possível para solucionar os problemas graves.”).
“O futuro quer-se plural e não de voz única”, acredita Ângela Rocha, “e o primeiro passo para construir algo é imaginá-lo”.
Em Vento Forte há um homem (António Simão) que retorna a casa. Como ele diz, durante o solilóquio inicial, “estive fora um tempo, andei a viajar e agora regressei”. No entanto, a casa à qual está de volta, aquela onde vivera com a mulher que ama e a filha, já não é a mesma casa. Estranho num tempo e num espaço que lhe provoca desconforto, o homem encontra a mulher (Andreia Bento) a partilhar o lar e, consequentemente, a sua intimidade com um jovem (Nuno Gonçalo Rodrigues). Durante esta ausência houve mudanças, com aquele desconhecido a ocupar o lugar que outrora fora o dele. Entre o estranhamento e a indignação, o desconcerto e a revolta, ao homem talvez reste apenas a morte.
Depois de há pouco mais de um ano ter dirigido José Raposo no poderoso monólogo Foi Assim, António Simão volta ao teatro do autor distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2023. Nesta peça para três atores onde parecem ressoar ecos homéricos do regresso de Ulisses a Ítaca, e que Jon Fosse subintitulou como “um poema cénico”, reencontram-se os temas primordiais do autor norueguês, os quais, como sublinha o encenador, têm à cabeça “o tempo como ilusão, o amor, o ciúme, a traição e um certo existencialismo à Camus e Sartre”.

Datado de 2021, Vento Forte (Sterk Vind, no original) marcou o regresso de Fosse à escrita dramatúrgica depois de uma década dedicada quase em exclusivo à prosa. “Amigo e cúmplice” de muitos anos dos Artistas Unidos – que, em 2000, ainda no espaço A Capital, o encenaram pela primeira vez em Portugal (a peça, também para três atores, Vai vir alguém, por Solveig Nordlund) – sempre confessou “ser muito mais intenso escrever teatro do que um romance”, lembra Simão. “Diz ele que há um sofrimento que é impossível distender no tempo, ao contrário do romance”, conta o ator e encenador.
Vento Forte revela-se sintomático de um autor que parece colocar toda essa “vertigem” do tempo na experiência do teatro, mais precisamente, do palco. Embora Fosse admita que só começou a escrever teatro porque lhe disseram que a sua escrita era suscetível de ser “teatral”, aqui encontra-se na perfeição aquela “espécie de música… poucas palavras, repetições, variações, silêncios”, que está sempre presente tanto nos seus romances como nas suas peças. Mas o Fosse “dramático” é hoje, como sublinha Simão, “um autor cada vez mais apurado” e, esta peça, com a sua cadência, o seu humor e o seu desconcerto, resulta desse estado gracioso de apuro.
Uma peça fora do tempo
Em Fosse há questões, muitas, porque “não é um teatro de respostas, mas sim um teatro de movimento, como água que corre num tempo que não existe”, enfatiza António Simão, antes de explicar o que mais o fascina neste teatro que desafia convenções narrativas e dimensões espácio-temporais. “Tudo parece conduzir-nos a um certo recolhimento, talvez devido às pausas, aos silêncios. Gosto particularmente disso em teatro. Daquele silêncio que é, muitas vezes, mais importante do que aquilo que se diz, sobretudo num mundo tão ruidoso como o de hoje.”
Ao não dar respostas, mas colocando muitas questões, como pode então o público decifrá-lo? António Simão considera que o teatro de Fosse é tal e qual aquele provérbio chinês que diz: “o importante não é chegar, é a viagem”. Por isso, não se pode ir ao Teatro Variedades, onde os Artistas Unidos estreiam esta nova incursão no teatro do autor, e pensar que, no final, se pode ter tudo decifrado e devidamente alinhavado na cabeça. O teatro de Fosse não funciona assim. “Há que contemplar e pensar, ou nem sequer pensar. Isso nem sequer é importante. Importa, isso sim, mudar de frequência, esquecer o telemóvel, quebrar a rotina, parar o tempo e contemplar. E viajar”, aconselha. Quem o conseguir, agradecerá certamente ter estado fora de tempo, pelo menos durante a hora em que decorre o espetáculo.
Com estreia agendada para 27 de novembro, esta nova produção marca o regresso ao centro de Lisboa dos Artistas Unidos, meses depois de terem sido forçados a abandonar o Teatro da Politécnica. Em cena, até 22 de dezembro, no recém-reaberto Teatro Variedades, ao Parque Mayer.
Nunca deixa de ir ver uma exposição ou um concerto por estar embrenhada nos ensaios de um espetáculo. É o que acontece por estes dias. A 5 de dezembro, Ana Tang estreia Uma peça para quem vive em tempo de extinção, projeto do Teatro Nacional D. Maria II que estará no Teatro do Bairro Alto até 8 de dezembro. O monólogo que interpreta, escrito por Miranda Rose Hall, foi encenado por Katie Mitchell e é agora reinterpretado em vários países por artistas diferentes. Em Portugal, Ana Tang partilha a recriação com Guilherme Gomes, numa encomenda do STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift), que reflete sobre o contributo do setor cultural para os desafios colocados pela emergência climática, testando soluções sustentáveis para a criação e a circulação internacional de espetáculos – todos os teatros parceiros desenvolvem reencenações da peça com recursos e equipas locais, sem a deslocação de pessoas ou objetos. Em cena, paira a pergunta “O que fazer diante do fim?” e a energia elétrica para a iluminação é gerada em palco, em tempo real, através de um engenho criado pelos alunos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Naked Spaces: Living is Round, de Trinh T. Minh-ha
25 novembro, 21h30
Cinemateca Portuguesa
É a primeira longa-metragem de Trinh T. Minh-ha, realizadora de origem vietnamita, que, acompanhando “três vozes femininas representativas de diferentes heranças culturais e modos de perceber o mundo”, desconecta intencionalmente som e imagem, para criar “uma experiência visual e auditiva verdadeiramente desorientadora e poética”. Assim se apresenta este filme que Ana Tang já pôs na agenda. “Não conheço a realizadora, mas quero muito conhecer, porque já me falaram muito bem dela”, justifica. “Além disso, adoro o Vietname, amei lá estar e gostava de voltar. Há seis anos que não vou à Ásia e sempre que vejo alguma referência, sinto saudades”, revela a atriz que nasceu e viveu em Macau até aos 8 anos. “Já sei que vou conseguir ir ver, mesmo sendo a última semana de ensaios antes da estreia. Ver coisas que não têm nada a ver com o que estou a fazer ajuda-me imenso, porque preciso de desligar. Gosto de ir ao encontro do trabalho artístico de outras pessoas e voltar aos ensaios e sentir que trago bagagem e coisas para dizer. Tenho visto imensos filmes durante a preparação deste espetáculo.”
Coro Alarido – Festival A(r)tivismo
29 novembro, às 19h
Avenidas – Um Teatro em Cada Bairro
Nascido em 2017, o Alarido – Coro Feminista e LGBT faz ativismo através da música, cantando sobretudo arranjos a cappella de canções pop. Ana Tang destaca este concerto, inserido no Festival A(r)tivismo, onde estarão dois dos cantores que integram também o coro de Uma peça para quem vive em tempo de extinção e que serão os elementos que, em cena, ativam o mecanismo produtor de energia elétrica.
Sound Preta
29 novembro, às 22h
Lisa
“É um espaço muito fixe com boa programação”, define Ana, falando da sala Lisa, na Rua das Gaivotas. “Tenho vários amigos músicos que são programados lá, tal como na ZDB 8 Marvila, a ramificação mais recente da Galeria Zé dos Bois, com programação musical semanal feita pelo Orlando Rodriguez, que é meu amigo e tem bom gosto”. Sobre Sound Preta, que nunca viu atuar, tem ouvido vários elogios e isso despertou-lhe a vontade de conhecer melhor esta dj que se movimenta por entre os beats de trap, grime e drill, funk brasileiro e sonoridades eletrónicas.

Mutual Benefits, de Diana Policarpo
Até 24 janeiro 2025
Galeria Rialto6
Ana Tang dá voz a um dos vídeos desta exposição onde Diana Policarpo apresenta vários trabalhos sobre um dos temas que tem explorado: os fungos. “Interessa-me bastante também porque são um dos componentes da medicina tradicional chinesa, o curso que acabei este ano”, diz a atriz. “A Diana é minha amiga e a Rialto6 é das galerias onde mais gosto de ir. As inaugurações são sempre grandes acontecimentos.”
Bardo Loop, de Gabriel Abrantes
Até 11 maio 2025
CAM – Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian
Obrigatório, aconselha Ana Tang, descobrir a instalação de Gabriel Abrantes inserida na exposição Linha de Maré, no novo CAM. Partindo do 25 de Abril de 1974 para chegar aos dias de hoje e refletindo sobre as revoluções em curso, sobretudo as relacionadas com o planeta, a mostra reúne 99 obras de pintura, desenho, vídeo, fotografia e escultura e apresenta este novo trabalho de Gabriel Abrantes, encomendado para este propósito. “Gosto muito do trabalho dele, sobretudo como artista visual”, nota a atriz que participou no último filme do realizador, A Semente do Mal. “Fui à sala ver a peça dele e depois não me apeteceu ver mais nada, senti-me abalroada, fui para o jardim, só estar. É raro ter estas experiências num museu, por isso, foi mesmo bom. Tem contornos de comentário político, mas é assumidamente pessoal, o que me agrada muito, considero corajoso. As pessoas que conheço também têm tido reações muito fortes.”
Livraria Greta
Rua Palmira, 66C – Anjos
“A Greta tem uma ótima seleção de livros de mulheres, pessoas não binárias e pessoas trans. É no meu bairro, por isso, passo lá muito. Como organiza imensos lançamentos, vale a pena estar atento à agenda desta livraria feminista”, afirma Ana Tang, acrescentando que tem frequentado também a livraria do CAM. Foi na Greta que comprou Episódios de Fantasia & Violência, de p. feijó, um dos livros que começará a ler depois de estrear o novo espetáculo. “Conheci-a no liceu Camões, onde andámos ao mesmo tempo. Não acompanhei de perto a sua evolução académica e existencial, mas reencontrei-a há pouco tempo”, conta sobre a escritora, investigadora e “militante da monstruosidade, enquanto teoria e práxis de lutas minoritárias”, que lançou este título no passado mês de agosto, onde fala “de um mundo violento para com o que não é binário ou, em geral, não encaixa na experiência masculina dominante”.
Não é o regresso a casa, mas já estará mais perto. Em 2025, com o edifício do Rossio ainda em obras de requalificação, o Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) pede o palco emprestado a outras salas de Lisboa. De fevereiro a dezembro, a programação regular faz-se entre o Teatro Variedades e os Jardins do Bombarda, passando também pelo Coliseu dos Recreios e o Mosteiro dos Jerónimos.
A Farsa de Inês Pereira, reescrita de Pedro Penim a partir de Gil Vicente, encabeça a cronologia de espetáculos fora de portas do TNDMII. Estreado no final de 2023 e distinguido recentemente pela SPA – Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor texto português representado, chega ao recém-inaugurado Teatro Variedades, no Parque Mayer, a 12 de fevereiro, e aí fica até 2 de março. Este “olhar cáustico sobre alguns alicerces da sociedade contemporânea, nomeadamente o trabalho, a sexualidade e a célula familiar” será o pontapé de saída para uma programação que tem como pensamento “a utopia, a transformação social e o desejo de mudança, numa sociedade marcada por conflitos e desigualdades” – as palavras são do encenador e diretor artístico do TNDMII, que recorda o filme suíço dos anos 1970 Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, dirigido por Alain Tanner e escrito em colaboração com o crítico de arte e romancista John Berger, uma obra que acompanha um grupo de personagens em busca constante por alternativas ao sistema vigente.
“Creio que evocar este filme é a forma mais justa de colocar neste editorial o que julgo ser a potência da programação do Teatro Nacional D. Maria II para 2025”, escreve no texto de apresentação. “Enquanto o futuro não chega, demoremo-nos no seu instigante ensaio”, reforça.
Nacional no Variedades e Bombarda
No Teatro Variedades estarão, também, criações de Patrícia Portela (Homens Hediondos, monólogo interpretado por Nuno Cardoso, a partir de David Foster Wallace, em maio), Odete (As mulheres que celebram as Tesmofórias, a partir de Aristófanes, em junho), Marco Mendonça (Reparations Baby!, em julho), Cristina Carvalhal (O Nariz de Cleópatra, pois claro!, a partir de Augusto Abelaira, em setembro) e Jorge Jácome (Cosmic Sans, uma obra em formato digital com elementos das artes performativas e das media arts, que se estreia online em junho e terá uma instalação física em setembro). O novo teatro do Parque Mayer foi também o escolhido para apresentar um espetáculo do FIMFA Lx25 – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, em maio.

Já a Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda (situados no recinto do antigo Hospital Miguel Bombarda), recebe mais de uma dezena de espetáculos ao longo do ano. Inês Vaz e Pedro Baptista estreiam, em março, Auto das Anfitriãs, a partir de Luís de Camões, no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento do poeta; Raquel Castro traz o seu As Castro a Lisboa, em maio; Sónia Baptista apresenta King Size, em junho; Ary Zara e Gaya de Medeiros mostram, em junho, a criação feita com a Bolsa Amélia Rey Colaço, Corre, bebé!; o Teatro Praga celebra 30 anos em julho; a companhia Hotel Europa volta a Luta Armada, em setembro; Rogério Nuno Costa estreia uma nova criação, em outubro; Maria Inês Marques leva ao palco As Secretárias, do coletivo norte-americano feminista The Five Lesbian Brothers, em outubro; e Ritó Natálio conduz-nos por Rito de Transição, em dezembro. Na programação dos Jardins do Bombarda haverá, também, espaço para a École des Maîtres, a BoCA – Bienal de Artes Contemporâneas e o Alkantara Festival.
Anos redondos
Há, ainda, dois destaques na programação anunciada pelo TNDMII: os espetáculos que acontecem no Coliseu dos Recreios e no Mosteiro dos Jerónimos. Na sala das Portas de Santo Antão, Pedro Penim repõe, de 24 a 26 de abril, Quis Saber Quem Sou, a peça estreada no Teatro São Luiz este ano e que voltará a Lisboa depois de um ano de digressão pelo país, assinalando agora os 51 anos da Revolução dos Cravos.

A outra grande empreitada será a sessão única de Os Lusíadas como nunca os ouviu, a 3 de maio, em que António Fonseca apresentará “a falação integral” de Os Lusíadas, agora nos Jerónimos e também inserido na celebração dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.
Paralelamente, continua a digressão fora de Lisboa, em mais de 30 teatros e municípios de todo o país, e continuam as apresentações internacionais, assim como os programas de participação, de pensamento e de formação. É pegar na agenda de 2025 e começar a assinalar os dias.
Que peso têm estes 20 anos de carreira?
Não associo os 20 anos a um marco importante. É uma referência cronológica, uma informação que fez sentido comunicar, principalmente para situar no espaço e no tempo aquilo que é a minha carreira e para explicar que este espetáculo vai ter um foco um bocadinho mais amplo do que se fosse apenas um concerto de apresentação de um disco. Sempre fui muito mais viciado no futuro do que no passado em termos de música e tento sempre celebrar o futuro. Sinto-me mais emocionado com aquilo que vem a seguir do que com o que acabou de passar. Mas, para mim, é muito bonito o exercício de viajar a 2004/2005, esses primeiros trabalhos que fiz com 1-Uik Project – o meu primeiro projeto que ganhou algum tipo de atenção mediática. É bom voltar um bocadinho atrás no tempo e perceber que tudo faz parte daquilo que sou hoje enquanto artista. No fundo, é fazer um certo zoom out e olhar para as coisas que estão para trás, mesmo com sonoridades diferentes – seja com música mais intensa ou mais suave, BPMs mais rápidos ou mais lentos – mas em que a narrativa foi mais ou menos sempre a mesma. Fico feliz por constatar essa consistência, por conseguir manter na música a minha postura inicial.
Mudarias alguma coisa se pudesses?
Há uma parte do trabalho que foi feito principalmente com Buraka Som Sistema a nível de toda a logística que envolve ter um projeto com expressão a nível mundial, seja em termos de trabalho do dia-a-dia ou de gerir equipas; um trabalho não tanto artístico, mas mais de backoffice e de direção. Olhando para trás, gostaria de não ter perdido tanto tempo com isso. Um projeto como Buraka Som Sistema, com a recetividade que teve na altura, se tivesse nascido em Londres ou em Paris, com certeza teria tido uma estrutura que nos iria permitir focar mais na arte e na construção musical. Um bocadinho menos tempo com esse lado mais técnico permitiria que me focasse mais no lado artístico. Mas, isso acabou até por trazer outras benesses e o nascimento da Enchufada (editora discográfica independente), que foi muito bonito e que acompanhou o projeto dos Buraka enquanto casa-mãe, escritório, editora, etc. Espero que outras gerações de artistas já consigam começar um bocadinho mais à frente através dos exemplos e desse trabalho que foi desenvolvido.
Como é que surgiu a paixão pela música eletrónica?
A paixão pela música eletrónica partiu muito da ideia de não existirem limites, de não existirem fronteiras, de não existir absolutamente nada. O ciclo eletrónico foi a minha primeira ferramenta, apesar de eu saber tocar guitarra e outros instrumentos. Sempre achei um bocadinho aborrecida a ideia de ficar demasiado preso a um instrumento, que é exatamente o oposto do que senti quando instalei o primeiro software de criação de produção no PC lá de casa. Foi mais uma sensação de que com isto tudo é possível… É muito mais importante saber produzir bem, mesmo que toque mal guitarra, porque vou conseguir pôr essa guitarra a soar bem, do que demorar seis anos a aperfeiçoar a guitarra de forma a soar bem. Sempre fui muito mais atrás dessa ideia de novas texturas musicais, de sonoridades diferentes. Sempre foi um bocadinho essa a minha fixação, muito mais do que uma relação com o género da música eletrónica em si. Era mais a produção eletrónica que me levava a criar. No fundo, o resultado podia ser hip-hop, ou podia ser música de dança, ou outro género, mas o que sempre me interessou foi a produção com máquinas e com software, com computadores…
Isso quer dizer que, para ti, a inspiração está um bocadinho em todo lado, não é?
Sim. Há muitos anos, na altura dos minidiscs (uma coisa que a Sony inventou a determinada altura e que dava para gravar com o microfone) gravava uma série de coisas e acabava por utilizar esses elementos nas músicas. Atualmente, já faço uma gestão um pouquinho diferente. Obviamente trabalho com músicos, consigo ter uma fonte sonora musical mais focada naquilo que é o meu objetivo final e naquilo que quero fazer, mas mesmo assim ainda brinco imenso. Consigo agarrar numa voz e transformá-la num instrumento que ninguém sabe identificar bem o que é: um sintetizador, uma harpa, um instrumento tradicional… O meu trabalho passa muito por aí. Acima de tudo, acho que a cidade de Lisboa sempre foi a minha grande inspiração. Não necessariamente a cidade com os seus limites geográficos e políticos, mas as pessoas que se encontram neste epicentro cultural de língua portuguesa.
Preferes ser livre e gerir o teu projeto a solo ou estar numa banda como os Buraka?
Tudo aquilo que meta um coletivo de cabeças pensantes vai sempre ser bastante diferente do que uma coisa onde haja apenas uma fonte de decisões, uma vontade, uma direção, etc. Acho que a junção de várias pessoas num grupo consegue criar milagres musicais, que se calhar não acontecem a solo. Foram dez anos muito intensos e muito bonitos com Buraka Som Sistema e, obviamente, sinto saudades, vontade de voltar a viver situações que aconteceram, viagens boas, etc. Desde que comecei, em 2013, a apresentar-me como Branko, também houve o lado de conseguir traçar um caminho em que há o controlo de todos os passos e de tentar ir numa direção musical que explora muito mais profundamente aquilo que quero dizer, a minha identidade. Muitas vezes este lado também tem momentos de solidão, principalmente enquanto DJ – atualmente não tanto porque neste momento ando na estrada com dois músicos que viajam comigo para os concertos -, mas até há pouco tempo apresentava-me como DJ produtor com um espetáculo audiovisual em que estava sozinho em palco (embora pudesse ter um ou outro colaborador vocal). Muitas vezes viajo para um sítio qualquer e estou ali meia hora antes, sentado sozinho no backstage a pensar “que decisões é que tomei na vida que me trouxeram até aqui? Isto não tem piada nenhuma”.
Que tipo de música é que consomes? Ouves muita música eletrónica ou géneros completamente diferentes?
Acima de tudo consumo música que me emocione, me excite, e que tenha coisas novas. Sou muito focado na tentativa de inovação, de agarrar nas ferramentas que existem e conseguir criar uma sonoridade nova ou criar uma equação sónica que vá dar um resultado um pouquinho diferente. Sou muito fã desses momentos e de artistas que consigam, de alguma forma, fazer esse tipo de inovação e abordagem na música. Acho que a música underground inglesa no geral é muito forte nesse sentido. Mesmo artistas que depois acabam por ser catapultados para a música pop – pensando em exemplos como James Blake ou Jorja Smith, a cena musical inglesa tem muito isso, sendo possível ser underground e depois ficar quase mainstream, mas manter essa conexão com o underground. Acho que isso é muito bonito. Se calhar acontece mais em Inglaterra do que nos Estados Unidos, que parece que quando a fronteira é passada, já não há volta a dar… Depois também ouço muita música de países de expressão portuguesa. Música brasileira, seja música de produção eletrónica, seja música acústica, folk, como os clássicos todos da música e dos cancioneiros de países de expressão portuguesa.

O teu último disco, Soma, que histórias é que conta? Tens a preocupação de que haja uma narrativa ou um conceito?
Não diria que os discos são 100% conceptuais ou que todas as peças encaixam para criar um formato final que eu tinha imaginado. Acho que o meu processo é um pouquinho mais orgânico, mas sem dúvida que nunca começo um disco sem ter uma visão da meta, daquilo que é a baliza onde quero que esse disco chegue. Este disco em concreto surgiu um bocadinho por saudades dessa ideia de criação comunitária. Há 15 anos, quando saía à noite no Bairro Alto, inevitavelmente ia falar com pessoas de vários projetos musicais que se cruzavam comigo. Não era necessário combinar com ninguém para nos encontrarmos e para falarmos sobre criar uma música ou um projeto juntos. Neste disco comecei por juntar uma série de músicos (que são, para mim, os que melhor definem o que é o som de Lisboa e que sempre dinamizaram e trouxeram tipos de sonoridades completamente diferentes) para uma jam session de três dias: João Gomes (de projetos icónicos como Cool Hipnoise ou Saceboys); Danilo Lopes (do projeto Fogo Fogo), ou Jéssica Pina (trompetista natural de Alcácer do Sal que tem uma perspetiva muito interessante entre a música urbana e o jazz). Nestes três dias de jam sessions, basicamente, improvisámos do início ao fim. No fundo, foi quase o forçar dessa criação comunitária de que eu sentia saudades, que aconteceu nos estúdios Namouche, em Benfica. A partir daí foi agarrar um pouco em toda essa soma e passar dessa versão improvisada para um formato que passou por procurar os vocalistas certos.
Como é que escolheste as vozes certas para essas músicas?
Quando começo a trabalhar num disco, tenho uma lista de vocalistas ideais com quem quero trabalhar. As razões são várias: às vezes são pessoas com quem já me cruzei e tive alguma conversa interessante que queria de alguma forma materializar numa canção, ou simplesmente artistas que ouvi nalguma plataforma digital, e de cujas vozes ou abordagem musical gostei. Mando mensagem e muitas vezes ninguém diz nada. Outras vezes acerta-se e até se consegue conectar com pessoas que também conhecem a nossa música e que estão interessadas em fazer alguma coisa e isso obviamente que é espetacular. É um processo meio orgânico de começar numa lista de nomes, perceber que vozes é que encaixam em cada tema que está feito a nível instrumental, ou que temas é que poderiam encaixar nessas pessoas e ir montando esse puzzle de forma orgânica deixando sempre um bocadinho de espaço para – e se calhar este é o lado principal – chegar ali aos 80% do disco para ainda olhar para trás e perceber o que falta, o que ainda é preciso ajustar, o que é que eu não tenho ou o que tenho a mais. Isso faz parte do processo criativo. É preciso saber fazer zoom out de vez em quando e ter um olhar crítico sobre se o disco está completo, se tem tudo aquilo que eu acho que deveria ter, se estou a tocar em todas as coordenadas musicais e geográficas, em todos esses pontos que acabam por ser importantes para definir um projeto meu.
E em relação à parte da letra como é que funciona?
Trabalho muito com sessões de estúdio: sento-me no estúdio com a pessoa e compomos. No caso deste disco, tendo em conta o processo criativo, quando me sentei no estúdio com alguns vocalistas tinha já os instrumentais um pouco avançados, então foi mais uma questão de ajustá-los um bocado e perceber se estavam de acordo com aquilo que as pessoas queriam ouvir. As letras são quase sempre escritas nessas sessões de estúdio, pelos que estão a cantar ou por outras pessoas que se juntem a nós para esse propósito. Acho mesmo muito importante haver essa partilha orgânica de me sentar com uma pessoa e de criar música com ela, de escrevermos e de trocarmos opiniões sobre o que está a acontecer (apesar de já ter feito músicas mandando ficheiros por e-mail). Essa troca é das coisas que mais me enriquece a nível criativo.
Produtor, compositor, DJ, visionário… Com qual destas palavras te identificas mais?
Sinto que cada vez mais a expressão DJ começa a entrar numa era em que já nem sei se é bom usar. Não que eu sinta que haja algo de errado, mas penso que acabou por ser uma arte a que o teste do tempo não foi muito favorável, especialmente porque entrámos numa versão em que a busca já não é tanto pela música em si ou pela ideia que havia que os DJs iam buscar músicas surpreendentes… Os DJs são mais usados para serem só uma figura que está a tocar as mesmas músicas que toda a gente quer ouvir. Diria que, de todas essas palavras, produtor musical é aquela com que mais me identifico. Se tiver de me apresentar a alguém numa conversa, digo que sou produtor musical, principalmente porque não sei ler música, não sei escrever uma pauta. Componho música com base naquilo que é o meu bom gosto. Ouço uma coisa, gosto, se faz sentido continuo, se não faz, deito fora e começo outra coisa. A minha composição é baseada nisso. Sinto sempre que sou um compositor um bocado a meio gás porque não tenho esse background. O beatmaker ou o produtor de música é uma pessoa que fica no estúdio muito tempo até que um som esteja suficientemente interessante para conseguir criar uma reação noutra pessoa. Acho que é esse o meu trabalho. A minha tarde ideal é com a cabeça no monitor a trabalhar em música e a produzir beats.
E nunca te cansas?
Não. Tu só consegues sentir que uma coisa é intensa quando tens uma quebra que depois te leva a uma coisa mais intensa, não é? A música tem sempre esta dinâmica. É preciso estar muito cheio para depois estar muito vazio, para depois estar muito cheio novamente, e eu acabo por viver a vida um bocadinho da mesma maneira e isso também é muito interessante. Isso também acaba por definir um bocadinho o meu processo criativo e a forma como acabo por abordar a música e a produção.
Este concerto vai ser mais uma espreitadela para o futuro do que propriamente um reviver do passado?
Vai haver um reviver do passado, mas também um ‘remixar’ do passado a acontecer em palco, paralelamente a uma perspetiva do futuro e do presente. Portanto, acho que vai ser um bocadinho de tudo.
E vais ter convidados?
Um concerto meu tem de ter sempre pessoas envolvidas. Isso tem sido uma constante desde 2004 até agora, e não era no Coliseu que ia mudar isso e fazer um concerto robótico só comigo em palco. Vou ter vários tipos de convidados e já anunciei o primeiro, a Teresa Salgueiro, que se vai juntar a mim para cantar pela primeira vez o tema que lançámos no Soma. Também vou ter convidados que vou anunciar e ainda outros que não vou anunciar. Portanto, vamos ter a sala cheia de música, talento e emoções. Vai ser um momento de Lisboa em palco – pelo menos aquilo que é a minha perspetiva da cidade. Acho que vai ser muito bonito orquestrar o momento com todas as pessoas e canções dos meus quatro discos, mais toda a discografia que está para trás.
Depois de atuar numa sala esgotada no concerto de apresentação do novo disco de Lena d’ Água, Tropical Glaciar, de que é o autor de todas as letras e músicas, Pedro da Silva Martins prepara-se para voltar ao Teatro São Luiz, no próximo dia 29 de novembro. Desta vez, irá com Cara de Espelho, a banda que o junta a Carlos Guerreiro, Luís J. Martins, Sérgio Nascimento e Maria Antónia Mendes. São também dele todas as palavras e composições do primeiro álbum do grupo, que saiu este ano e que tem temas orelhudos como Dr. Coisinho e Paraíso Fiscal. Outro projeto que o ocupa por esta altura é o espetáculo de Ainhoa Vidal, que será estreado em Lisboa, no início de 2025, no Centro Cultural de Belém (de 30 de janeiro a 2 de fevereiro). Em Aruna e a arte de bordar inícios, um teatro de sombras cantado por uma criança, sobre o que nos acontece depois de uma catástrofe, Pedro assina também a composição e as letras.
Podcast Histórias de Lisboa
Site SIC Notícias
Começou há menos de um mês e Pedro da Silva Martins não tem perdido um episódio. “Nas últimas semanas, tenho ouvido religiosamente.” Histórias de Lisboa, o podcast semanal do jornalista da SIC Miguel Franco de Andrade, tem convidado historiadores, arqueólogos e investigadores a partilharem histórias de uma Lisboa esquecida e já desaparecida. “Ajuda-nos a compreender e contextualizar a cidade que hoje conhecemos. É um trabalho notável de Miguel Franco de Andrade, que nos revela, por exemplo, a descoberta de uma casa pré-terramoto durante a instalação de um ecoponto no Rossio ou nos transporta ao antigo bairro do Mocambo, localizado onde hoje se encontra a Madragoa. Vale mesmo a pena ouvir!”

Documentário Por Ti, Portugal, Eu Juro!
Cinema City Alvalade, até dia 20, às 19h45
Estreou nas salas de cinema na semana passada, o documentário de Sofia de Palma Rodrigues e Diogo Cardoso, jornalistas da revista digital Divergente, feito a partir de uma investigação jornalística que relata a história dos Comandos Africanos da Guiné, uma tropa de elite que arriscou a vida e se viu abandonada depois da Guerra Colonial. “Mal tenha oportunidade, quero passar pelo Cinema City de Alvalade para assistir a este documentário, que aborda uma realidade muitas vezes esquecida da Guerra Colonial: os africanos que lutaram ao lado de Portugal e que, posteriormente, foram abandonados pelo país. Já li sobre o tema e estou bastante curioso”, diz.
Passeio por Monsanto
Todos os dias
Em Monsanto, é seguir aqueles que conhecem. Pedro dá as instruções: “Para quem, como eu, aprecia caminhar e aproveitar um belo dia de verão de São Martinho, recomendo um passeio que comece no bairro do Calhau, junto ao Palácio Fronteira (para quem não conhece, aconselho vivamente a visita guiada ao palácio). Daí, siga em direção ao Moinho das Três Cruzes e suba por um dos muitos trilhos até ao Forte de Monsanto, de onde poderá desfrutar de uma vista deslumbrante da nossa magnífica cidade. Pelo caminho, poderá descobrir algumas das pedreiras de onde se extraíram muitas das pedras da calçada lisboeta, hoje monumentos geológicos surpreendentes e desconhecidos para muitos lisboetas”.
Estádio Universitário com amigo de quatro patas
Todos os dias
Pedro da Silva Martins vive perto e escolhe este lugar para passeios com o cão. “Nada melhor do que um desvio pela Cidade Universitária ao fim de semana. É fácil encontrar estacionamento e há uma vasta área para explorar. Tanto no circuito do Estádio Universitário (entre o Hospital de Santa Maria e a Segunda Circular) como nos arredores: o Jardim do Campo Grande, a Azinhaga dos Barros (que conta com dois parques caninos) e, se ainda houver energia, uma descida até ao Parque Bensaúde, junto à Estrada da Luz”, indica. “Nestes espaços, conseguimos sentir um pouco de Lisboa onde ainda é possível caminhar, longe do caos do trânsito e da azáfama citadina.”
Foi nomeado diretor do Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva em fevereiro deste ano. Já trazia ideias sobre o que queria fazer?
Chego à direção através de um concurso e estou a fazer aquilo a que me propus na minha candidatura. Quando há oportunidades destas, que não são assim tão frequentes, os profissionais da área pensam se é uma coisa que lhes interessa ou não e o que podem ou não trazer de novo à instituição. Eu pensei muito. Este é um museu de que as pessoas gostam muito, de modo geral. Não conheço ninguém que não goste deste museu. No meu caso, era principalmente por ser um museu com uma escala pequena e que tem uma escala simbólica bastante ampla devido, sobretudo, à obra de Vieira da Silva, que é a artista mais mediática dos dois, mas também devido a esta relação entre dois grandes artistas.
É um museu que nasceu de uma história de amor.
Sim, uma história de amor entre artistas, o que não é raro… mas são sempre bonitas, não é? E entre dois artistas que tinham mundos solitários, mas que os foram entretecendo na sua relação. Fiz uma reflexão, comecei a pensar no que poderia fazer e depois instruí a candidatura e foi num crescendo. O museu é um dos poucos em Lisboa para se ver pintura, para se ver boa pintura. Quem diz pintura, diz desenho… E depois tem esta relação privilegiadíssima com a Praça das Amoreiras. Quando comecei a estudar a história do edifício e a procurar, não encontrei logo o ângulo de entrada que acabei por trazer, não ficou logo evidente – nem para mim, que já me interessava muito pelo tema da metamorfose e dos corpos que se transformam – este enfoque poético da importância da oralidade, da maneira como nos constituímos enquanto comunidade. Foi a partir desse estudo e dessa reflexão que surgiu o tema da metamorfose como uma evidência, surgindo quando olhei para a origem do edifício. E da origem do edifício fomos crescendo para outras questões, para a história do museu, que não conhecia em grande pormenor, para a história das exposições que aqui aconteceram…
Por isso, quis voltar à origem deste lugar, tanto nas alterações que foram feitas ao edifício como na exposição com que agora reabre?
Este limpar de camadas que aqui fizemos tem muito a ver com algo em que acredito: vemos melhor quando chegamos a um lugar que não é o lugar que habitamos há muito tempo. Pareceu-me evidente, por exemplo, que a fachada tinha de brilhar outra vez, por isso, voltámos ao amarelo, tirámos as telas e pusemos o nome em destaque. O museu tinha de ser devolvido à praça, ao jardim… Mas nada do que proponho é novidade. Este museu existe há 30 anos, tem uma história feita de grandes exposições e de muitos artistas incríveis, apenas achei que precisava de um novo olhar. O mote para voltar à origem foi o 30.º aniversário, com gestos muito simples e muito pragmáticos, muito funcionais, indo buscar coisas que já estavam escritas no projeto original. A cor do edifício, que tem a ver com a poética das cores dos edifícios em Lisboa, estava inscrita no projeto original. O nome na fachada é o bastante para as pessoas que já se encontram na praça serem conduzidas ao museu e serem convidadas a entrar. O museu abriu-se à luz. É literal, mas acho que resume bem o que aqui quisemos fazer. E Arpad e Vieira usaram a luz como uma das matérias principais, portanto, é conduzir essa luz para dentro do edifício. Abrimos as entradas de luz natural nas salas… e a luz conduz-nos também à alma do edifício e de Arpad e Vieira. E a única maneira de nos relacionarmos com estes dois seres que já não estão entre nós é pela luz, não é?
Parece que tudo se liga: a pintura de Vieira e Arpad, a sua história, este edifício que foi a Fábrica de Tecidos de Seda, este jardim…
Para mim, faz todo o sentido. Costumo dizer que é muito importante relacionarmo-nos com os artistas – sobretudo os artistas famosos que já desapareceram – pensando-os como jovens e pensando-os como pessoas não necessariamente alinhadas com as histórias que a História da Arte conta. É preciso haver uma certa insubmissão em relação ao que pensamos que já sabemos. Isso é um ponto de partida maravilhoso para se entrar no museu de novo: há coisas que não sei ou há coisas que me foram contadas que talvez não sejam exatamente assim ou, sendo exatamente assim, se calhar há uma dimensão escondida. Na Vieira há, de facto, uma dimensão escondida muito poderosa. Vejo-a como uma espécie de Aracne, uma espécie de feiticeira, muito poderosa. Uma mulher que tinha consciência da sua força, mas que não a mostrava necessariamente, e era tanto mais forte por causa disso. Zelou por muitas outras pessoas e por princípios de forma verdadeiramente inabalável, sem nunca gritar. Por isso, acho que o edifício também não deve gritar, deve estar lá com uma presença intensa, mas não gritante e deve olhar para estes artistas como jovens que foram – e que provavelmente se mantiveram – e olhar mesmo de outro ângulo. É o que queremos fazer. Queremos contar histórias e isso convoca sempre duas coisas que estão a desaparecer em muitos lugares, que é os dois lados: uma pessoa que fala e uma pessoa que ouve. O museu convoca uma ideia de escuta muito forte e isso liga-nos aos outros. Este exercício da escuta é algo que o museu propõe, seja em interação, seja por interposta pintura. É importante reencontrar a ideia de presença no museu, porque ela está muito desmaterializada. E não há melhor do que Vieira e Arpad e todos estes artistas que os acompanham nesta exposição, que é uma constelação… mais uma vez, a ideia de luz a ser importante aqui.
Além da luz, outra das ideias fortes desta exposição é a das texturas. Disse que essa materialidade nos museus é importante, porquê?
Sim, sabemos exatamente aquilo que nos faz falta, mas andamos em negação muitas vezes. A perceção de que as coisas têm uma textura parece-me fundamental. O material é muito importante para nos ligarmos à vida. Acredito que as realidades virtuais nos museus são desviantes e podem pôr em causa a apetência para apreciar uma pintura. O museu tem de ser político, não podemos ficar só no plano do estético. A exposição vai inaugurar numa altura que podia ser mais eufórica e um bocadinho depressiva, por causa deste momento político internacional, mas os museus, nunca esquecendo a sua dimensão fortemente enraizada na realidade, no quotidiano das pessoas, devem ser também universos de esperança e de reparação. Não quero parecer demasiado otimista, porque não sou, é o contrário do que sou, mas essa ideia de reparação através de um encontro connosco próprios pode ser muito intensa num museu. Os museus, atualmente, são dos lugares mais criticados, mais repensados e mais estigmatizados, mas continuam a existir, continuam a ter uma força muito grande e há que perguntar porquê – ou então, não perguntar porquê, mas continuar a vir aos museus. Dito isto, acho que o museu se tem de reinventar, os museus e este em particular, que é aquele de que nos ocupamos. Reinventar no sentido de não se deixarem adormecer, de não serem condescendentes para o público, de não acharem que o público sabe tudo, por um lado, e que o público não sabe nada, por outro, e de serem lugares, sobretudo, que propiciem encontros, lugares de abertura. Não é preciso muito mais. Esses encontros podem ser guiados ou não, mas a emancipação do espectador, como Jacques Rancière dizia, tem de ser feita confiando nele, dando a acessibilidade necessária. E a acessibilidade não é só ter elevadores ou ter entradas francas, a acessibilidade tem muito a ver com essa relação de confiança, não é?

É necessário repensar também na forma como se chamam as pessoas para o museu.
Sim, é um trabalho que estamos a fazer, de que os museus precisam. Se tiverem uma intensidade que as pessoas sintam que existe, elas vêm, claro, mas temos muito trabalho a fazer. Estamos a viver num contexto único em Lisboa, não me lembro de um contexto tão rico em termos museológicos, com diferentes instituições de várias escalas, umas mais formais, outras mais informais, com um conjunto de programadores que se estimam uns aos outros, que querem trabalhar em conjunto e que também oferecem uma concorrência grande. As pessoas têm de escolher, claro, mas penso que temos argumentos muito importantes: temos uma das artistas portuguesas com maior prestígio à escala internacional, temos uma história de amor para contar, temos neste ano de celebração uma nova programação com novos nexos, novas linguagens e esta praça – e não há outra como esta em Lisboa! – portanto, são argumentos muito bons para que as pessoas venham. Ainda há um último: eu faço apologia dos museus mais pequenos, não aqueles museus gigantescos que têm exposições a perder de vista. As pessoas podem vir e ter aqui uma relação muito intensa com as peças.
Será esse o mote para os próximos 30 anos?
O mote para os próximos 30 anos é fortalecer este museu, elevá-lo, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista das condições, a uma escala simétrica à escala simbólica e ao valor material que as obras de Vieira e Arpad têm. O museu tem de ser fortalecido e precisamos de colaboração para isso. Este é um museu que partiu de uma concertação de vontades muito poderosa, com várias instituições e pessoas. Começou por ser uma vontade de Vieira, que era humilde no início e depois foi crescendo com a ajuda de pessoas. Temos de provar que sabemos fazer e temos de honrar essa história, mas ao mesmo tempo temos de ser ambiciosos. Precisamos de ter a força de reivindicar e sermos dignos disso. Esse é o projeto para os próximos 30 anos.
Como é essa nova linguagem de que falou, mais próxima, menos formal?
Sim, a ideia aqui é contar histórias – não propriamente a História da Arte, mas outras: sobre este edifício, onde se aprendia o ofício da tecelagem, sobre as 331 amoreiras, um número poético porque estranho, que alimentavam todo o ecossistema dos têxteis… É desse ecossistema que queremos falar, da solidariedade entre as espécies vegetal, animal e humana. Acredito que, olhando para essas outras espécies, aprendemos sobre nós próprios. Vamos contar as histórias da História de Arte, queremos contar os intervalos da história, que são os intervalos dos pontos, da trama da História. Queremos contar uma história mais sensorial, mais humana, talvez… uma história que toque mais as pessoas, uma história que não está nos livros, é isso que queremos. O museu não é um livro de estudo, é outra coisa. Tem vários pontos de ancoragem que não são necessariamente feitos através da palavra ou do texto. Dito isto, este binómio têxtil-texto interessa-nos muito neste ano de programação, que também nos vai dar pistas sobre o que vamos fazer a seguir. Nesse sentido é uma exposição bastante experimental.
Falta-nos só falar da ideia de metamorfose que atravessa a exposição e que, como disse, sempre foi uma coisa que o fascinou.
Tenho trabalhado muito com a metamorfose, sempre me interessou a expansão da nossa perceção e a maneira como os sentidos de índices inferiores foram sempre relegados e reprimidos. O tema da metamorfose é intemporal. Há um momento na história do pensamento, que se situa na Grécia, em que há alguém que vem reprimir toda uma tradição sensorial materialista, a tradição pré-socrática – e é bastante injusto que os filósofos antes de Sócrates se chamem pré-socráticos – porque Sócrates e Platão vêm, de facto, censurar e estigmatizar essa abertura a outros sentidos e outras formas de perceção da realidade. Interessa-me muito que a visão não domine o nosso aparelho percetivo, porque a visão convoca uma nomeação e quando damos o nome a uma coisa, estamos a fixá-la numa forma. E só as coisas que têm forma é que podem ser nomeadas. A mim interessa-me o que não pode ser nomeado. Acredito que isto é também, de certa forma, estar acordado para o que está a acontecer hoje. Não me interessam muito os adjetivos, o woke, o wokismo, etc. Não, interessa-me perceber o que está a acontecer às pessoas e como é que os corpos mudados que Ovídio nos prometia se estão a realizar agora. Interessa-me fazer essa relação com os dias de hoje. No museu, queremos convocar também públicos jovens que talvez encontrem algumas respostas, que não têm, para o que lhes está a acontecer. Hoje não vemos uma árvore como víamos há alguns anos, já percebemos que são seres e que têm muito para nos ensinar. Também a relação que temos hoje com os animais é muito diferente. Temos de incorporar toda esta poética na nossa cultura, que é uma cultura cada vez mais alienada.
Anna Sant’Ana parece andar numa relação com Marilyn desde 2010. Nesse ano, a atriz brasileira interpretou “uma faceta” da sua congénere Leila Diniz, símbolo da emancipação feminina no Brasil durante os anos 1960 e 1970, que se identificava explicitamente com aquela que terá sido a estrela mais popular de Hollywood na década de 50 do século passado. Pouco tempo depois, a iconografia de Marilyn volta a cruzar-se com Anna, quando em palco veste a pele de uma mulher que partilha com o marido uma fantasia sexual que consiste em reproduzir a famosa cena do vestido esvoaçante de O pecado mora ao lado.
Estas aparentes “coincidências” motivaram a atriz a tentar saber mais sobre quem foi Marilyn Monroe. Um aturado trabalho de pesquisa preencheu a década seguinte, revelando a Anna facetas da lenda que desconhecia por completo. “Fui-me deparando com a mulher que havia por trás da imagem do ícone sexual. O outro lado do mito era, afinal, uma mulher como tantas outras, que tentava enfrentar seus momentos de depressão, sua baixa autoestima e a imensa solidão. Ela só queria mesmo ser amada. Tudo isso me fez identificar com Marilyn, perceber que partilhávamos muitas feridas, muitos traumas”, explica a atriz.

Ao longo do trabalho de pesquisa, para além dos filmes que interpretou e inspirou, das entrevistas que se podem encontrar na internet e de uma vasta bibliografia em torno de Marilyn, Anna destaca como essencial para aquilo que haveria de ser o espetáculo o livro de Keith Badman The Final Years of Marilyn Monroe. “Nessa biografia muito detalhada, [o autor] desmonta muitas mentiras que se contam sobre Marilyn, sobretudo sobre a relação dela com os Kennedy.” Esse livro acabou por ser muito importante na construção do “documento de umas 70 páginas onde resumi os 36 anos da vida muito preenchida de Marilyn”, afirma a atriz. Será esse “documento” que Anna acabará por entregar a Daniel Dias da Silva para ser transformado num texto dramatúrgico.
De Norma Jeane a Marilyn
Na sequência de uma passagem de Anna Sant’Ana por Lisboa, a encenadora portuguesa Ana Isabel Augusto entra no projeto ao dirigir a atriz numa leitura de parte do texto de Daniel Dias da Silva. “No fundo, a Anna queria experimentar colocar o texto em cena para ver no que dava e, sem qualquer tipo de compromisso, pediu-me que dirigisse a leitura”, conta.
Mesmo sem o texto terminado, a entrega de Anna à personagem e o esboço do trabalho de desenho de luz de Renato Machado faziam perceber que havia “um espetáculo a ganhar forma”. Embora o objetivo fosse fazê-lo no Brasil, o contributo de Ana Isabel Augusto foi tido por Anna como essencial. “Era a pessoa perfeita para conduzir o carrossel de emoções que vivo a fazer a Marilyn”, sublinha a atriz.
O espetáculo acompanha as derradeiras horas de Marilyn, entre álcool e barbitúricos, naquele que acabará por ser o seu leito de morte. Na mais profunda solidão, temendo o esquecimento, lutando contra todas as frustrações e abusos sofridos, a atriz revive episódios da sua vida, desde o tempo em que era apenas a incógnita Norma Jeane até se tornar Marilyn Monroe, a mais desejada das estrelas de Hollywood da década de 1950.
No dito “carrocel de emoções” que caracteriza Marilyn, por trás do espelho, Anna Sant’Anna desdobra-se entre os múltiplos papéis de Norma Jeane/Marilyn. Da criança abandonada e abusada à estrela em declínio, passando pelos papéis de dumb blonde com que conquistou as telas, ao mesmo tempo que a tornavam no símbolo sexual de uma América a antecipar a revolução sexual vindoura, na sua composição da lenda de Hollywood, Anna oferece não “a imagem da ‘loira burra’, mas a da mulher que lutou muito para sair desse estigma e ser vista como inteligente e como excelente atriz”.

Embora a imagem da sex symbol continue muito presente no imaginário de várias gerações, a Marilyn para lá do mito continua a ser um enigma por decifrar. Se, é certo, isso interessou a Anna Sant’Ana ao longo de tantos anos de pesquisa, a atriz não deixa de sublinhar a importância que ela teve na subversão de vários estereótipos sobre o papel da mulher, ao mesmo tempo que os estúdios lhe impunham outros. Algo bastante sublinhado no espetáculo é “a questão de, ao assumir a sua liberdade sexual, Marilyn ser extremamente objetificada” e vítima constante de relações abusivas, “como se essa liberdade sexual desse direito a ser usada e manipulada como um objeto pelos homens”.
Depois de dois anos de digressão por Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Brasília, e ter sido distinguido, em 2022, como melhor monólogo e melhor texto original nos Prémios Cenym, atribuídos pela Academia de Artes no Teatro do Brasil, o espetáculo sobe agora ao palco da Sala Estúdio do Teatro da Trindade, permanecendo em cena até 22 de dezembro, com récitas de quarta a domingo às 19 horas.
É entre os dois lados do rio Tejo que Vânia Doutel Vaz costuma passar os dias. No final deste mês, a bailarina e coreógrafa vai estar em residência na Casa da Dança, em Almada, e abre as portas ao público do Alkantara Festival, no dia 30, para partilhar o processo de criação de violetas, o seu primeiro espetáculo de grupo que será estreado na edição do próximo ano. Neste Portas Abertas, mostra um pouco daquela que descreve como “uma peça íntima de dança onde se existe e resiste num ambiente minimalista”. Escreve: “Aqui o corpo que dança é único e suficiente. violetas – que dispensa música, cenário ou luz – joga com a expectativa e com a perceção. Instalada na penumbra, cria universos múltiplos, de maleabilidade, complexidade e subjetividade. Propõe uma reflexão sobre o que projetamos e o que pressupomos”.
Lançamento de Pornland, de Gail Dines
11 novembro, 19h
Livraria Travessa
A jornalista e ativista brasileira Yasmin Morais apresenta em Lisboa a edição brasileira do livro Pornland, de Gail Dines, que fala do impacto da pornografia no fortalecimento de uma cultura que normaliza a misoginia e a exploração sexual, pela forma como trata e objetifica as mulheres. Para Vânia, será uma conversa a não perder. “Não conheço a escritora nem quem vai apresentar o livro, mas este é um tema muito atual e que me interessa”, nota, acrescentando que ultimamente tem lido bastante. “Penso que é a minha fase mais ativa de leitura, mas a maior parte dos livros que tenho escolhido são em inglês, por isso sugiro este que ainda não li. Além disso, adoro a livraria Travessa, encontro lá muitas traduções para português de livros que quero ler e chegam primeiro ao Brasil.”
Caminhanti é Caminho / Caminho di caminhante
12 novembro, 10h às 17h30
Culturgest
Este é um workshop em cuja preparação Vânia começou por estar envolvida, mas de que acabou por se afastar por incompatibilidade de agenda. Organizado pela UNA – União Negra das Artes, associação da qual faz parte, leva o subtítulo de Rotas de Cuidado na Prática das Artes Performativas em Portugal. “Tem como propósito a criação de um manual antirracista, que oriente as instituições no sentido de se evitarem situações constrangedoras de discriminação e interações desconfortáveis, usando a experiência de todas as pessoas. Mais do que um lugar acusatório, queremos que seja uma tentativa de diálogo, para aprendermos com todas as pessoas e para impactarmos todas as pessoas”, explica. Dirigido a profissionais das artes performativas, requer candidatura prévia.

Festival A(r)tivismo
Até 1 dezembro
Avenidas
No mês da Consciência Negra, celebrado em novembro, Vânia destaca a programação do Avenidas – Um Teatro em Cada Bairro, que organiza a segunda edição do Festival A(r)tivismo. Exposições, filmes e documentários, concertos, conversas e debates, oficinas, leituras, um mercado e um magusto compõem uma programação que se quer dedicada “ao ativismo representado nas várias formas de expressão artística”, na promoção da igualdade e diversidade e dos direitos humanos enquanto direitos fundamentais. “Uma programação cheia.”
Estamos No Ar, de Diogo Costa Amarante
Emília Perez, de Jacques Audiard
Já em cartaz / estreia 14 novembro
São dois os filmes aconselhados por Vânia, ainda mesmo de ver qualquer um deles – certo é que os trailers a convenceram. “Fiquei com muita vontade de ver ambos. Estamos No Ar começou por me chamar a atenção porque entra o Romeu Runa, meu amigo, e pareceu-me ‘meio Almodóvar’, com crises identitárias, de género e de sexualidade, meio absurdo, sobre a essência humana de estarmos mal mas arranjarmos sempre espaço para uma reflexão sobre o que é estar vivo”, descreve. Em relação ao musical Emília Perez, que deu que falar no Festival de Cinema de Cannes pela história de uma narcotraficante transsexual, a bailarina conta: “Quando vi as imagens, aquilo pareceu-me uma dança, parecia que todos os movimentos estavam coreografados. Fui ver a ficha artística e descobri que a coreografia é de um amigo meu, Damien Jalet. Vou querer muito ver. Pareceu-me hiper-realista e gosto disso”. A bailarina acrescenta ainda uma sugestão: ir vê-los ao Cinema Ideal, a sua sala favorita em Lisboa.
Roda de Samba do Coletivo Gira
15 novembro, 20h às 24h
Casa da Gira
É um dos programas habituais de Vânia: as noites de Roda de Samba do Coletivo Gira, formado por mulheres multi-instrumentistas brasileiras que vivem em Lisboa e lutam por uma maior representatividade feminina dentro do samba, resgatando os clássicos do género musical e dando-lhes um novo olhar. “Tem sido sempre muito bom. A coisa mais linda é estar toda a gente a cantar e estarmos ali a tentar apanhar a letra, é muito forte.” A noite de 15 de novembro tem como pessoa convidada Didi, dj e artista transdisciplinar, ativista em questões relacionadas com a negritude, as comunidades LGBTQI e os movimentos anti-racistas.
Passeios African Lisbon Tour e Bairro Árabe
Qualquer dia / todas as sextas-feiras
“Nunca fiz uma nem outra, mas tenho muita curiosidade”, diz Vânia. “A African Lisbon Tour é feita de tuk tuk, na Baixa, e tem como foco a história africana da cidade, contam-se coisas que não são faladas em lugar nenhum, nem nas escolas nem nos livros. Também a existência árabe neste território me interessa muito. Fiz uma caminhada semelhante no Porto, uma vez, e gostei de ver outras coisas que não as que encontramos nos livros.” Marcações prévias aqui e aqui.
Travessia de barco Lisboa – Almada
Todos os dias
“Como orgulhosa ‘margem sulense’ que sou, recomendo uma travessia no Cacilheiro para ver Lisboa deste lado. O catamaran tem uma janela muito longa em que se consegue ver a cidade e foi ali que descobri finalmente o sentido daquela frase de que diz ‘Lisboa a flutuar’. Nunca tinha visto essa imagem até andar de catamaran. Vê-se Lisboa inteira, parece um museu quase!”
paginations here





